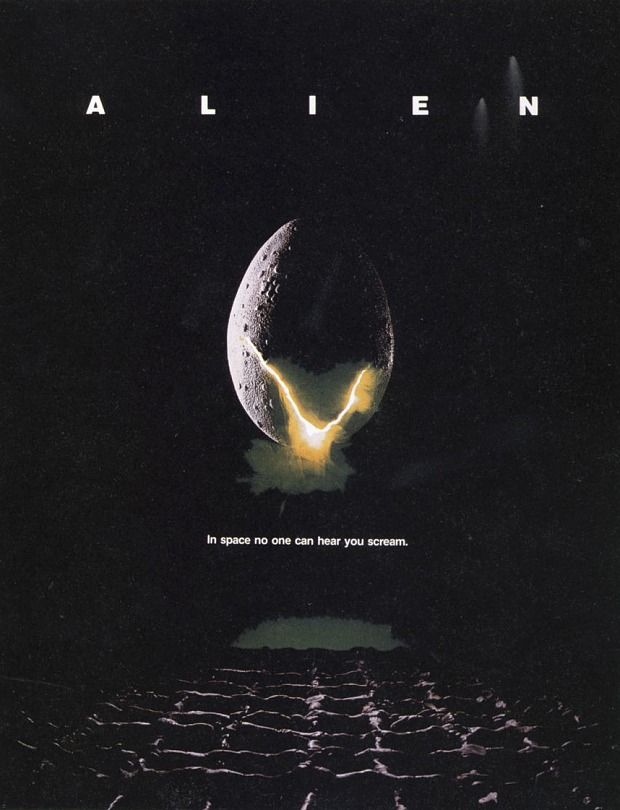Crítica | Os Caça-Fantasmas 2

Depois do sucesso do primeiro filme, o mundo clamava por uma continuação de Os Caça-Fantasmas. Durante certo tempo, Dan Aykroyd e Harold Ramis, protagonistas e roteiristas do original, resistiram às pressões, principalmente da Columbia Pictures. É compreensível a relutância da dupla, pois o primeiro filme possui uma trama bem fechada e se sustentava sozinha, sem deixar espaço para sequências. Entretanto, em 1989, não só Aykroyd e Ramis voltaram, mas todo o elenco principal composto por Bill Murray, Sigourney Weaver e Ernie Hudson, além do diretor do Ivan Reitman. Entretanto, o resultado da reunião não foi dos melhores.
O filme teve produção problemática desde o início, com roteiros sendo completamente reescritos devido a ideias consideradas não filmáveis. Além disso, havia problemas de agenda, pois os atores se consagraram ali e se tornaram figuras fáceis em produções nos anos subsequentes. Existiram conflitos criativos entre Ramis, Aykroyd e David Puttnam, então executivo da Columbia Pictures que odiava Bill Murray e pretendia fazer um Caça-Fantasmas 2 na marra. Enfim, o cenário não era nada positivo, mas a dupla de roteiristas finalmente conseguiu entregar um roteiro em 1988. A ideia era até interessante, explorar a força das emoções negativas, como elas agiriam junto ao sobrenatural e uma entidade que retiraria seus poderes dessa combinação, contudo a execução preguiçosa fez desse filme uma pálida imitação de seu antecessor.
Ainda que tenha passado por revisões ao longo dos anos onde muitos tentam convencer que o filme não é tão ruim como pintam, principalmente se comparado ao original, o fato é que Os Caça-Fantasmas 2 realmente não é bom. Logicamente que existem alguns bons momentos, a maioria deles protagonizados por Bill Murray, mas Rick Moranis e Peter MacNicol se destacam positivamente. Dan Aykroyd e Harold Ramis se apresentam bem, assim como Sigourney Weaver, enquanto Ernie Hudson fica esquecido durante boa parte do filme, o que é um pecado imperdoável.
O diretor Ivan Reitman até se mostra competente em algumas cenas de ação, principalmente no embate final com o vilão Vigo. Porém, mete os pés pelas mãos quando tenta fazer um humor mais voltado para toda a família, o que faz com que o sarcasmo presente no primeiro filme seja eliminado e ainda se embola ao trabalhar as alegorias e metáforas políticas inseridas no roteiro. Entretanto, acerta no trato que dá ao personagem de Murray, que apesar de não ter continuado seu relacionamento com Dana Barrett, papel de Sigourney Weaver, toma para si a tarefa de proteger o bebê Oscar mesmo ele não sendo seu filho biológico. A prova da maturidade do seu Peter Venkman vem quando ele deseja que ele fosse seu filho biológico e passa agir como alguém que pode ser um verdadeiro companheiro e também um pai. Já nas questões técnicas, os efeitos especiais são de primeira qualidade para a época, tanto os animatrônicos quanto os efeitos de computação gráfica.
Enfim, este segundo Caça-Fantasmas tem um saldo geral mais negativo que positivo. Porém, ainda tem alguns momentos de charme que merecem ser conferidos e é possível que seu clima família consiga cativar novos espectadores, principalmente do público mais jovem.