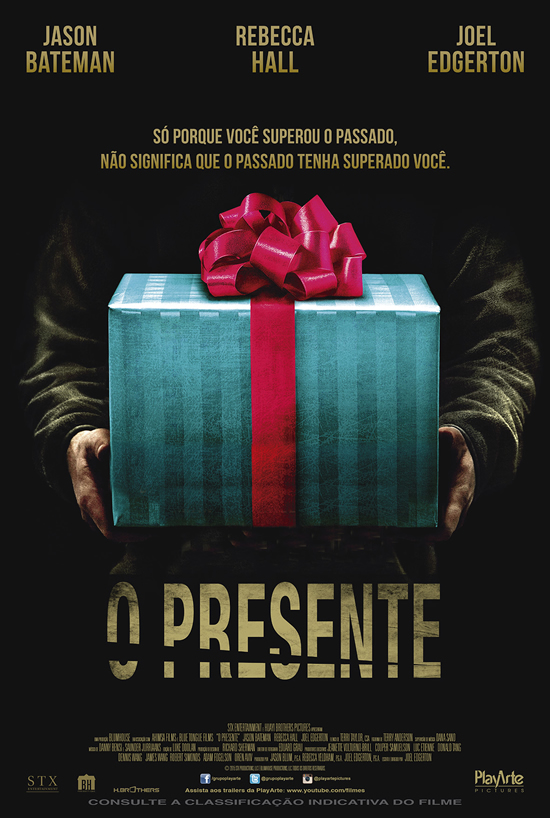Crítica | O Rei

David Michôd é um diretor de potencial grande, alguns anos atrás faz Rover: A Caçada e Reino Animal, e mais recentemente, fez um outro filme em parceria com a Netflix, Máquina de Guerra, uma comédia bélica de qualidade discutível. Finalmente chega ao streaming sua nova produção, O Rei, que conta a historia da transição da coroa para o rei Henrique V.
A gênese do filme mostra Hal, personagem de Timothée Chalamet, um jovem indolente que vê com maus olhos o fato de a coroa restar para si, uma vez que sua fama de promíscuo é bem justificada, já que ele gosta mesmo de curtir a vida ao invés de trabalhar para a coroa. O roteiro demonstra uma problemática relação com a geração anterior, onde o filho vive brigando com seu pai, Henrique IV, interpretado por Ben Mendelsohn, e nem a doença do seu progenitor o amolece, ou o faz ter apreço pelo trono.
De maneira lenta e gradual a trama se mostra cheia de ardis e armadilhas. As batalhas campais são inclementes e há um belo trabalho para tornar todos as justas no mais real possível. A reconstrução de cenários, figurinos e atmosfera da época é muito bem encaixada. Todo o visual favorece o drama e o caráter épico dos embates.
A inconsequência dos jovens cobra seu preço, esbarra na completa falta de noção dos moços em entrar em lutas desnecessários, onde nada além da vaidade justifica o fato delas ocorrerem. As disputas são acompanhadas de bravatas de guerra e discussões entre os reais e os subalternos, mostrando o quão conturbadas são as relações, e o quanto Hal não é visto como o monarca ideal até por seus soldados.
Michôd traz a luz um filme que destaca a morosidade dos combates desse século, sendo bastante o oposto do épico que normalmente se vê nas aventuras próximas da época da Era Medieval, que dirá as fantasias típicas. Não há nada ali próximo dos produtos comerciais como Coração Valente, Excalibur, a trilogia Senhor dos Anéis ou Gladiador, exceção é claro pelo elenco estelar, composto por Robert Pattinson, Joel Edgerton, Sean Harris, Tom Fisher Mendehlson, que estão para basicamente servir de escada para Chalamet. A maioria das performances são discretas, quase apagadas, mas em momento nenhum são desimportantes, há espaço para cada um expressar sua arte ao seu modo, com nuances e chances de parecerem insanos, entediados ou com qualquer outro estado de espírito possível.
Ao menos nas mortes de pessoas indefesas, o filme não se acovarda. Os golpes em crianças são secos, as cenas viscerais, causam impacto exatamente por parecerem de verdade, e não algo romantizado. Não há espaço na obra para misericórdia ou para relevar os horrores entre os povos ingleses e franceses. Próximo da meia hora final o longa se torna apoteótico, especialmente considerando que esta é uma obra que busca primar pelo realismo, ainda que não abra mão do gore. O Rei é um filme que dá muitas chances ao seu protagonista de brilhar, e que não trata o espectador como bobo, mesmo quando perde em ritmo há recompensas, com confrontos diretos, violentos e sujos, como de fato eram na época em que foram travados.
Facebook – Página e Grupo | Twitter| Instagram | Spotify.