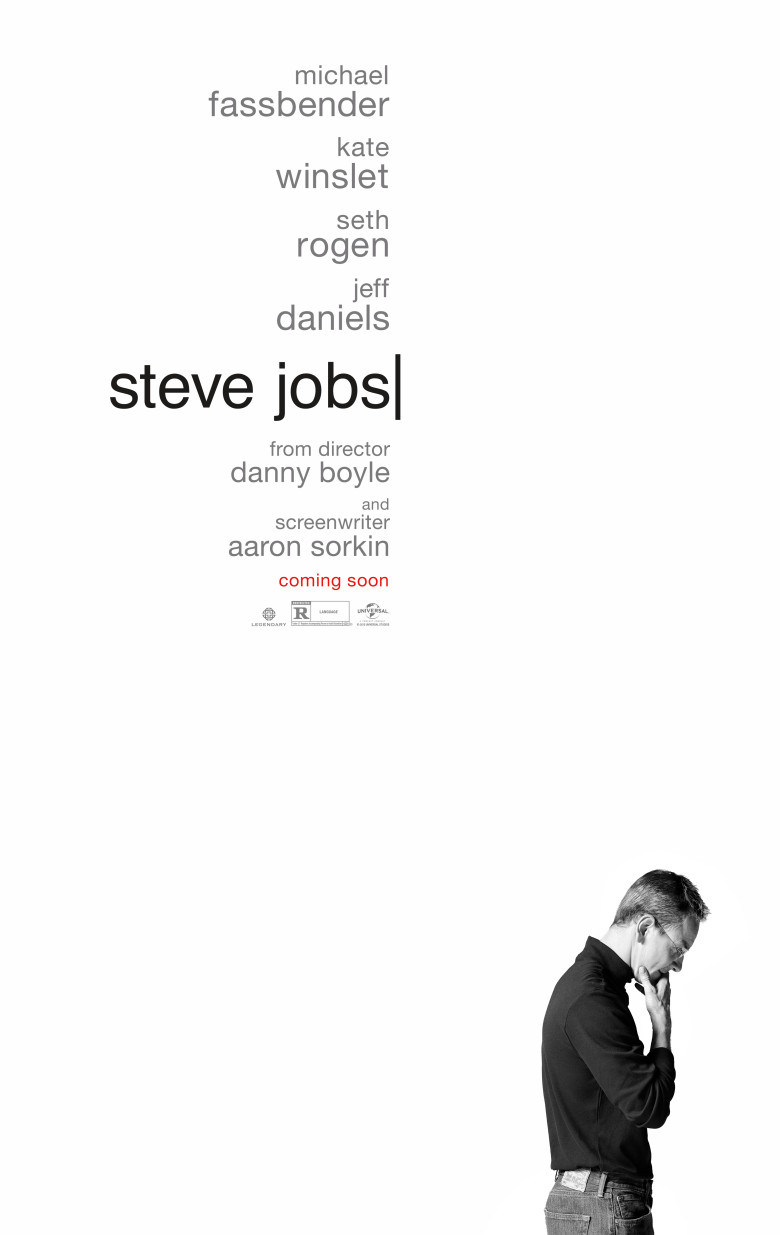Crítica | Yesterday

Fantasia de estilo dramático misturado com elementos de musicais, Yesterday é o novo filme de Danny Boyle, e foca na historia de Jack Malik (Himesh Patel), um musico fracassado que só tem o publico de Ellie (Lily James), sua paixão platônica (e agente musical) e mais dois amigos. Depois de muito tocar, para plateias cada vez menores, ele chega a conclusão que só um milagre o fará obter o sucesso. Um dia, um apagão pega toda o mundo de surpresa, e algo bizarro acontece. Nesse meio tempo, o herói da jornada é atropelado, perde alguns dentes e tem sua barba cortada, objeto esse que ele amava manter grande.
É bizarro como nessa historia viajandona, onde todos simplesmente perderam a maior banda de rock da historia de vista e lembrança ainda há muito pragmatismo e semelhanças visuais e de estilo com outros filme de Boyle. A saída de Jack do hospital lembra muito o visto em Extermínio, inclusive na condição de que o herói está isolado e bem diferente do resto do mundo, em uma condição de saúde mental bem distinta dos outros, já que ele continua recordando dos garotos de Liverpool e de outros tantos itens que sumiram, como Cigarro, Coca Cola e a banda Oasis.
Malik não tem muitas travas morais, ao mínimo sinal de que pode se aproveitar da situação ele vai e o faz. O roteiro de Richard Curtis é muito bem elaborado em torno desse espírito, de ser direto e de mostrar que mesmo um sujeito honesto, quando é tentado a se apropriar do que é de outro, o faz sem muito pensar. Além disso, a transição do homem que só toca em lugares e ambientes terríveis, onde o talento não é valorizado, para o sujeito que ganha oportunidades de desconhecidos também é ultra rápido.
O carisma dos personagens e a trilha sonora absurda fazem toda a mágica ocorrer facilmente. Patel e James brilham muito, juntos e quando estão sozinhos. Eles são divertidos, tem química e causam simpatia praticamente automática, mas lá pela metade da historia, o filme perde um pouco de sua força. O vigor vai se perdendo, o que é uma pena, pois esse ritmo cai quando o personagem principal está em turnê com as músicas clássicas. Quando se desenrola a gênese do amor dos dois protagonistas já é tarde demais, pois toda a química entre os dois vai pelo ralo quando tentam se tornar um casal, e para um filme baseado em romance, isso é algo que denigre e muito.
Talvez se pensasse mais em desenvolver os meandros das mudanças que ocorreram após o apagão e fosse menos focado no namorico que não evolui entre Ellie e Jack, o filme faria mais sentido. A discografia dos Beatles tem baladas de amor, mas não se resume a isso, e até a questão dele ser ou não uma farsa é subalterno, tudo para desenvolver só o semi namoro dos dois. Apesar de ambos personagens terem carisma, é pouco, para segurar um longa-metragem de grandes proporções e de orçamento não barato. O final evoca redenção, mas abre espaço para novas fraudes, mostrando um homem acima do bem e do mal que aparentemente não aprendeu sua lição, ao contrário. Yesterday ao menos é uma boa homenagem ao quarteto de Liverpool, uma reverencia tremenda ao trabalho de Paul, Ringo, George e John travestido de uma historia água com açúcar que acerta em alguns pontos em sua exploração de historinha de amor pura e simples.
Facebook – Página e Grupo | Twitter| Instagram | Spotify.