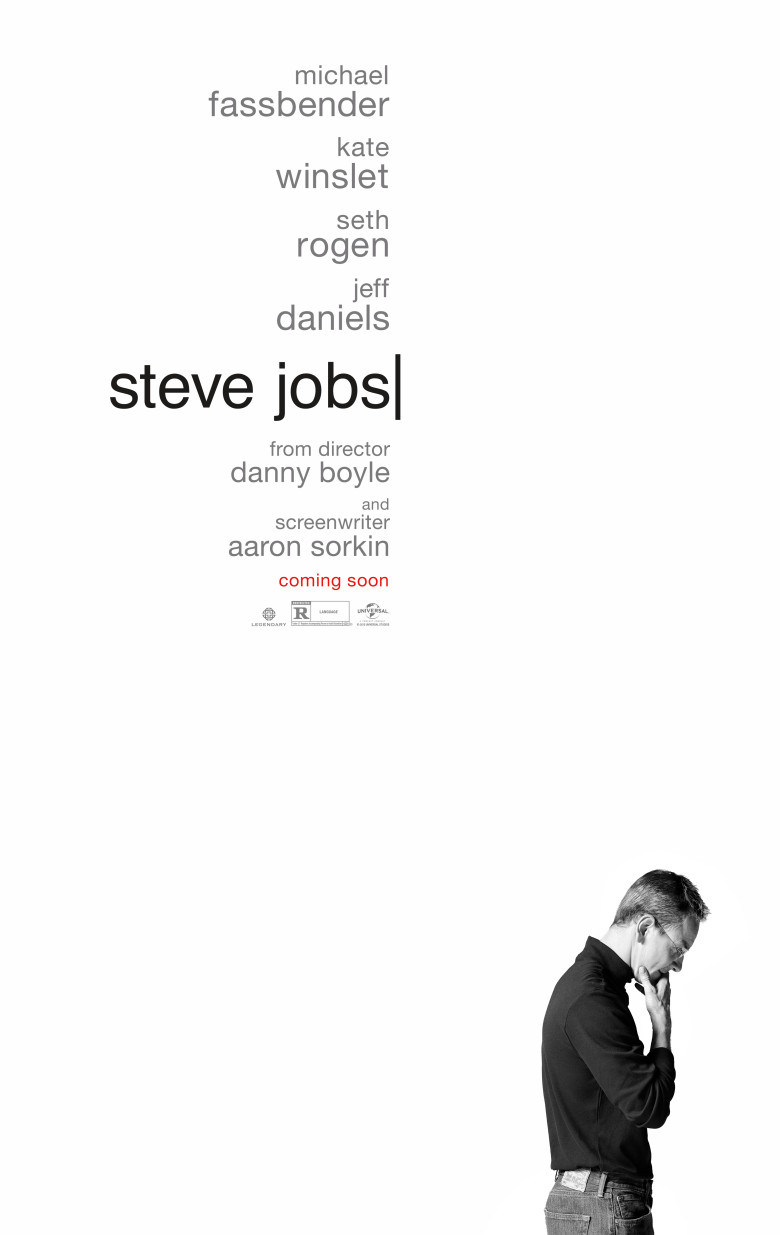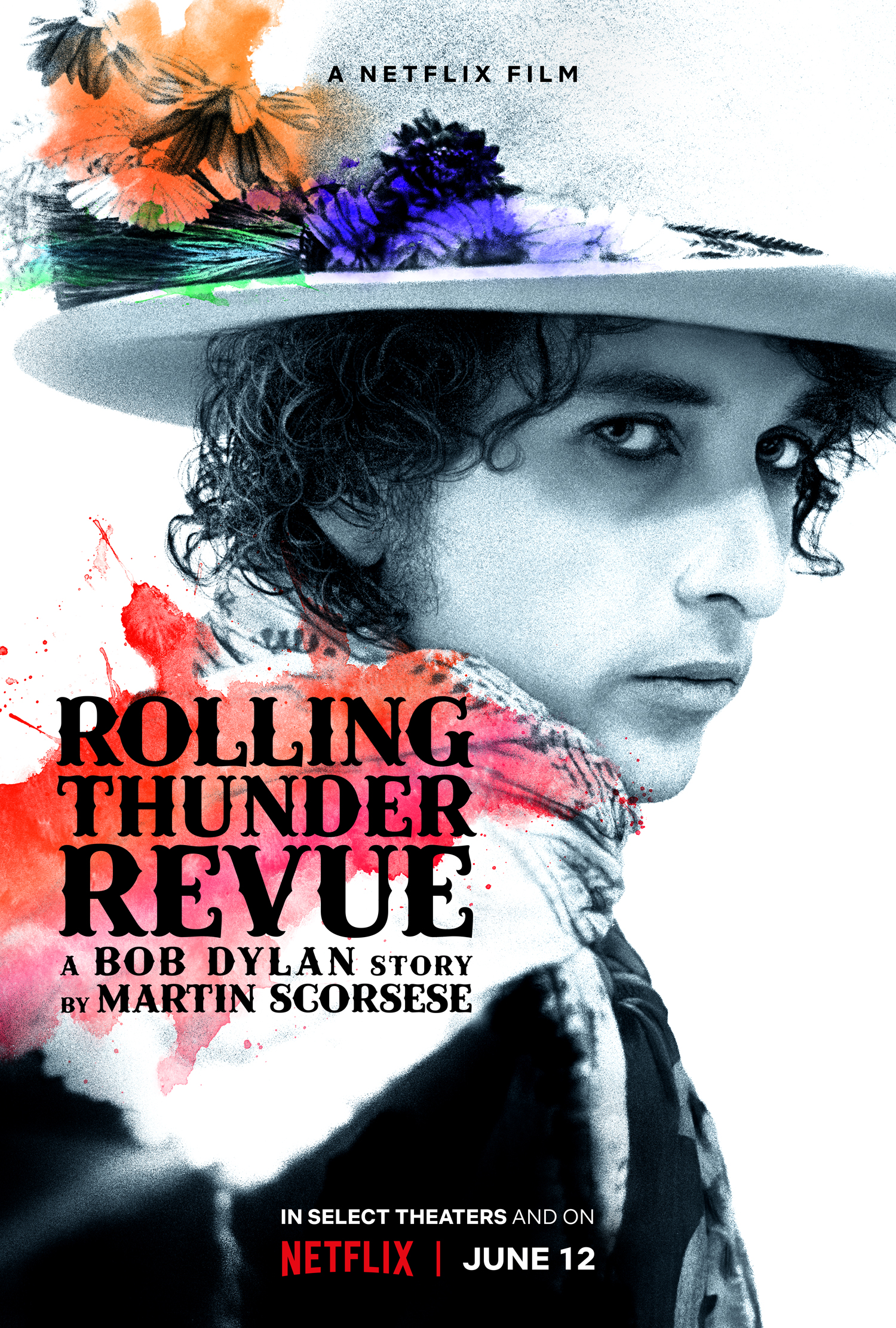
Crítica | Rolling Thunder Revue: Uma História de Bob Dylan
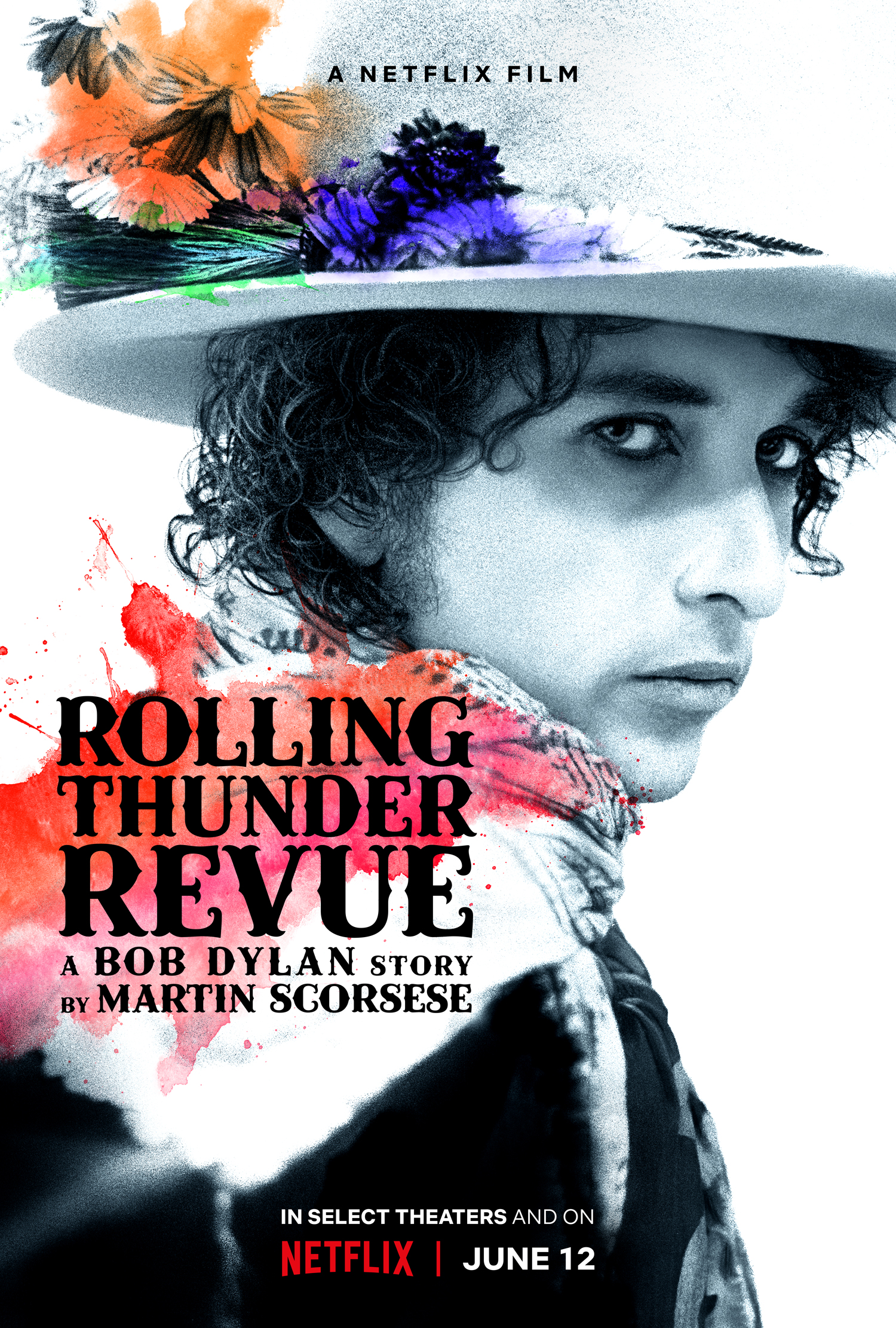
Os documentários de Martin Scorsese já fizeram história – sendo O Último Concerto de Rock o melhor deles. Fossem essas vastas pesquisas a respeito de cinema italiano e americano, sejam sobre grandes nomes da música como os Rolling Stones e a vida e obra de George Harrison, o guitarrista dos Beatles, Scorsese sempre manteve um interesse especial com uma figura, no mínimo, controversa e enigmática. Estamos falando do cantor e compositor mais premiado de todos, cuja fortíssima verve política nunca deixou de pulsar em suas letras épicas. Bob Dylan é um profeta, e canta como tal. A ser descoberto, ainda, pela geração pop dos anos 2000 que não liga muito para o rock, ou a poesia que pode ser usada para analisar e criticar a realidade de uma época (recurso este que rendeu a Dylan um inesperado Nobel de literatura, o único para um músico nos 118 anos do prêmio), fato é que o cara da guitarra e sua gaita inseparáveis já meditou sobre tudo e todos, como se o palco para ele fosse o livro para o escritor.
Agora está um pouco mais fácil entender porque Scorsese dedica a Dylan uma atenção mais especial, que para outros. A arte e a pessoa de Bob Dylan atraem como só, e os filmes de Scorsese vibram de uma forma muito parecida com as verdades e a genialidade das letras do autor de Blonde on Blonde, ou o soberbo álbum Highway 61 Revisited. Aos que nunca ouviram ambas as obras, fica o dever da lição de casa, pois nela está o motivo real do cineasta de Touro Indomável e Taxi Driver se interessar tanto pelo baixinho com voz de cantor sertanejo. É porque o que saiu da sua boca teve um valor que serviu para parar uma nação inteira, e o ouvir, e questionar um contexto histórico que vai além: Bob Dylan refletiu sobre o status quo norte-americano num momento culturalmente caótico em que apenas um grande orador poderia decifrá-lo, e se fazer entender. Enquanto os EUA estavam de ressaca da Segunda Guerra Mundial, invadiam o Vietnã e dançavam no festival de Woodstock, Dylan olhava para a loucura e a inquietação generalizadas e compreendia tudo, em inesquecíveis palavras de reflexão.
É justamente nessa época que acontece a turnê Rolling Thunder Revue, em 1975, quando Dylan já era famoso o suficiente para convidar vários músicos da cena folk a viajar pelos Estados Unidos, revisitando a realidade das coisas com muita liberdade e um espírito itinerante de pé na estrada, vamos cantar!. Numa das entrevistas do documentário de 2019, o próprio cantor admite que não lembra mais nada dessa turnê, nem o porquê dela chamar assim, e aparenta não dar a mínima para qualquer coisa relacionada a ela – o momento é hilário que mostra o quanto Dylan é desprendido do passado, por mais glorioso que ele seja, e para ele tenha sido, mas não é mais. Scorsese reúne várias belas imagens de shows com grandes estrelas do momento, em especial a belíssima companheira inseparável do homem, Joan Baez (provavelmente a cantora que dividiu o palco com Dylan que melhor entendia sua mentalidade), cantando palavras mágicas como se proferir esses feitiços musicais, e irradiar seu encanto, fosse sua obrigação na Terra.
A bem da verdade, falar do impacto de No Direction Home, o primeiro e espetacular retrato de Scorsese a respeito da lendária figura do cara estranho que nunca perdoou perguntas idiotas de jornalistas, e sempre ousou questionar a realidade vigente no mundo ocidental do século XX, é ser injusto com as propriedades desse Rolling Thunder Revue. Ao focar na turnê para falar do cantor, o documentário mais recente perde muito de sua força por mais lindas que sejam algumas cenas – e são, de fato. Se antes falava-se do cantor, sua importância histórica e o peso de sua obra no mundo das artes, indo fundo no DNA dylanesco e na razão dele e das suas letras nunca serem esquecidos até o fim dos tempos, aqui Scorsese nos faz olhar para um encantador e libertador período de 1975, mas que, vez ou outra, parece confuso e longo demais para nos fazer ter a certeza de que isso vale a pena ser lembrado. O poder aqui então parece estar mais nas imagens, do que no significado delas, em mais de duas horas de material restaurado. Eis uma obra que não vai muito longe, mais para a curiosidade dos fãs de Bob Dylan, sendo que No Direction Home é de longe o melhor guia para começar a entender esse gênio que ninguém viu sair da lâmpada mágica, até porque ele nunca se deixaria prender a alguma coisa – exceto a música. Mas ai é uma questão de alma, são outros quinhentos.