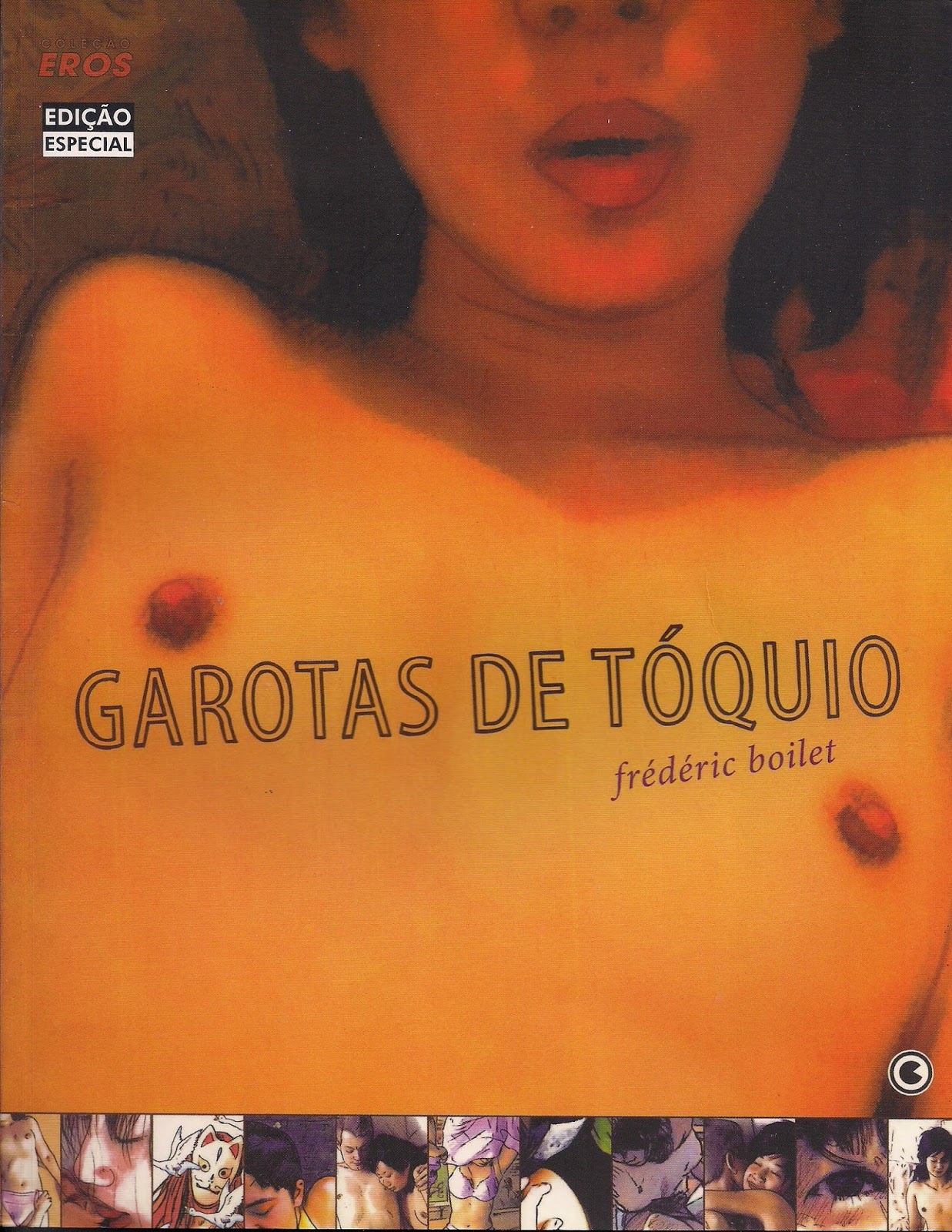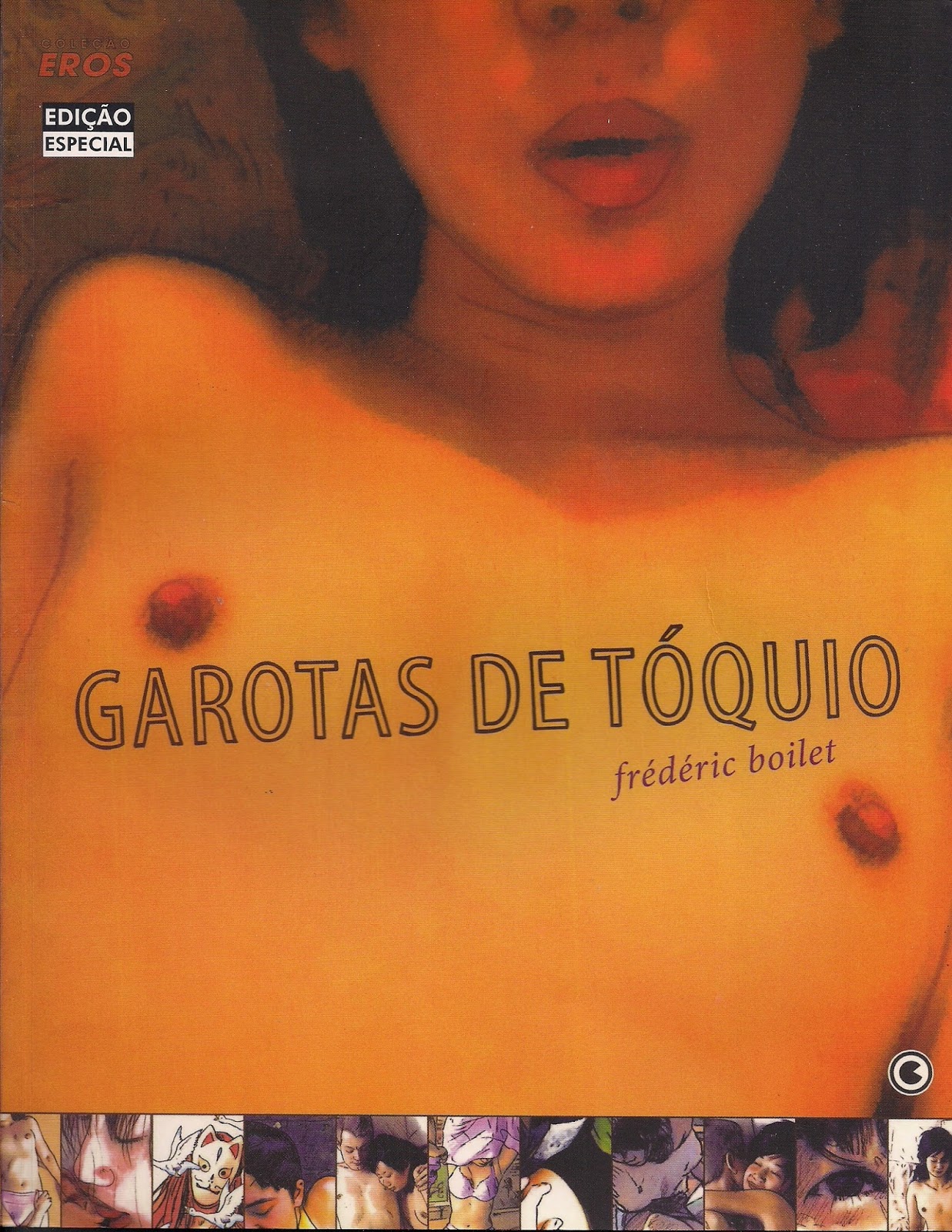Crítica | O Cheiro da Gente

Larry Clark acredita mais na minha geração do que eu mesmo. Kids e o Cheiro da Gente não só têm a ver com quem está na faixa dos 20 anos, mas também com a molecada que os anos 70 produziu até hoje, desde muito antes das redes sociais, quando o Facebook ficava nas garagens e nos porões cheios de música e gente que fazia mais do que mostrava. Clark filma a juventude que muda de visual mas segue a mesma, sempre em busca ou vivendo as liberdades que aos poucos a vida foi tirando de nossos pais e avós, mas mais do que isso: Clark, tal como Richard Linklater e John Hughes, não se interessa pela transição do tempo de uma sociedade oprimida e opressora, mas prefere focar sua lente na era pós-Woodstock, quando já começamos a poder ser o que sempre fomos: Livres, como Joan Crawford, que já tentava fazer seu intolerante marido entender, em Possuída, de 1931. Filmes que resumem uma época.
Três amigos corriam à vontade por um museu, no auge da nouvelle vague de Jean-Luc Godard. Um tipo de Cinema sociopolítico, mais por inevitabilidade que proposital, é bem verdade, mas que sobrevive e pulsa forte, tangente à expressão por si só, em cada nível de interpretação que o cinema independente europeu ou mundial já se submeteu. Agora, é tanta maconha, sexo confundido com amor, amor com paixão, impulso, instinto, nuances de Cláudio de Assis e fogo puro que fica difícil não se atrair por O Cheiro da Gente, infestado de um aroma jovial de quem enxerga e admira, no escuro, o brilho do suor de quem vive rápido e morre jovem! Filme de representação bem-sucedido por não caber em rótulos, tipo os recentes Tangerine e Bande de Filles, saladas contemporâneas isentas de explicação ou gênero – mas que ousam ser cinema de qualidade e abrangência inquestionável.
Para Clark, então, a liberdade é um triunfo sobre os fantasmas do passado que ninguém ainda sabe usar direito, o que pode gerar a tal libertinagem, ou seja, o excesso de ousadia. Quando um mendigo numa pista de skate vira obstáculo para os moleques ultrapassarem, nota-se a indiferença do indiferente, como Luis Buñuel soube tão bem interpretar no clássico Os Esquecidos, à medida que um indigente é agredido num México desigual por um bando de rebeldes sem causa. Essa rebeldia fruto do tudo-ou-nada é a matéria-prima para um cinema tão vivo quanto a sociedade que observa; curioso, que pulsa através de uma arte também revolucionária por essência. Cinema também é primavera, nem sempre precisa de camisinha – ou se importar onde suas flechas acertam. O proibido é proibir nas relações das quais fazemos parte e nos fazem ser quem somos – David Bowie sabia disso e ajudou o mundo a reconhecer o fato.
Cada vez menos existem “filmes de excluídos”, mas sim “filmes de pessoas”. O tempo moldou essas “obrigações” da arte. E nessa onda, em que só o que é honesto é mostrado, o falso é ignorado e só quem goza a vida tem valor. São filmes que acabam por ser veículos que prestam serviço às novas revoluções ideológicas, racistas e sexuais do presente, pequenas jóias nas quais Bob Dylan e Clark aparecem do nada para nos lembrar de que continuam vivos, sim, vagando relevantes por aí, e tais os verdadeiros ídolos deste mundo, se tornaram incapazes de desaparecer por completo. Porque, no fim das contas, é a importância da liberdade de expressão que explica o porquê de O Cheiro da Gente ser indispensável.