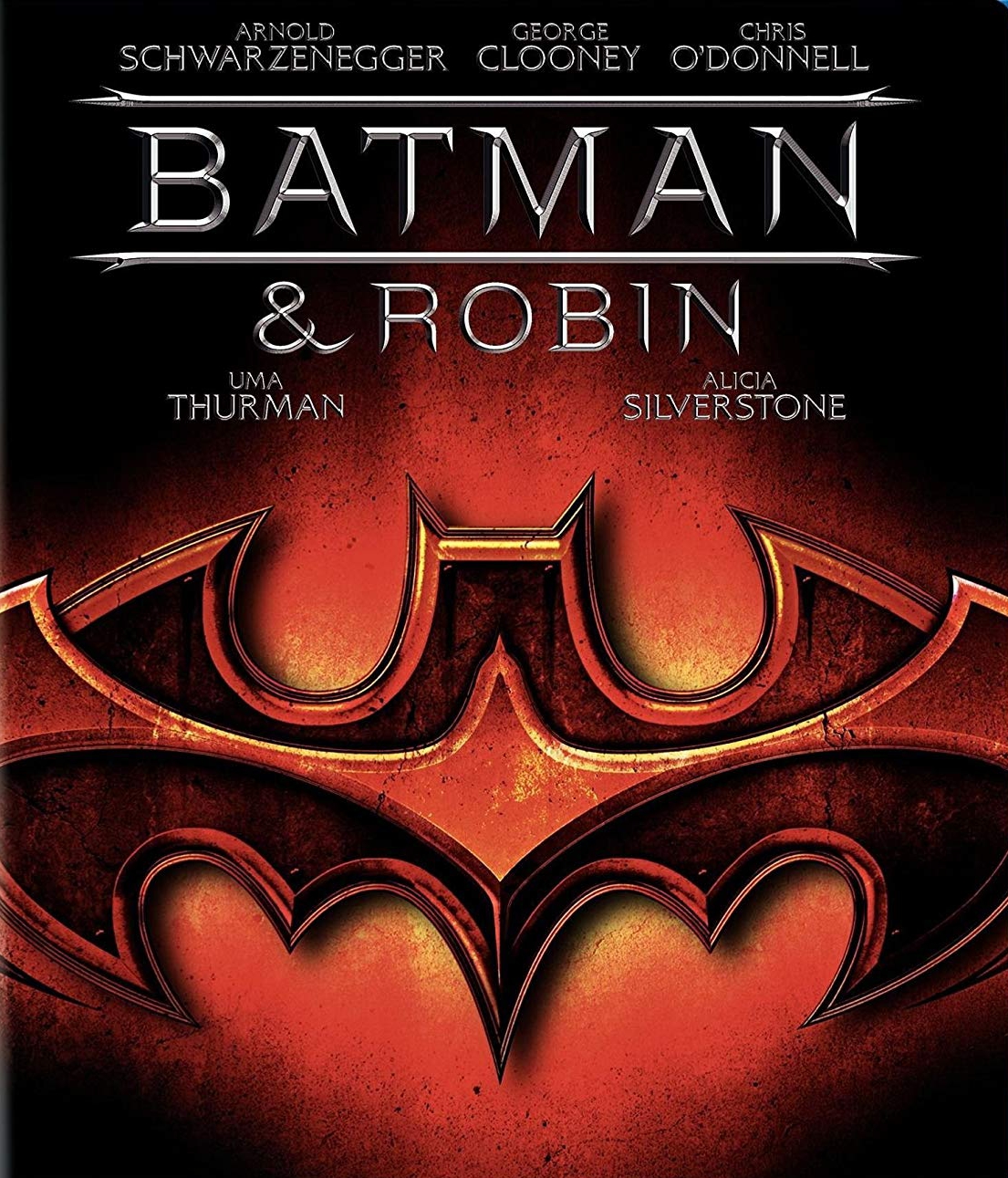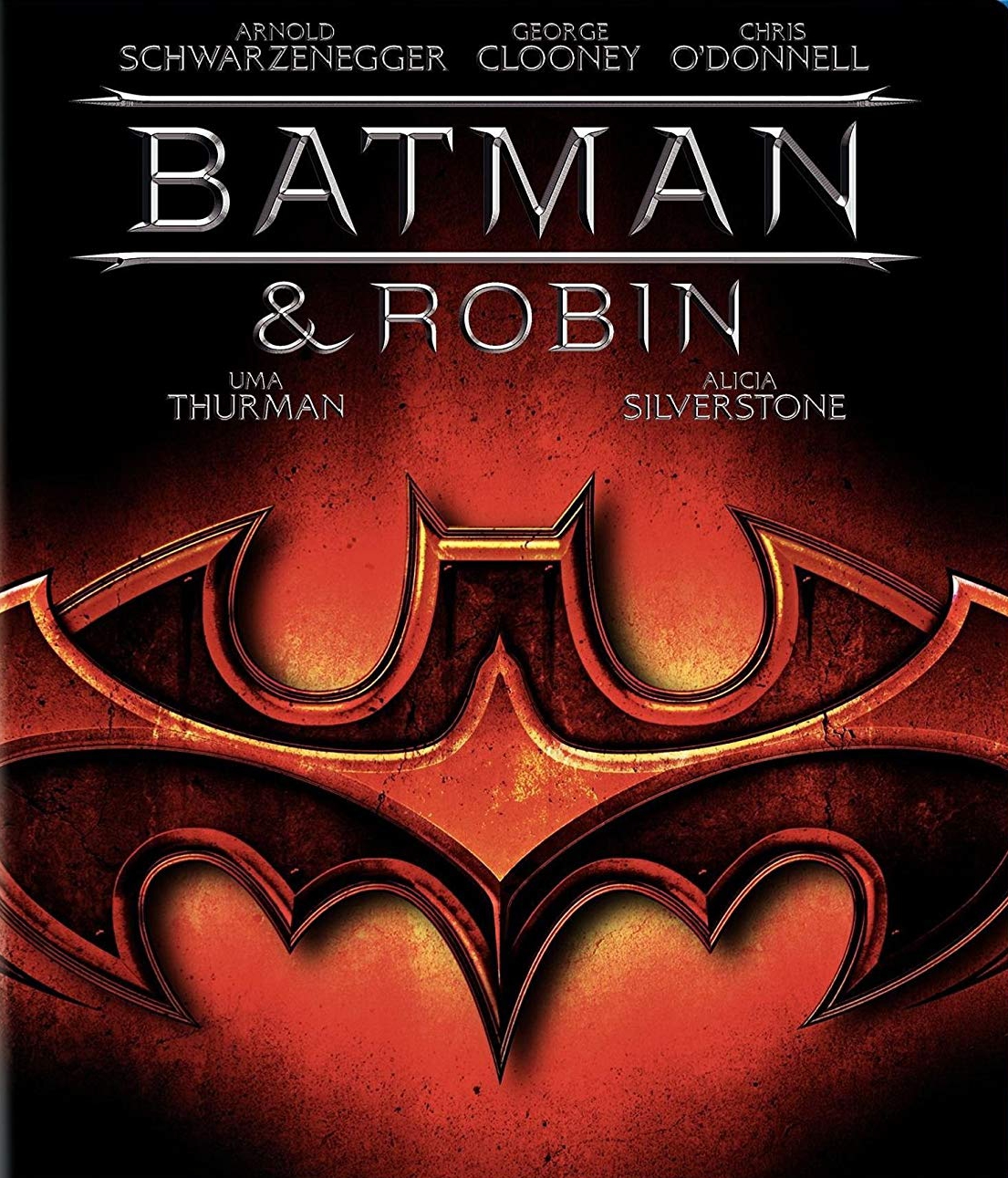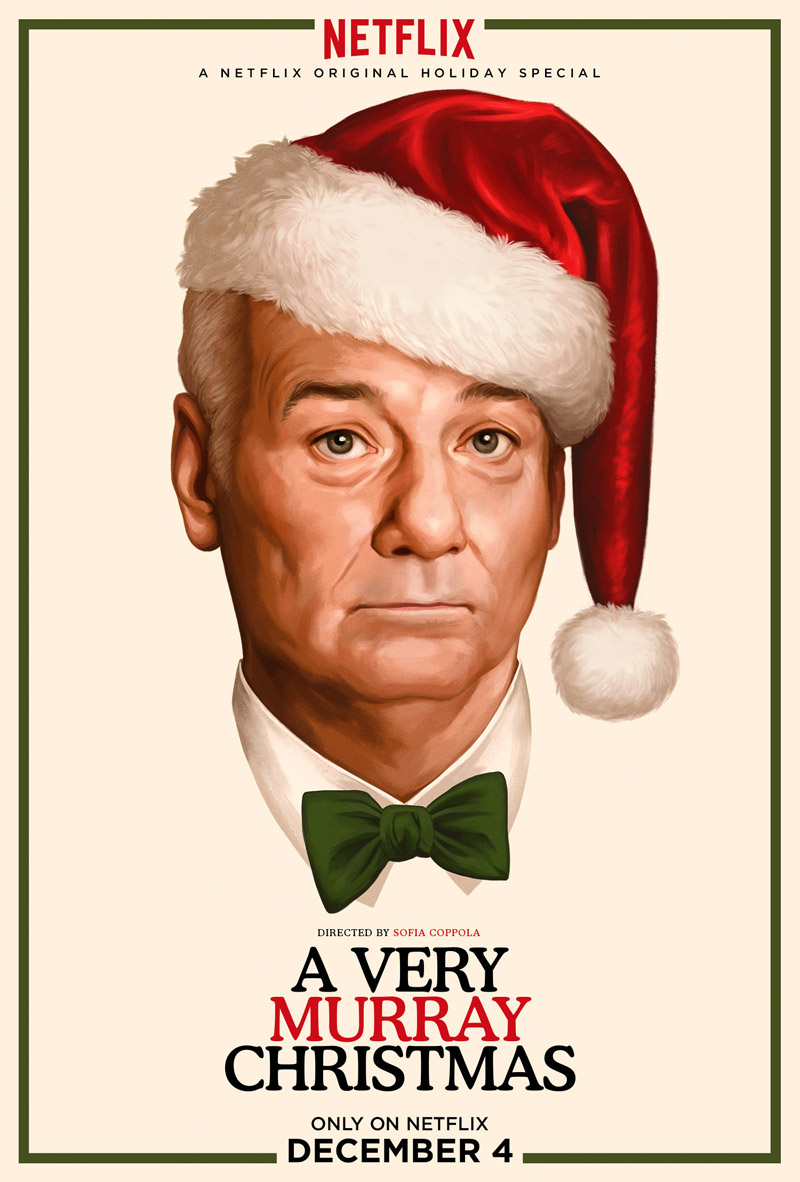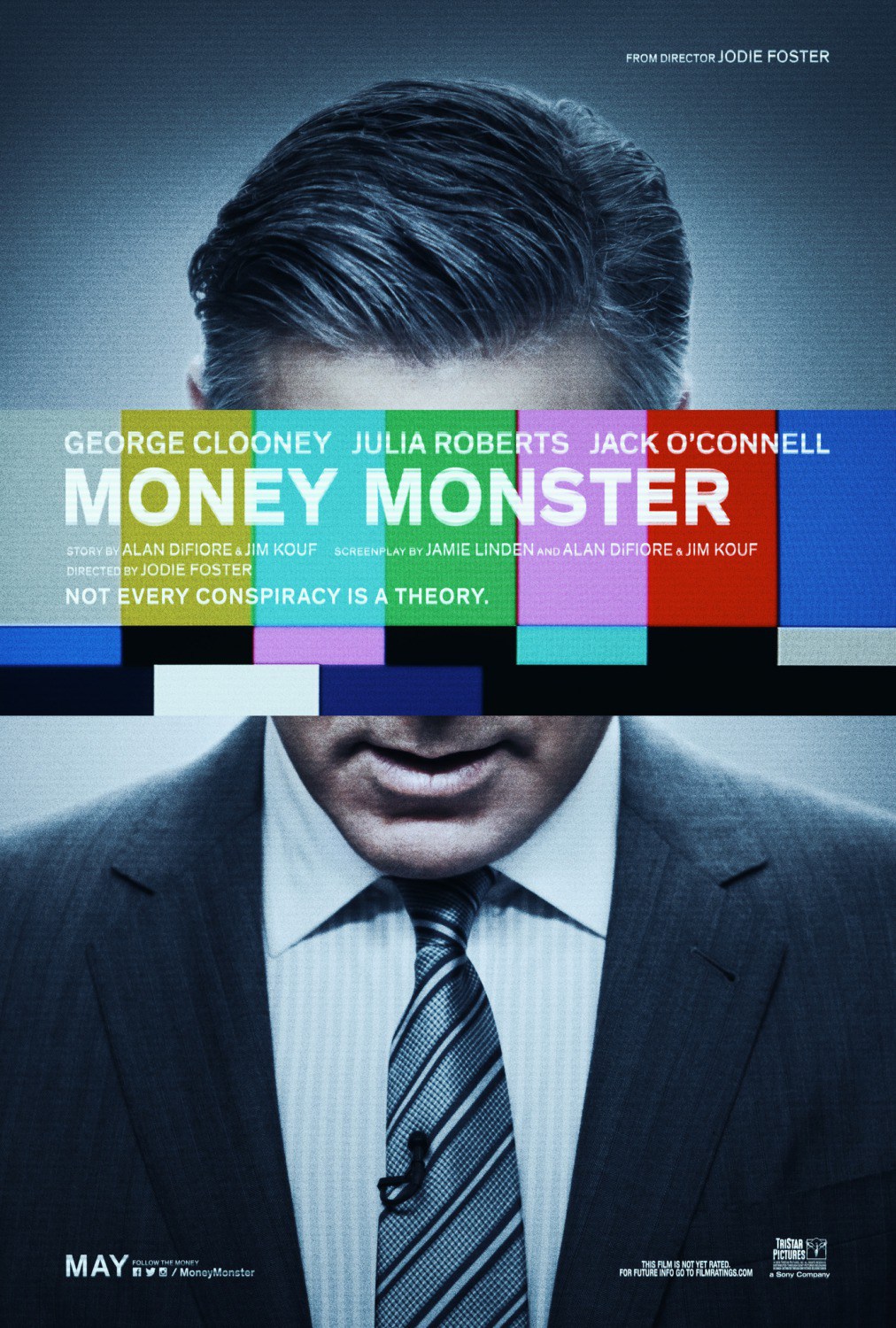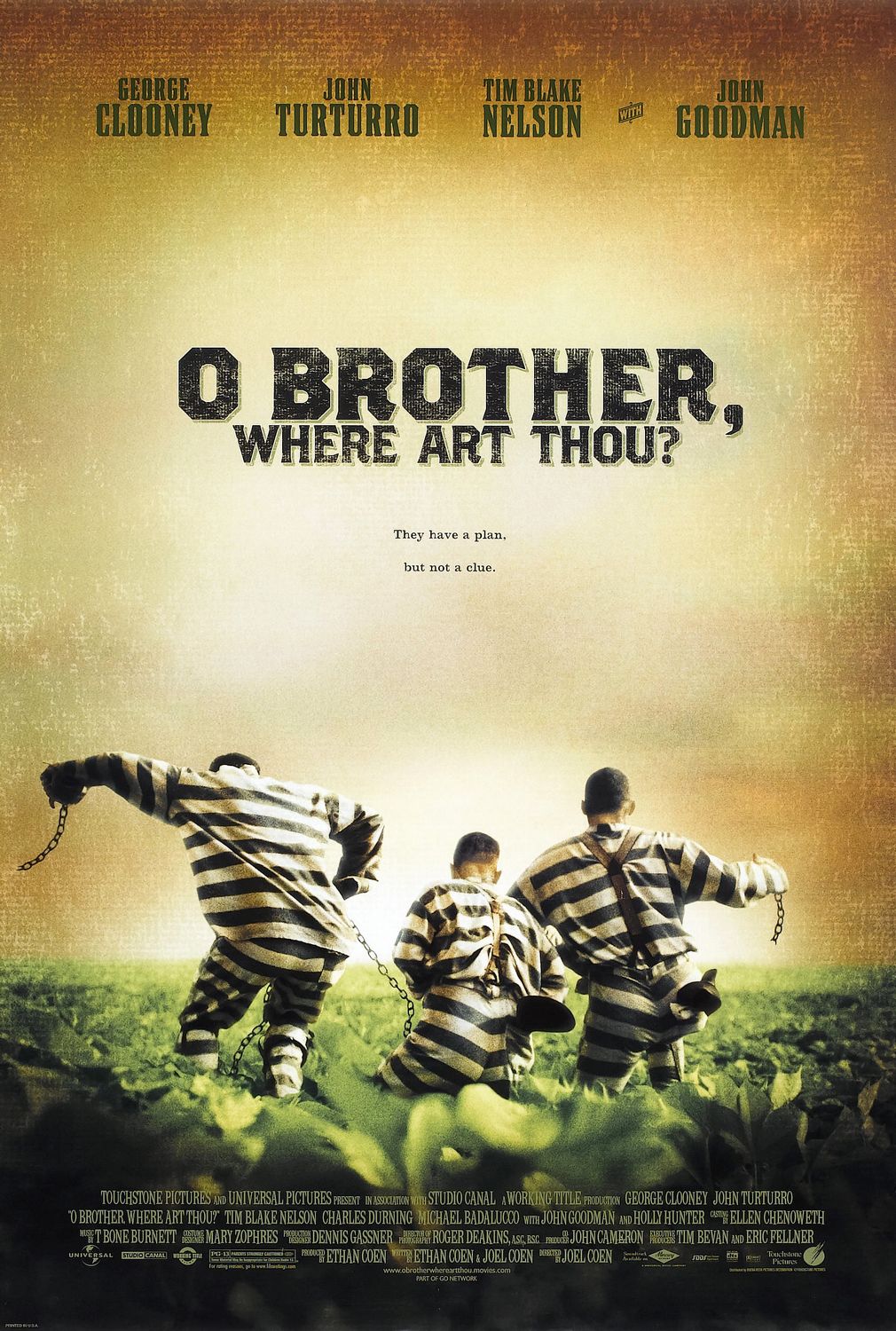Crítica | O Céu da Meia-Noite

Podemos dizer que filmes de viagens espaciais existem “desde sempre”, quando em 1902, o cineasta francês Georges Méliès dirigiu o ótimo Viagem à Lua, que já nasceu clássico por se tratar do primeiro filme de ficção científica da história, além de também ser o ponto de partida para a criação dos subgêneros da ficção, como os contatos imediatos com alienígenas.
Apesar da ficção científica estar sempre em evidência no decorrer dos anos, um gênero específico possui pouquíssimos filmes que são muito bem representados, como é o caso dos dramas das viagens espaciais. Talvez, tem-se em 2001: Uma Odisseia no Espaço e em Interestelar os dois maiores filmes do gênero já feitos e podemos adicionar à lista outras produções como Apollo 13: Do Desastre ao Triunfo que é baseado em fatos reais, além dos ótimos Gravidade, Perdido em Marte e O Primeiro Homem, também baseado em fatos reais e o mais recente deles, Ad Astra: Rumo às Estrelas.
Vale destacar que com exceção de “2001” e “Apollo 13”, que foram lançados em 1968 e 1995, respectivamente, todos os outros foram lançados na última década e olha que não estamos falando da enorme quantidade de seriados do gênero.
E tudo isso, provavelmente, se deve às últimas pesquisas e missões feitas pela NASA, aliada à Spacex, de Elon Musk, que quer que humanos colonizem Marte o mais rápido possível. Nunca se mandou tantos astronautas e sondas para o espaço como atualmente e, como a vida imita a arte, fica claro que o mercado cinematográfico está aquecido.
Mas como dito, são poucos os representantes do gênero e O Céu da Meia-Noite, produção da gigante Netflix, busca registrar seu nome neste hall da fama dos dramas de viagens espaciais.
Dirigido e estrelado pelo astro George Clooney, acompanhamos a história do cientista Augustine (Clooney), que, num Planeta Terra já condenado, decide ficar sozinho numa base no Ártico para tentar alertar os vários astronautas que estão viajando pelo espaço a não voltarem à Terra, dada a sua rápida degradação. A missão destes astronautas é clara: encontrar planetas habitáveis para que possamos sobreviver e perpetuar nossa espécie. E é justamente aí que conhecemos a equipe de astronautas da nave comandada por Sully (Felicity Jones), que está retornando ao nosso planeta com ótimas notícias.
Então, vemos em tela dois fronts de desespero, sendo um de Augustine buscando contato com as naves fora do planeta e outro da Comandante Sully buscando contato com a Terra que, estranhamente, não responde os seus chamados. E, para piorar a situação, Augustine descobre uma criança que está abandonada na base. A menina Iris, vivida pela atriz Caoillin Springall, provavelmente foi esquecida por alguma das pessoas que abandonaram a base e que motivaram a estadia do protagonista.
Curiosamente, o filme se destaca mais pela dinâmica da dupla sozinha no Ártico do que pela dinâmica dos astronautas que são responsáveis pelos momentos de maior ação no filme, justamente porque todos os percalços vividos pelos viajantes do espaço já foram vistos no cinema pelo menos uma vez. A direção de Clooney é muito competente. Sua atuação e a química entre os personagens funcionam bem, mas infelizmente, a parte espacial não traz nada de novo para o espectador.
Mas, ainda assim, visualmente falando, o filme é lindo e esse adjetivo não está somente presente no aspecto estético, já que passa diversas mensagens para aquele que assiste, principalmente na atual condição do nosso mundo hoje, que está doente, ambientalmente falando, pandêmico, com uma população que vem sofrendo constantemente com a saúde mental fragilizada, dentre outros diversos problemas.
Apesar de ter figurado na lista dos filmes mais vistos na Netflix, só o tempo irá dizer se O Céu da Meia-Noite, figurará na seleta lista mencionada no início deste texto.
–
Texto de autoria de David Matheus Nunes.