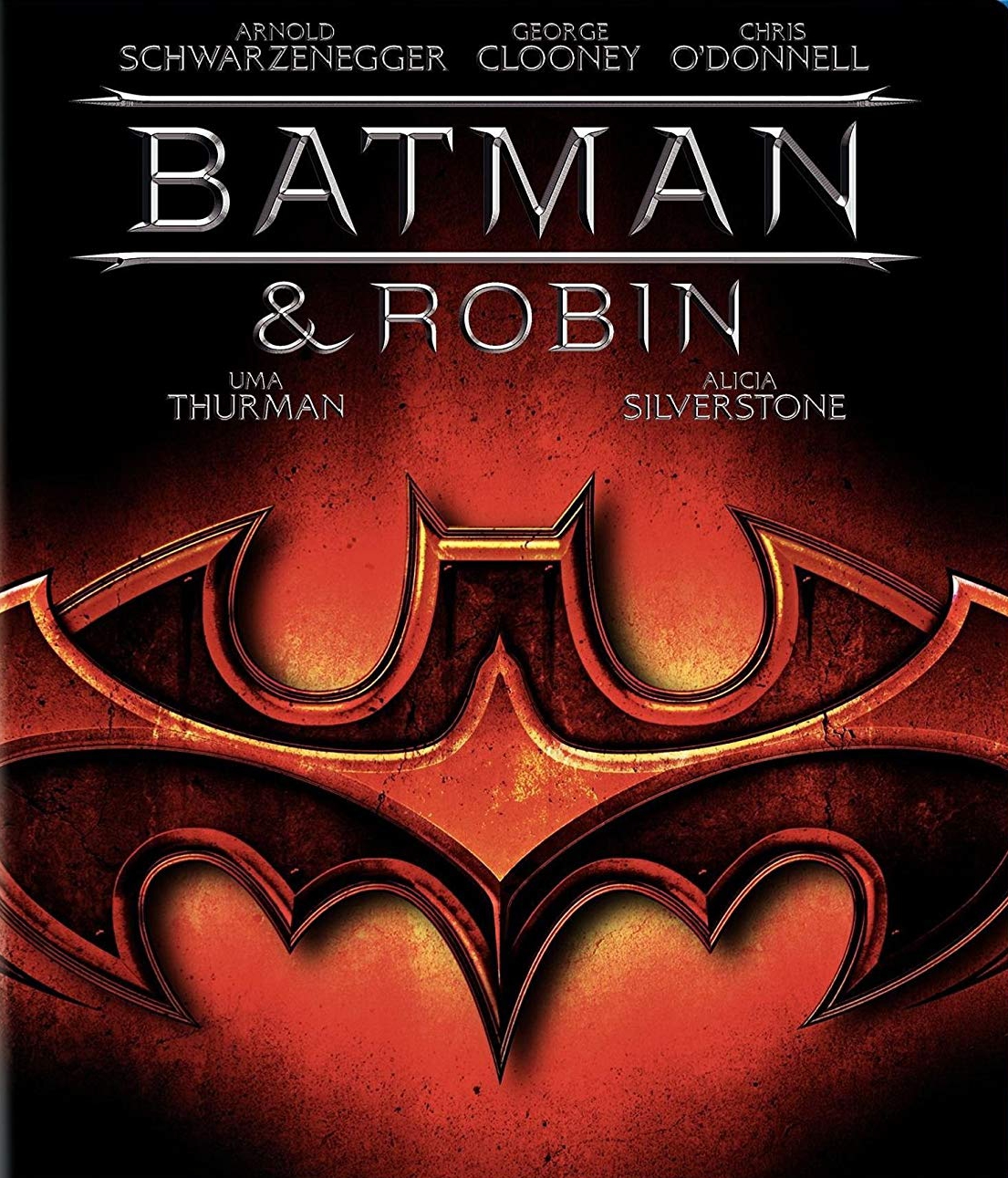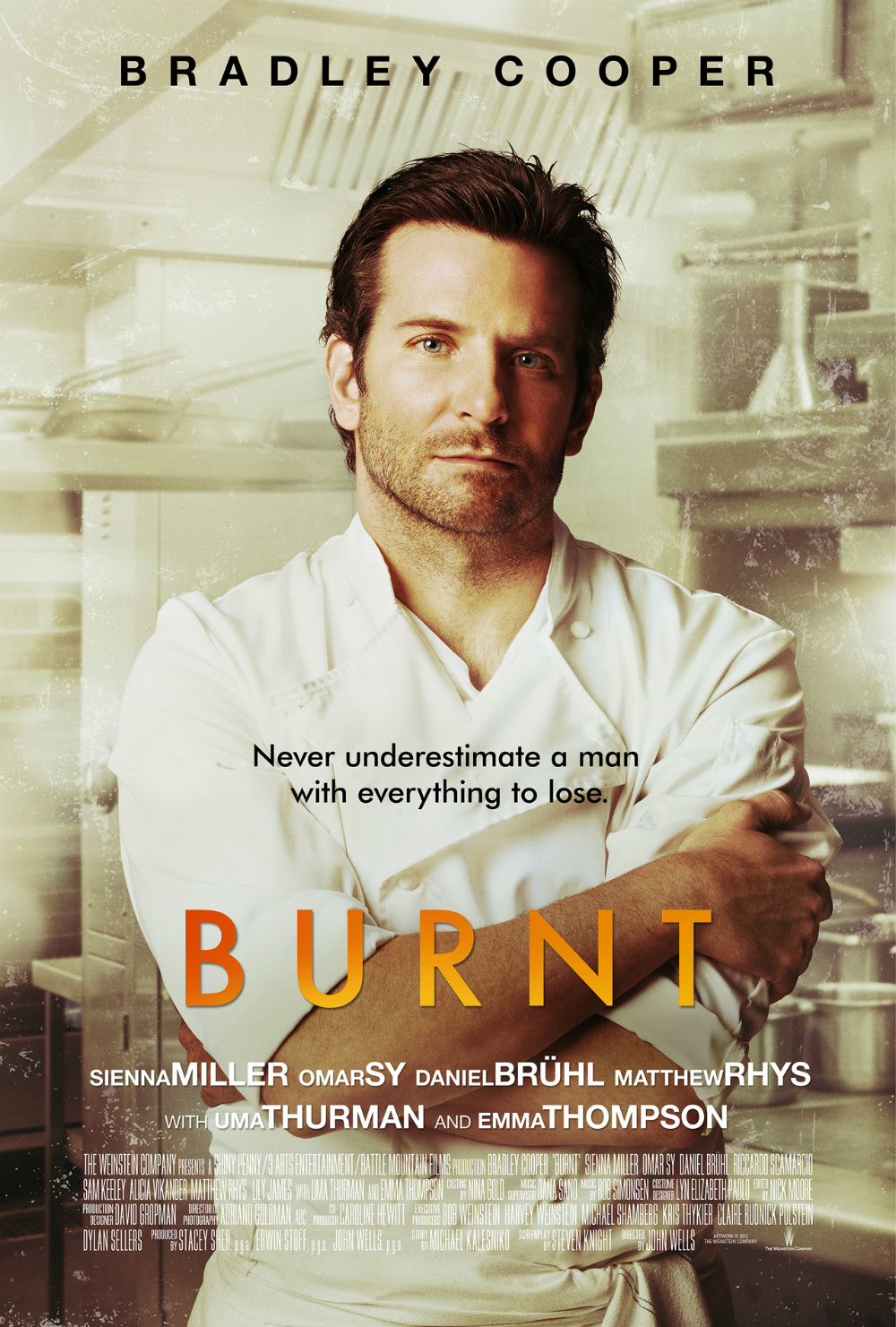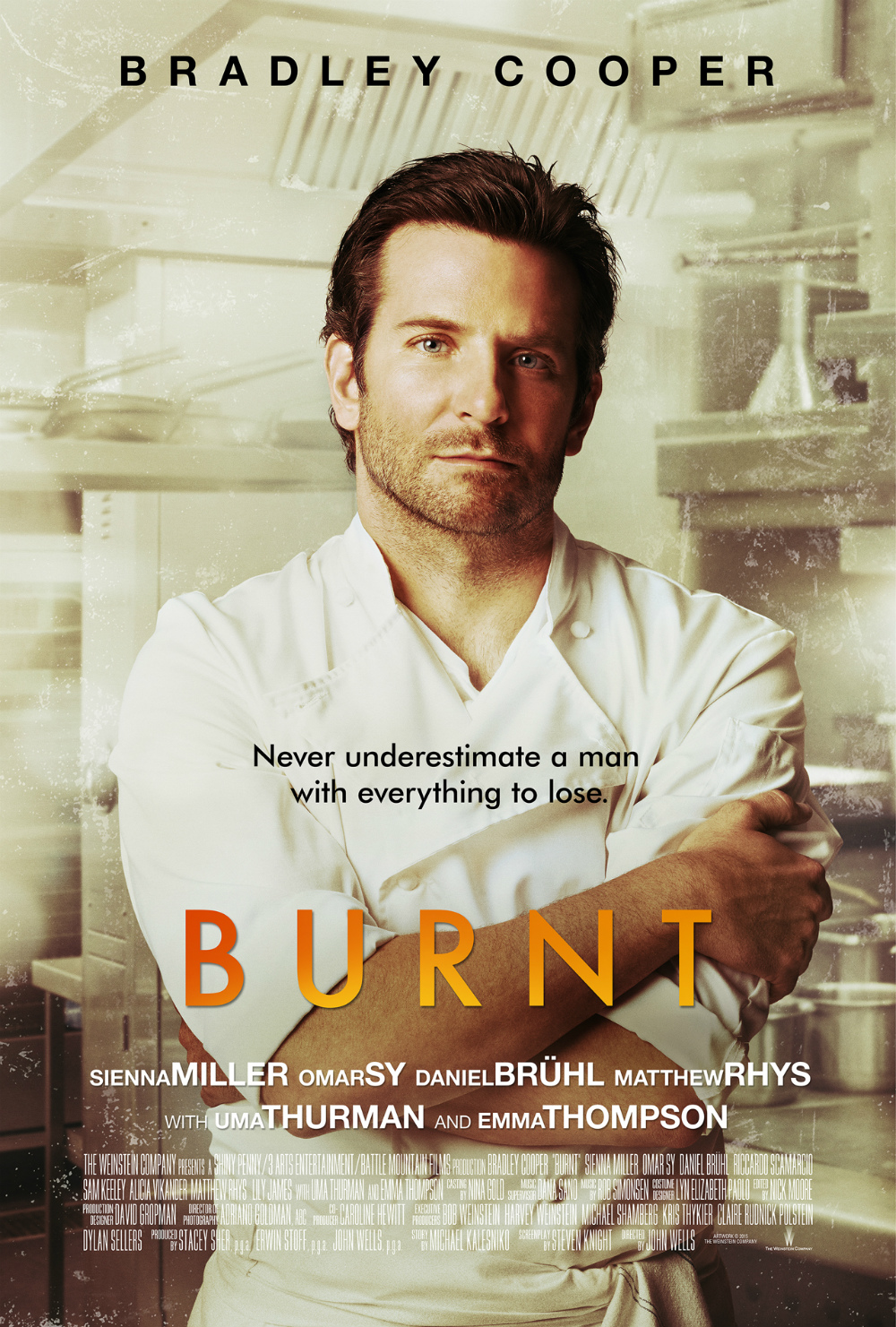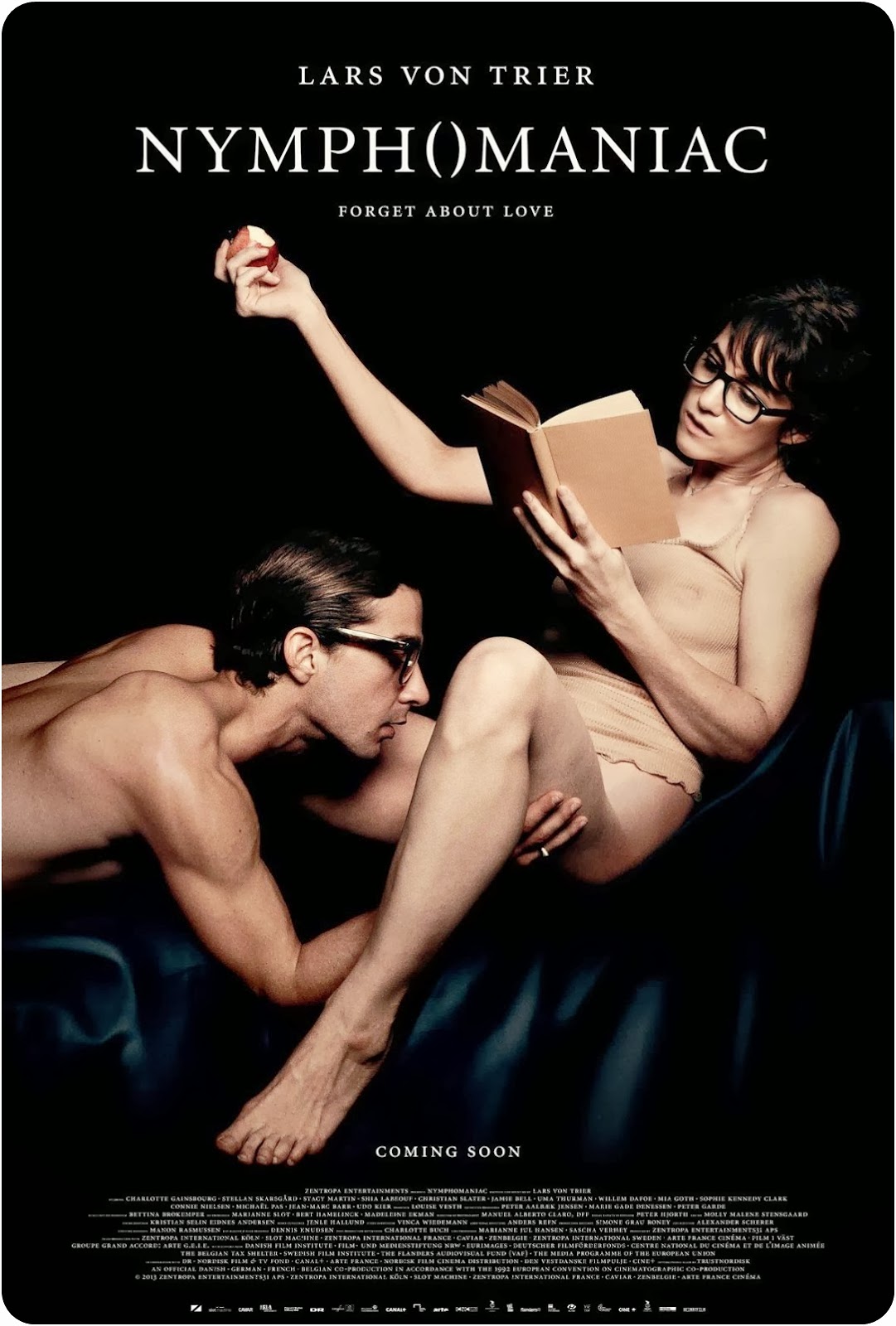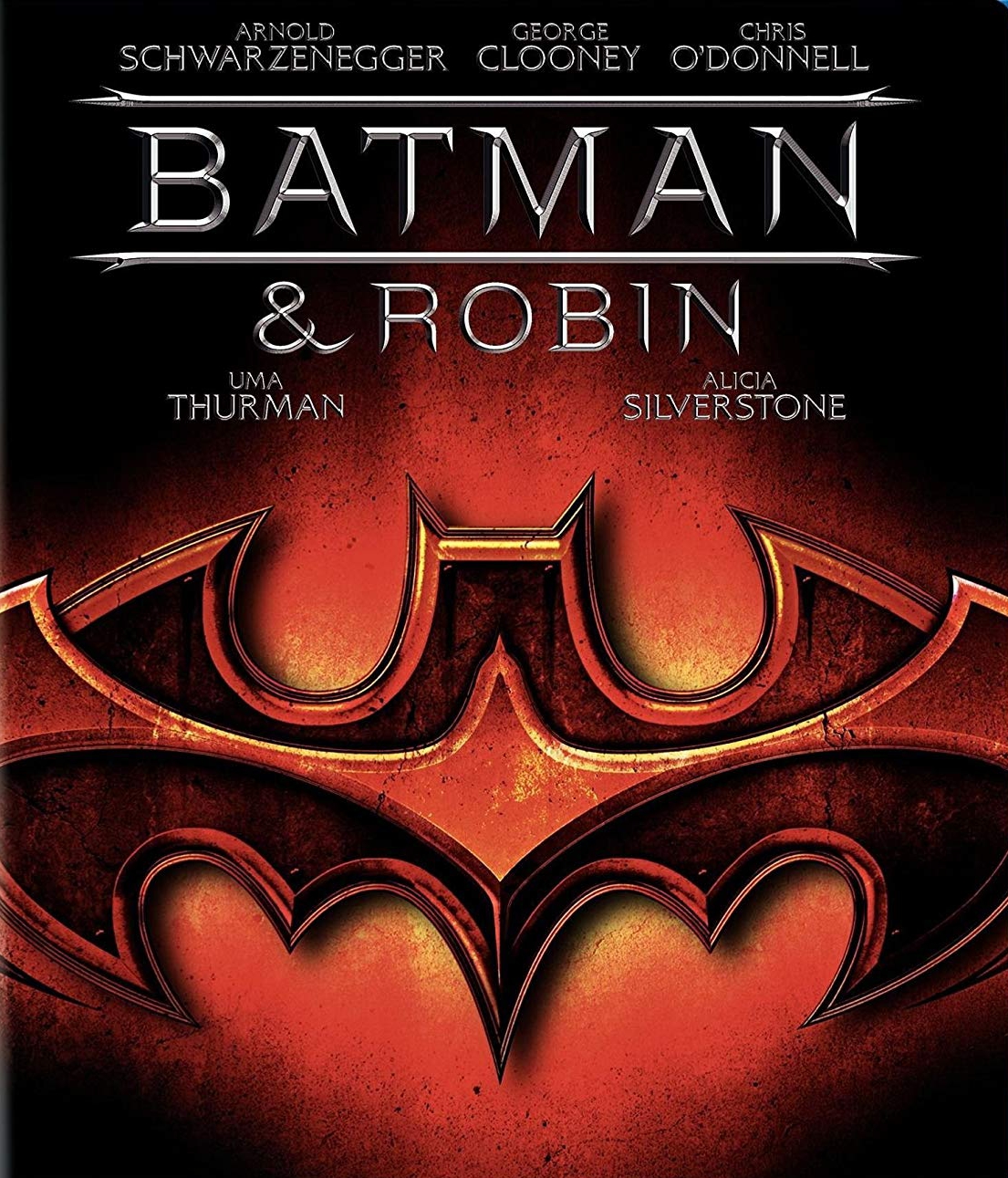
Crítica | Batman & Robin
A primeira fala do Batman de Val Kilmer em Batman Eternamente, envolve ele e Alfred discutindo sobre a janta do herói, com Bruce se negando a comer em casa, dizendo que irá em um drive thru, quebrando já no inicio a ideia de que aquele poderia ser um filme sério. A abordagem que o novo diretor dava a franquia iniciada por Tim Burton em Batman se distanciava cada vez mais daquele tom dark e violento, e seguiria nesse estilo, na nova versão de Batman e Robin, com um início igualmente esdrúxulo, onde após os créditos iniciais e uma apresentação que deveria ser épica – mas que soa patética – do batmóvel é cortada por uma conversa infantil, entre o Robin de Chris O’Donnel, que agora usa um uniforme que lembra o de Asa Noturna nos quadrinhos, com o novo morcego de George Clooney, onde o jovem deseja usar o carro, por conta das gatinhas se amarrarem, enquanto o cruzado encapuzado diz que é por isso que o Superman trabalha sozinho. Essa piada infame talvez tenha sido a pá de cal em cima da pretensão da Warner em usar esse e Superman Lives como iniciativa do seu universo compartilhado no cinema.
É comum entre fãs do personagem criado por Bill Finger e Bob Kane, dizer que o arqui inimigo do Batman é Joel Schumacher e não o Coringa, e isso talvez seja uma grande injustiça. Claramente a culpa do que foi cometido em Batman e Robin é não única e exclusivamente dele. Em materiais de divulgação dos DVDs e Blurays do filme, o diretor pede desculpas se ofendeu alguém, mas a realidade é a que a responsabilidade que lhe foi imposta era árdua, pois produtores e roteiristas pareciam embuidos em sabotar essa quarta versão da saga.
Nos cinco primeiros minutos de filme, Alfred (Michael Gough) faz piada com pizzas, Batman conversa com o Comissário Gordon (Pat Hingle) em um dispositivo televisivo em seu carro, claramente para vender brinquedos não só do carro, como também desse visor, e o Senhor Frio de Arnold Schwarzenegger – que é aliás o primeiro nome nos créditos – é capaz de entre a minutagem de 4:19 e 5:08 ele consegue proferir três frases com trocadilhos relacionados a frio, e seriam 27 ao longo dos 124 minutos de exibição. A obrigação em vender merchandising é da Warner, e esses diálogos artificiais foram escritos por Akiva Goldsman.
Evidente que Schumacher poderia ter recusado voltar, diante do texto que tinha em mãos e diante das exigências imbecis que o estúdio propunha, mas a realidade é que recusar a realização de um sonho, de poder traduzir no cinema uma historia do seu personagem favorito não é uma decisão fácil, vide Nicolas Cage aceitando ser o Superman e fazendo Motoqueiro Fantasma, mas a dura realidade é que praticamente nada faz sentido aqui.
Ainda na cena inicial do museu, os capangas de Frio jogam hockei com o diamante que ele roubou, o mesmo que precisaria estar intacto para formar a máquina que tentaria trazer sua esposa a vida. Os exageros continuam, Victor Fries lança uma rajada de gelo na direção do herói, o suficiente para matar de hipotermia o personagem, mas ele basicamente só manieta o Morcego, levemente, cobrindo suas mãos com um gelinho muito bem talhado. Mas em um filme onde patins saem das botas do Batman, onde a dupla dinâmica surfa com as portas da nave do vilão, desliza na cauda de dinossauros de um museu e onde Schwarzenneger faz cosplay de pomba congelada, com direito a asinha estilizada como as de uma mariposa, pode absolutamente tudo.
Não bastasse um cenário super bizarro ligado a vilões, há um segundo, envolvendo a versão do Homem Florônico com John Glover fazendo experimentos contra a vontade de suas cobaias, no entanto, cabe a Pamela Isley a primeira inteiração daqui, com a sua interprete Uma Thurman lamentando que ainda não conseguiu fundir a estrutura animal com a das plantas. Enquanto isso, é criado Bane, um homem franzino, que é anabolizado por uma droga chamado Veneno, e que está lá para ser vendido entre soberanos de países, com pastiches de reis africanos, sósias de Fidel Castro, de chineses e outros asiáticos,e esse é só o início dos exageros.
O tal doutor Woodrue de Glover interrompe seu leilão, para tentar convencer Pamela a se juntar a ele, mesmo ela já sendo sua empregada, e a resposta dela é ideológica, de que não servirá ao mal, falando que sua missão na Terra é cuidar da não extinção das plantas. É tudo tão bobo e pueril que jogar prateleiras cheias de líquidos coloridos e acreditar que uma pessoa morrerá só com isso nem é tão absurdo, no final das contas.
Mas o filme é ousado, tenta estabelecer algumas sub tramas emocionais, duas em especifico, uma explorando a decadência emocional de Fries, tomando por base a boa construção do personagem trágico e viúvo feita durante Batman The Animated Series, além claro da problemática em relação a saúde de Alfred, fato que permite que Clooney e Gough possam dividir algumas poucas cenas de ternura. É uma pena que ambos os aspectos sejam banalizados, com Freeze mandando os capangas dançarem, e com o advento de Barbara Wilson, de Alicia Silvertone, que mais tarde, se tornaria a nova Batgirl, repetindo quase todo o arco de Dick Grayson em Batman Eternamente.
A construção das personagens femininas são terríveis. Pamela retorna dos mortos como a Mulher Gato de Michelle Pfeiffer em Batman o Retorno, mas sem metade do charme daquela versão, apesar de estar lindíssima a partir daí. Julie Madison, que foi um primeiros amores do personagem principal nos quadrinhos é sub aproveitada , e Elle Macpherson só aparece em tela com 35 minutos de exibição. Barbara que foi mudada de filha de Gordon para sobrinha do mordomo também não tem um bom desempenho, é só a menina com ideal de libertar o parente dos grilhões de servidão/escravidão que os Wayne o impuseram, mas usufrui da fortuna deles sem receios, e até aceita entrar o bat-squad, apesar de claramente não concordar com os métodos de Bruce. Mais uma vez essas construções de personagem não fazem sentido.
Talvez se a trama de Alfred em tentar encontrar seu irmão Wilfred para substitui-lo fosse levada mais a sério, daria certo, fato é que achar que Barbara levaria seu legado a frente, além do que seria mais uma preconceituosa conclusão de que a menina aceitaria a condição de faz tudo de bom grado, já que pela ideia dos quatro filmes, é Alfred que cuida sozinho de toda a mansão. Não fosse Silverstone – uma atriz fraca, escolhida basicamente por ser bonita e famosa – a porta voz do plot sobre a condição de saúde de Alfred, possivelmente seria este o cerne emotivo mais forte do filme, ou ao menos um aspecto positivo em meio a toda a péssima execução do combalido roteiro de Goldsman. O fato de Dick ser insensível (ou apenas desatento) com a condição de seu mordomo faz sentido, pois ele é jovem, impulsivo, e um pouco egoísta, como boa parte dos pós adolescentes, enquanto Bruce, que enxerga Alfred como a sua figura paterna, percebe a tentativa do idoso de ludibria-lo.
O quadro ainda iria piorar, com uma festa temática africana, uma festa a fantasia que conta com Batman e Robin como convidados, que trabalham em prol da caridade a instituições que precisam de recursos. Assistindo os filmes de Chris Nolan atualmente, se entende por que fizeram tanto sucesso, pois o Batman dele não se permite ser usado para fins lucrativos e nem faz aparições publicas assim tão esdrúxulas. Claro que essa sequencia toda é montada para dar vazão aos fetiches de Schumacher por neon, e para apresentar homens musculoso, de tanga e óleo sobre o tórax e bíceps, que lá estão servindo a versão mais sensual de Pamela, a Hera Venenosa, como um pretexto para pôr para fora fetiches e exibicionismos.
Há algo de poético e inocente nos beijos de Hera. A morte, vindo através dos lábios de uma dama é um requinte de crueldade bem pensado, ainda mais se o foco é apresentar a fúria vingativa de Gaia ante os humanos. Juntando isso, ao luto que Fries sofre, ao ser enganado por sua nova parceira, quase se compõe um pequeno respiro de humanidade e inteligência no longa, que obviamente é cortado por um plano esdrúxulo, onde a era glacial invadiria Gotham, através do roubo de uma tecnologia espacial pelo Senhor Frio, onde jamais as plantas de Ivy poderiam sobreviver, além de apresentar a cena mais patética de Pat Hingle em toda a franquia, onde ele é seduzido por Pamela, que se recusa a beijá-lo por conta dele ser idoso. É melancólico que esse seja seu ultimo momento dentro da franquia.
Os trinta minutos finais formam um caminho de uma ladeira percorrida por um veículo de pneus carecas, por mais que parecesse que esses níveis eram ruins, havia uma rota que poderia piorar tudo, e ela foi tomada com muita vontade por parte de quem ajudou a realizar essa obra. Robin Sinal, Barbara abrindo o cd-rom com as informações da bat caverna com o logo do filme ilumando sua face, a briga para medir quem tem pênis maior encerrada com um pedido fraternal de Bruce para que Dick não cedesse a sedução de Hera claramente com ciúmes, não se sabe se da mulher ou do garoto prodígio.
Hera e Robin quase consumam seu “amor”, em mais uma sequencia das mais vergonhosas. O gesto recatado de ósculo labial, que deveria ser um paralelo equivalente a ousadia de colocar sexo em um filme feito para crianças é cortado por lábios de borracha do sidekick do morcego, e o causo só é resolvido pelo girl Power de Barbara, em uma série de eventos tão toscos que fazem o inicio parecer sério. A classificação que o Newsweek deu para o filme de Grande, Ousado e Magnifico poderia facilmente por Espalhafatoso, Excessivo e Patético.
Nem mesmo a música de Elliot Goldenthal funciona, mesmo que tocada sozinha tenha um significado, ao compor o quadro com as imagens. Quando ela é tocada apenas para embalar os carros e veículos que deslizam sobre o gelo, e para ajudar a vender mais bonecos com uniformes diferentes, tudo se banaliza. Mamilos protuberantes, close em partes genitais e o CGI mal empregado não irritam tanto quanto essa necessidade de vender os tais brinquedos, que por sinal, nem eram tão legais, os que eram feitos para os filmes de Burton eram infinitamente mais legais, se comparar então com os dos desenhos, é covardia.
Robin é o herói impotente, ao ver seu amigo e parceiro cair, ele diz a Batgirl que a eles resta rezar. A vontade de fazer piada passa por cima inclusive da essência dos personagens, não se pensa duas vezes antes. Há muitos momentos vergonhosos para escolher como o preferido no final, se é a quase cena pós crédito entre Hera e Victor, que não faz sentido, se é o neon que invade até a casa de Bruce, ou se é o Senhor Frio guardando a cura para a doença de sua amada consigo em sua armadura, e que serve para ajudar Alfred a viver. No entanto, há algo mágico na obra que Schumacher dirigiu, algo que faz toda essa besteirada cafona funcionar como algo tão ruim que se torna divertido acompanhar o desastre. O objetivo do diretor era fazer o que James Wan conseguiu em Aquaman, um filme de herói histriônico, brega e que funciona por não se levar a sério, mas as muitas influencias da Warner e sua passividade – sem trocadilhos com orientação sexual, obviamente – não permitiram isso, e fizeram ele enterrar a franquia por muito tempo, até Batman Begins, enterrando também o possível filme cinco Batman Triunfante e Superman Lives de Tim Burton, o que é uma pena, pois o fã mais curioso e merdeiro. Nem a falta de identidade de Batman e Robin sepulta a curiosidade do que viria a partir daqui, ao menos a esse que vos fala. Sempre imaginei como seria um quinto filme, com Fries do lado dos mocinhos, ou com Alfred entrando em ação, mas obviamente que esses absurdos pensados pela minha cabeça quando criança não estavam a altura do que poderiam construir Schumacher e sua equipe.
Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram | Spotify.