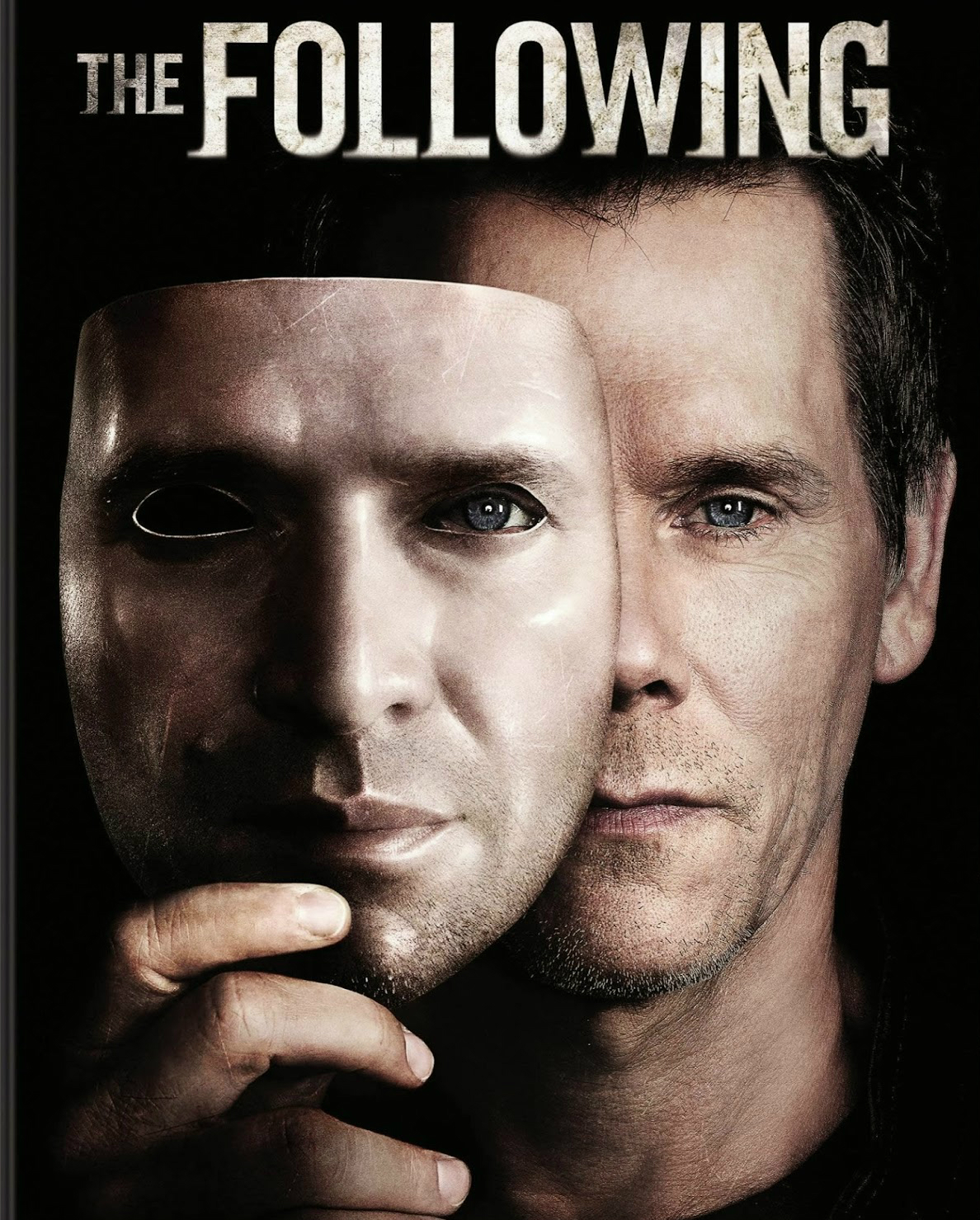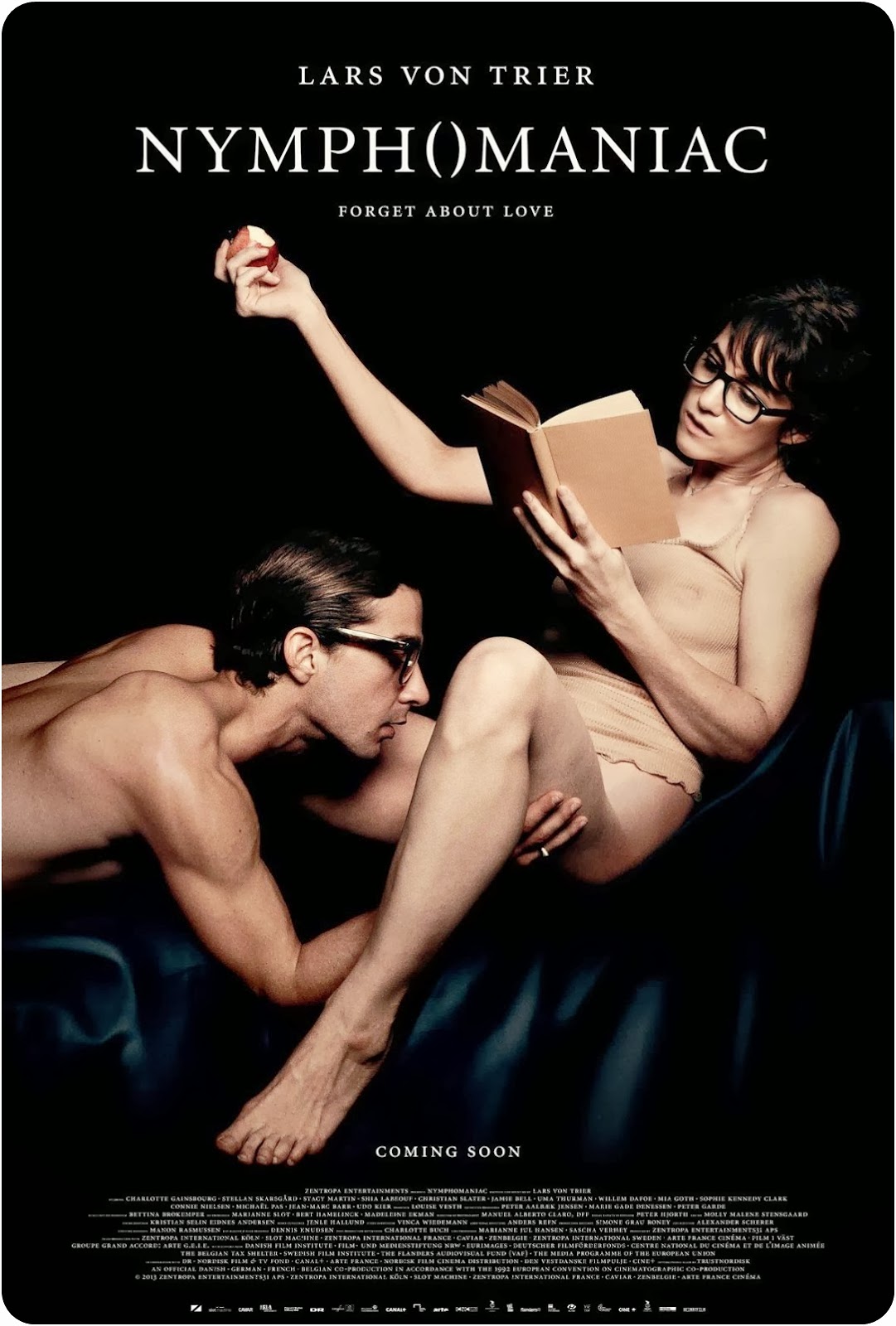Crítica | Anônimo (2021)

No ano de 2015, John Wick: De Volta ao Jogo estabeleceu um novo parâmetro para os filmes de ação. Ao invés das cenas de ação ultra picotadas de Busca Implacável ou com a câmera inquieta da franquia Jason Bourne, chegavam cenas intensas com câmera mais fixa no intuito de mostrar em ricos detalhes toda a violência das sequências e dar destaque ao trabalho dos atores e dublês. Sendo assim, soava no mínimo estranha a presença de Bob Odenkirk, o consagrado intérprete de Saul Goodman das séries Breaking Bad e Better Call Saul, como protagonista de Anônimo. Entretanto, esse talvez seja o maior acerto do filme.
Na trama, Odenkirk vive Hutch Mansell, um excessivamente pacato pai e marido que age de forma passiva com as intempéries da vida. Quando dois ladrões invadem sua casa, Hutch se recusa a defender a si mesmo e sua família, desapontando a todos com sua omissão. As consequências posteriores do incidente acabam despertando uma raiva adormecida nele, trazendo à tona instintos adormecidos e colocando-o em um caminho onde a violência é a tônica.
Dirigido por Ilya Naishuller e roteirizado por Derek Kolstad, co-roteirista da saga John Wick, Anônimo pode parecer um tanto simplório quando lemos a sua sinopse devido a sua semelhança com Desejo de Matar. Entretanto, dizer mais do que isso sobre o filme pode entregar grandes surpresas, pois o roteiro se desdobra gradualmente, revelando uma trama mais complexa do que inicialmente aparenta. O diretor Naishuller, cuja maior credencial antes de Anônimo é o filme de ação em primeira pessoa Hardcore: Missão Extrema, conduz muito bem o andamento da película, partindo de uma intrigante cena inicial com a primeira aparição de Odenikirk, passando por momentos bucólicos onde vemos o cotidiano de Hutch e sua família, para depois empilhar sequências de ação empolgantes uma atrás da outra, sempre entrecortadas com cenas que mostram a evolução de comportamento do protagonista, flashbacks e suas relações com novos personagens que vão surgindo.
A escolha de Odenkirk para o papel pode provocar estranheza em um primeiro momento. O ator é um comediante já bem estabelecido em Hollywood e sempre demonstrou grande talento transitando entre o drama e a comédia, vide seu trabalho nas séries mencionadas anteriormente. Porém, o ator treinou por dois anos para poder fazer todas as cenas de ação sem precisar recorrer a dublês e o resultado é excelente. Além disso, sua composição para Hutch Mansell é um grande acerto. O elenco de apoio que conta com nomes como os veteranos Michael Ironside e Christopher Lloyd também contribui para a boa dinâmica do filme.
Assim como a saga John Wick, Anônimo também propõe a existência de um universo maior. Existiu até um boato de que os dois filmes poderiam fazer parte de um mesmo universo compartilhado. De qualquer forma, seria interessante ver mais histórias de Hutch Mansell para entendermos ainda mais sobre seu passado.