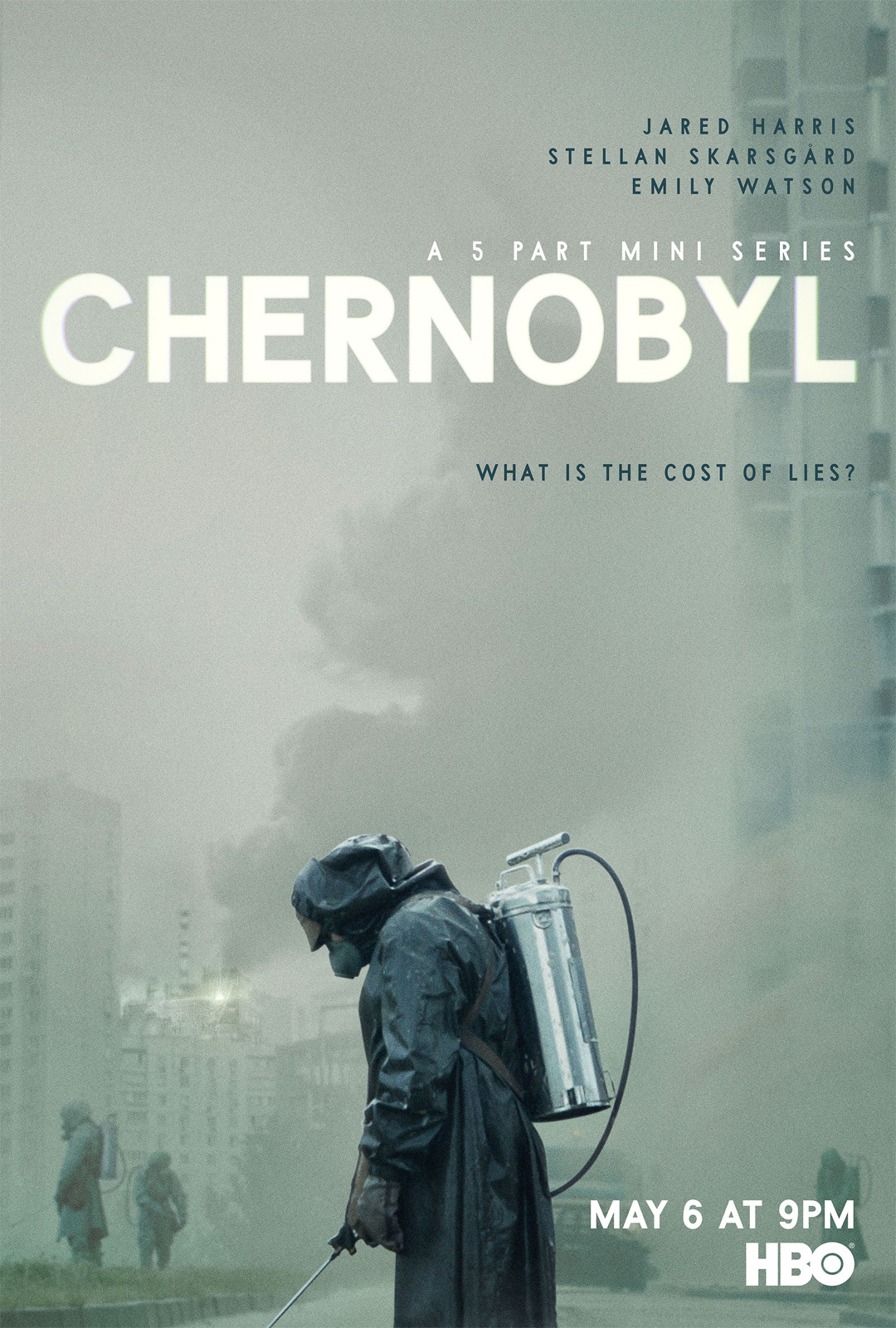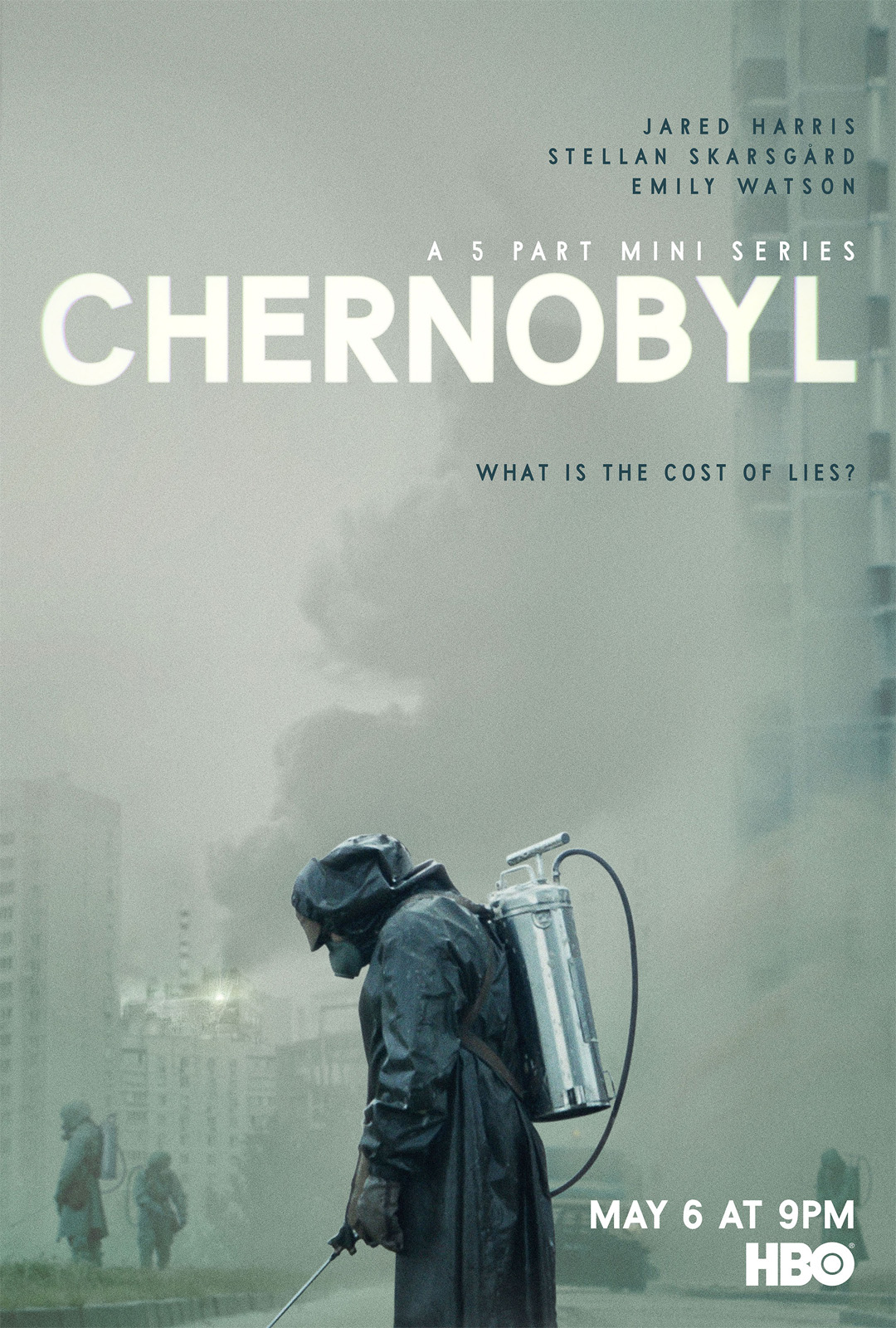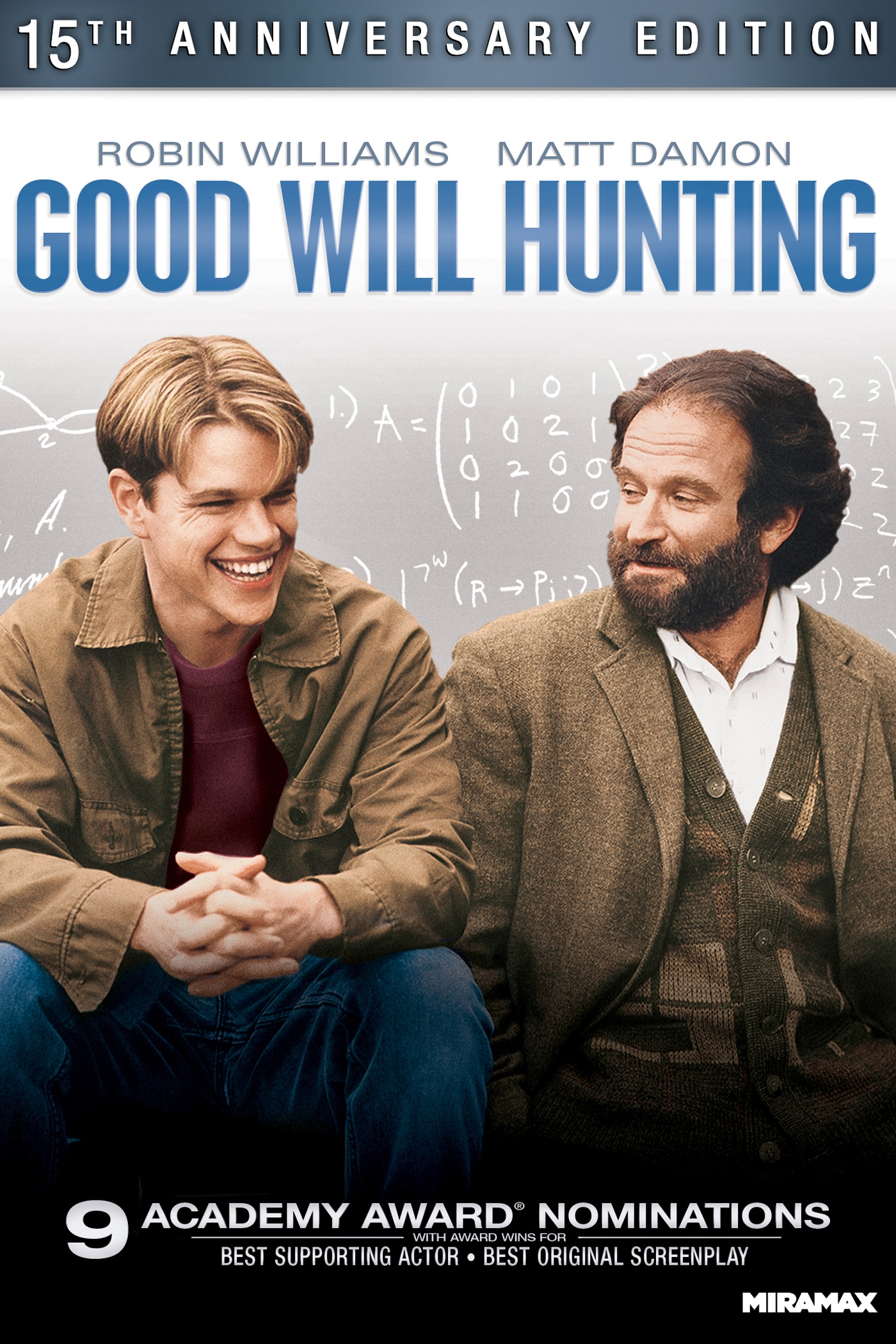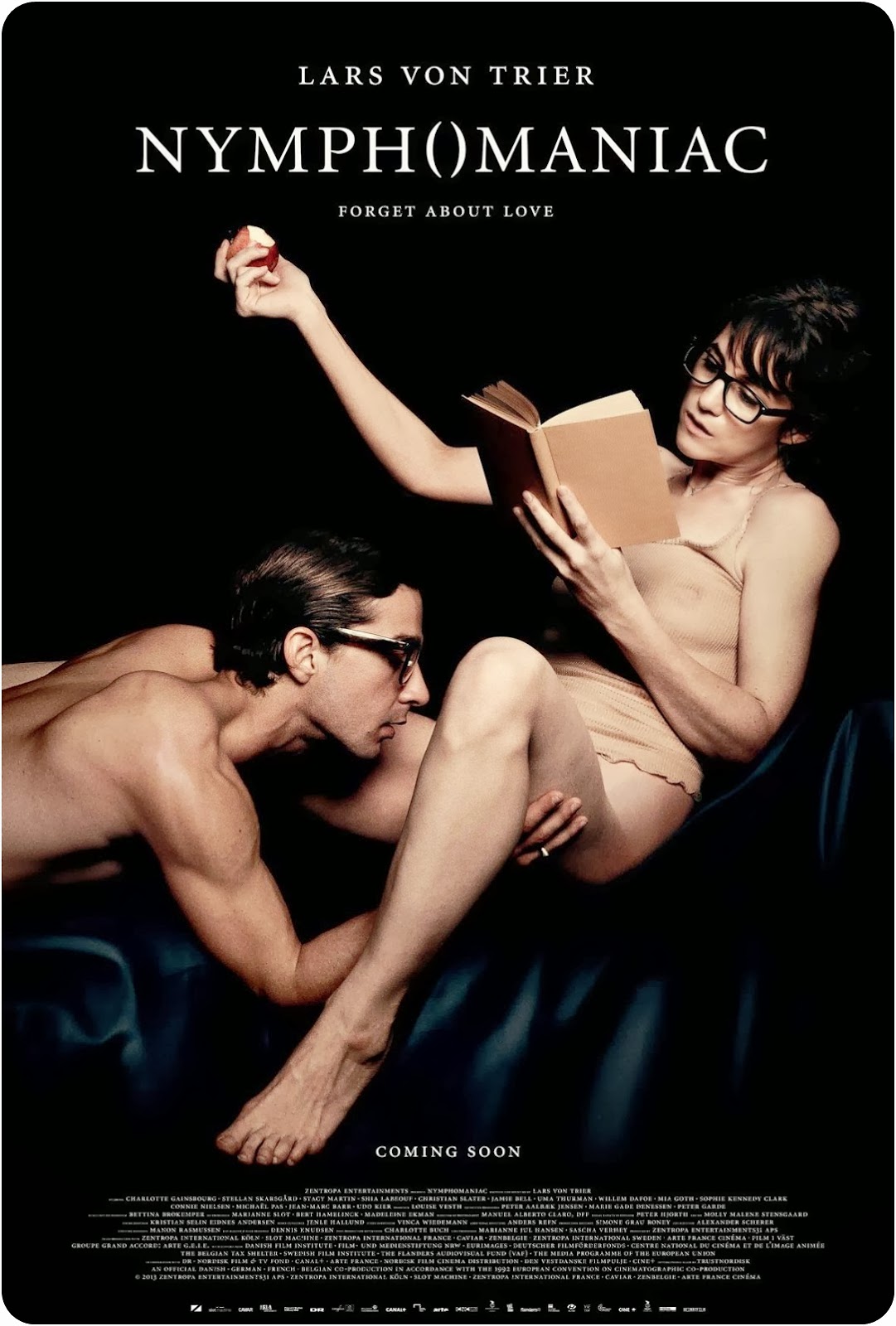Crítica | Duna

Minhas expectativas para Duna estavam em xeque, não li a série de livros do Frank Herbert, tampouco sou um admirador da adaptação cinematográfica de 1984. Não tenho qualquer valor afetivo pelo material, aliás, não tinha, pois o novo longa de Denis Villeneuve me deixou esfaimado por mais. Isso seria bom se o próximo filme já estivesse confirmado, mas é uma estratégia arriscada quando a progressão da história depende de seu sucesso financeiro. Duna (que começa com o subtítulo parte um) é maravilhoso, mas perde o sentido se não tivermos direito a uma continuação.
Não vejo problema em dividir uma obra em duas ou três partes, mas é preciso uma cautela narrativa em relação à codependência das histórias, pois cada filme precisa funcionar individualmente. Peguemos como exemplo o final de Kill Bill: Volume 1. Todos sabemos que a jornada da personagem de Uma Thurman não acabou, ela quer matar Bill, e precisaremos de mais um filme para isso. Funciona porque a épica batalha contra os crazy 88, e o confronto com O-Ren Isshii dão ao espectador algum senso de desfecho, pelo menos a nível estrutural. A história vai continuar, mas o filme tem um ato final, e isso não acontece com Duna, que abruptamente acaba.
Nosso protagonista é um jovem duque que vem lidando com sonhos premonitórios, super poderes de persuasão, e que pode ou não ser “o escolhido” de acordo a uma profecia. Ele acompanha seu pai até ao planeta Arrakis (Duna), que possui a cobiçada substância “spice” (funciona basicamente como magia), além de minhocas gigantes e areia. O que segue é um drama político sci-fi grandioso que me fez coçar a cabeça lá e cá. Muitos conceitos são tangencialmente abordados, gestos ou menções que presumem um conhecimento que pode desorientar a quem está explorando esse universo pela primeira vez. Da iconografia meticulosamente criada, às diretrizes culturais do figurino, à fantástica e plausível mitologia, há tanto para explorar aqui que me senti um pouco extraviado, mas não a ponto de perder o foco do conflito central que, como sempre, é motivado pela fortuna (invasão de um planeta para extração um recurso precioso, yada yada yada…).
Villeneuve não gosta de economizar planos, é um diretor paciente, que exige o mesmo do seu público, e o recompensa com incansáveis ostentações composicionais. É como se ele competisse com ele mesmo a cada corte pelo melhor ângulo, pelo enquadramento perfeito, pela simetria sublime, e ele costuma vencer. Pra melhorar, ele tem Hans Zimmer fazendo a música, que cria um climão de guerra com a percussão (a cinematografia ajuda a compor essa atmosfera, e notam-se as homenagens a clássicos como Apocalypse Now e Lawrence da Arábia). Há uma ou outra batida onde a melodia quis me levar na marra, mas é uma trilha lamuriosa e ao mesmo tempo berrante. A gaita de fole não rolou pra mim, mas lembrei de Coração Valente, então ficou tudo bem.
Tudo é desbundante em Duna, mesmo sendo todo cinza ou bege. Tecnicamente o filme é perfeito, mas a eutimia narrativa do diretor continua sendo um gosto adquirido. Se Blade Runner 2049 te pôs pra dormir, aqui provavelmente não será diferente. E não é um estilo que favorece as sequências de ação, que apesar de muito vistosas, precisavam de uma energia que quebrasse a melancolia subjacente. As minhoconas, por exemplo, prometem mais do que cumprem.
Os efeitos visuais são perfeitamente integrados aos práticos, a criação de mundo é um barato (adorei os helicópteros insectóides), e eu preciso enaltecer o simples e eficiente uso do escudo com o contraste azul x vermelho, e como é satisfatório vê-lo no lugar daquela aberração de 84.
Timothée Chalamet tem carisma de sobra. Ele se porta exatamente como um duque em construção, deixando transparecer a insegurança de quem carrega uma série de incertezas. E o diretor sabe que ele é um fofo, abusando dos close-ups do nosso herói contemplando sobre a vida com seu cabelo formidável. Rebecca Ferguson tem uma intensidade fortíssima nos olhos, o elemento de sua angústia materna é responsável pelas cenas mais emocionalmente carregadas do filme. A comunicação dela com o filho é bem trabalhada, e as camadas da dinâmica desse relacionamento estão apenas começando a cair. Oscar Isaac não atrapalha, mas não parece completamente confortável com o personagem. Ainda assim, uma de suas cenas certamente será lembrada. Jason Momoa tem uma das piadas do filme, é engraçadinha. Ele traz uma energia necessária ao ritmo remansoso, e sua ausência é frequentemente sentida. A outra piada é do Javier Bardem, ele não tem muito mais pra fazer, mas a cena é, de novo, engraçadinha. Há uma baixa dose de humor aqui, suficiente para pequenas descontrações sem afetar o tom austero predominante. A personagem de Sharon Duncan-Brewster é subdesenvolvida, Josh Brolin funciona (seus diálogos não ajudam), e Dave Bautista não. Ele não parece ter um lugar nesse universo, é apenas um bruto que é grandão porque sim, e a cena em que ele precisa demonstrar indignação é difícil de assistir. Stellan Skarsgård faz um vilão excepcionalmente grotesco e genuinamente ameaçador. Quero distância total desse cara, eca! Zendaya está no filme para soltar um trocadilho bem bolado e estimular o público com a possibilidade de mais tempo com sua presença celeste no filme seguinte.
Duna pode parecer derivado, mas é justamente o contrário. O material fonte é tão influente que se tornou vítima das futuras criações que inspirou. Quando vi o elemento da Voz, lembrei imediatamente de Obi-Wan Kenobi usando a Força em 77, e não me pareceu justo. Mad Max, Alien, Blade Runner… muitos clássicos beberam alguma dose dessa fonte, preciso criar vergonha na cara e ler o primeiro livro.
Nota: 8.9