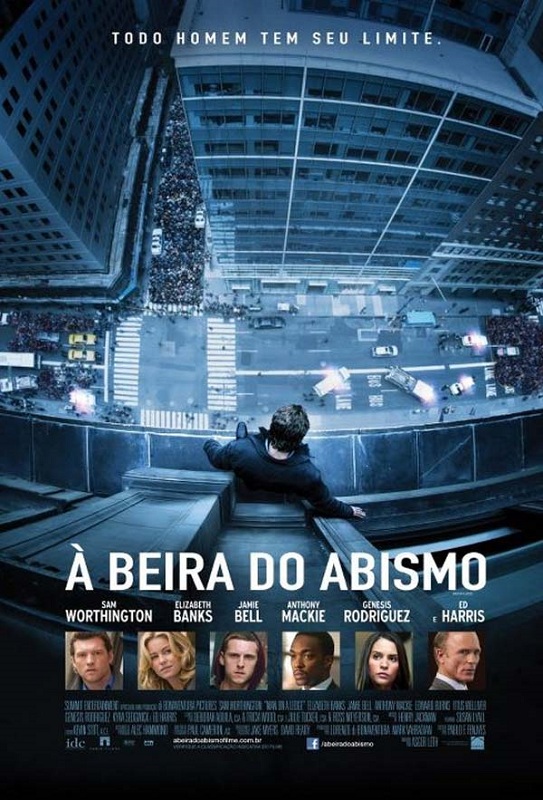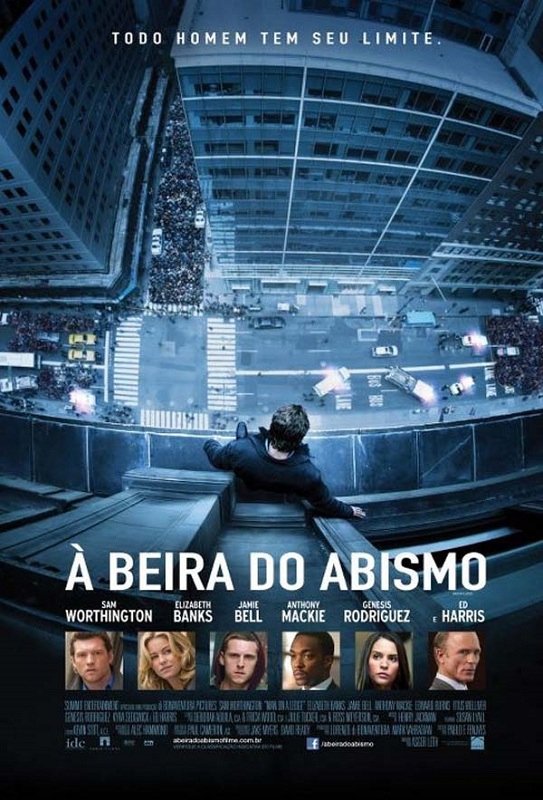Crítica | Sem Remorso

Criado por Tom Clancy, o Ryanverse já foi adaptado para diversas mídias. Tudo começou com A Caçada ao Outubro Vermelho, filme que adaptou o livro homônimo que tinha o analista da CIA, Jack Ryan, como protagonista. Desde então, várias outras adaptações de livros para o audiovisual tem o personagem como central em suas histórias — recentemente um seriado do personagem chegou ao Amazon Prime Video.
Ocorre que, nos livros, o escritor criou um universo muito rico com vários personagens interessantes que ganharam suas histórias próprias, tais como o esquadrão Rainbow Six (adaptado para uma longeva e bem sucedida série de games) e agora John Kelly, personagem de apoio de vários livros com Jack Ryan.
Não é exagero dizer que Kelly é uma espécie de super soldado, pois nos livros ele é sempre mostrado como alguém extremamente competente e habilidoso. Isso o torna um dos personagens mais importantes que habitam o Ryanverse, presença recorrente nas obras literárias, tendo desenvolvido uma grande amizade com Jack Ryan à medida que vão trabalhando juntos. Devido a isso, Clancy detalhou sua origem no livro homônimo a esta adaptação, além de colocá-lo como personagem central em vários outros da linha principal do seu universo compartilhado, além de spinoffs, tais como Rainbow Six e os livros protagonizados por Jack Ryan Jr. Nos cinemas, antes de Michael B. Jordan encarnar o personagem, Kelly foi interpretado por Willem Dafoe em Perigo Real e Imediato, último filme da trilogia iniciada em A Caçada ao Outubro Vermelho e por Liev Schreiber no fracassado reboot do ano de 2001, A Soma de Todos os Medos.
Na trama, após voltar de uma missão de resgate que quase terminou em desastre, Kelly tem sua casa invadida por um grupo de assassinos que mata a sua esposa e o deixa seriamente ferido. Acusado pela morte dela e envolvido em uma conspiração que vai aos altos escalões governamentais, Kelly parte em uma jornada violenta para descobrir quem matou sua esposa e expor toda a trama conspiratória.
Roteirizado por Taylor Sheridan (A Qualquer Custo e Terra Selvagem) e Will Staples, e dirigido por Stefano Sollima (Sicario: Dia do Soldado), Sem Remorso difere dos filmes protagonizados por Jack Ryan na abordagem. Aqui o tom é muito mais pessoal, com todos os eventos gravitando em torno do protagonista. Mesmo em Jogos Patrióticos, filme estrelado por Harrison Ford em que Ryan se torna alvo da vingança de um terrorista irlandês, os eventos que se desenrolam dependem de outros aspectos da trama, desde a burocracia da CIA ao comportamento dos seus chefes. Aqui, a dinâmica é inversa: Kelly é a força motriz do filme e o seu entorno reage ao seu comportamento, tomando as ações a partir do que ele faz, fazendo a narrativa ser bem mais direta.
Jordan demonstra mais uma vez ser um dos grandes atores da atualidade. Sua atuação confere profundidade emocional ao protagonista, evitando que ele seja somente uma máquina perfeita de matar. O ator é plenamente capaz de segurar um filme sozinho, pois une competência e carisma. Some-se isso à boa direção de Sollima, que consegue criar bons momentos de ação e tensão, tais como a fuga do prédio cercado, a sequência inicial de infiltração e o interrogatório onde Kelly incendeia um carro para conseguir informações. Além disso, nas sequências mais “burocráticas” que mostram os núcleos políticos e corporativos do filme, o diretor encadeia bem os eventos, deixando claro para o espectador o que está ocorrendo.
Ainda que não seja um filme memorável, Sem Remorso é um eficiente thriller de ação com um bom roteiro de Sheridan, direção segura de Sollima e uma ótima atuação de Jordan. Boa diversão e um bom ponto de partida para uma nova franquia.