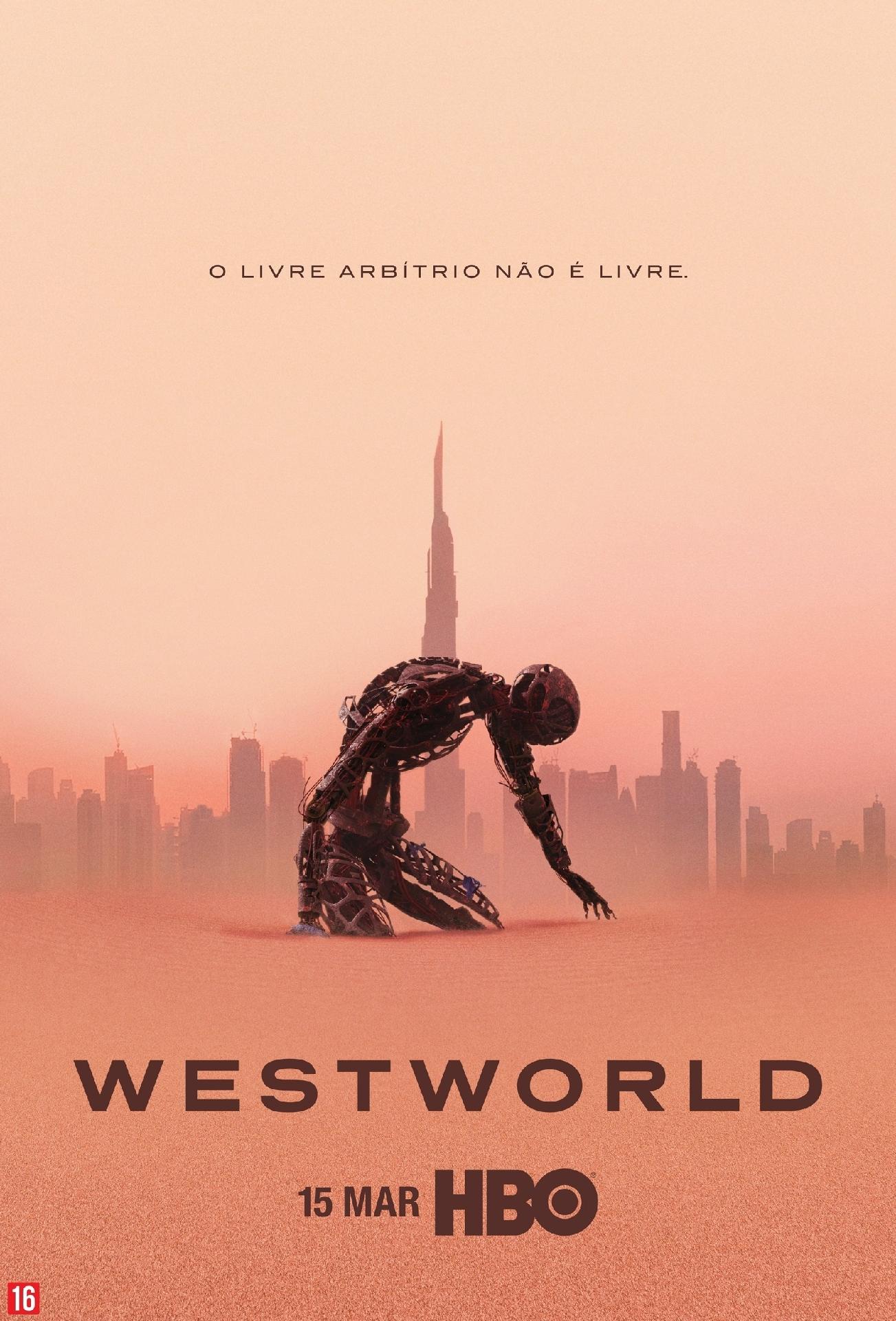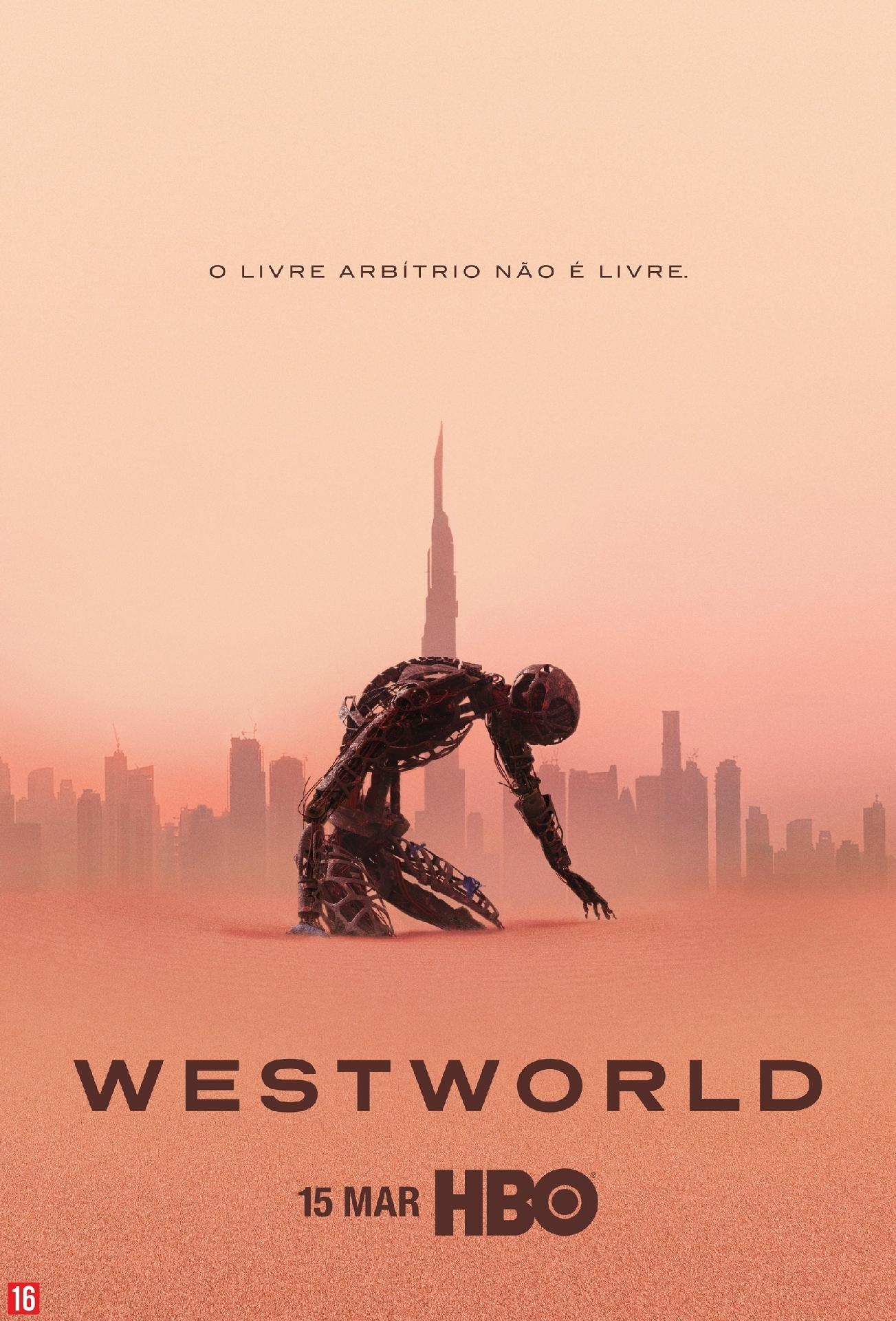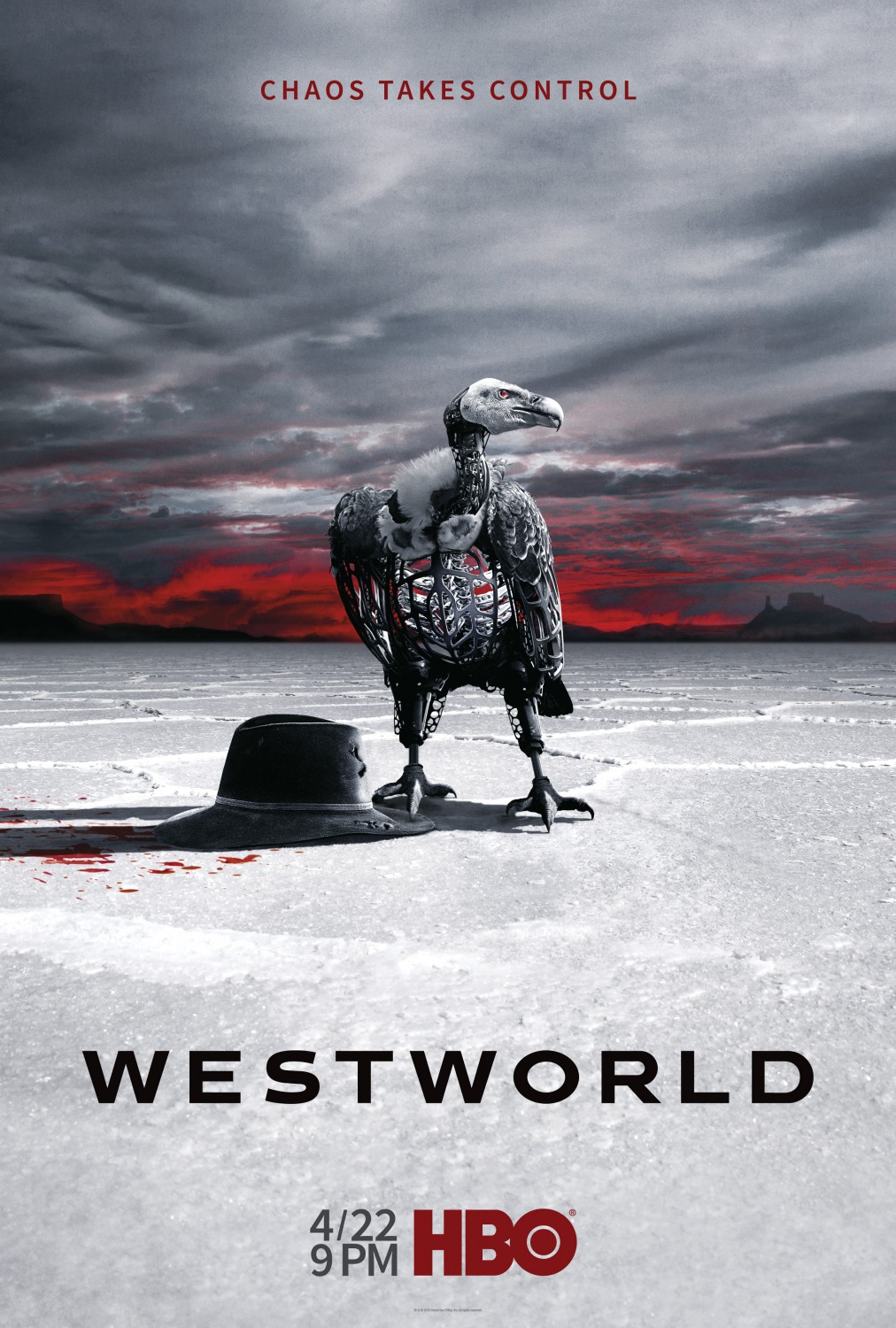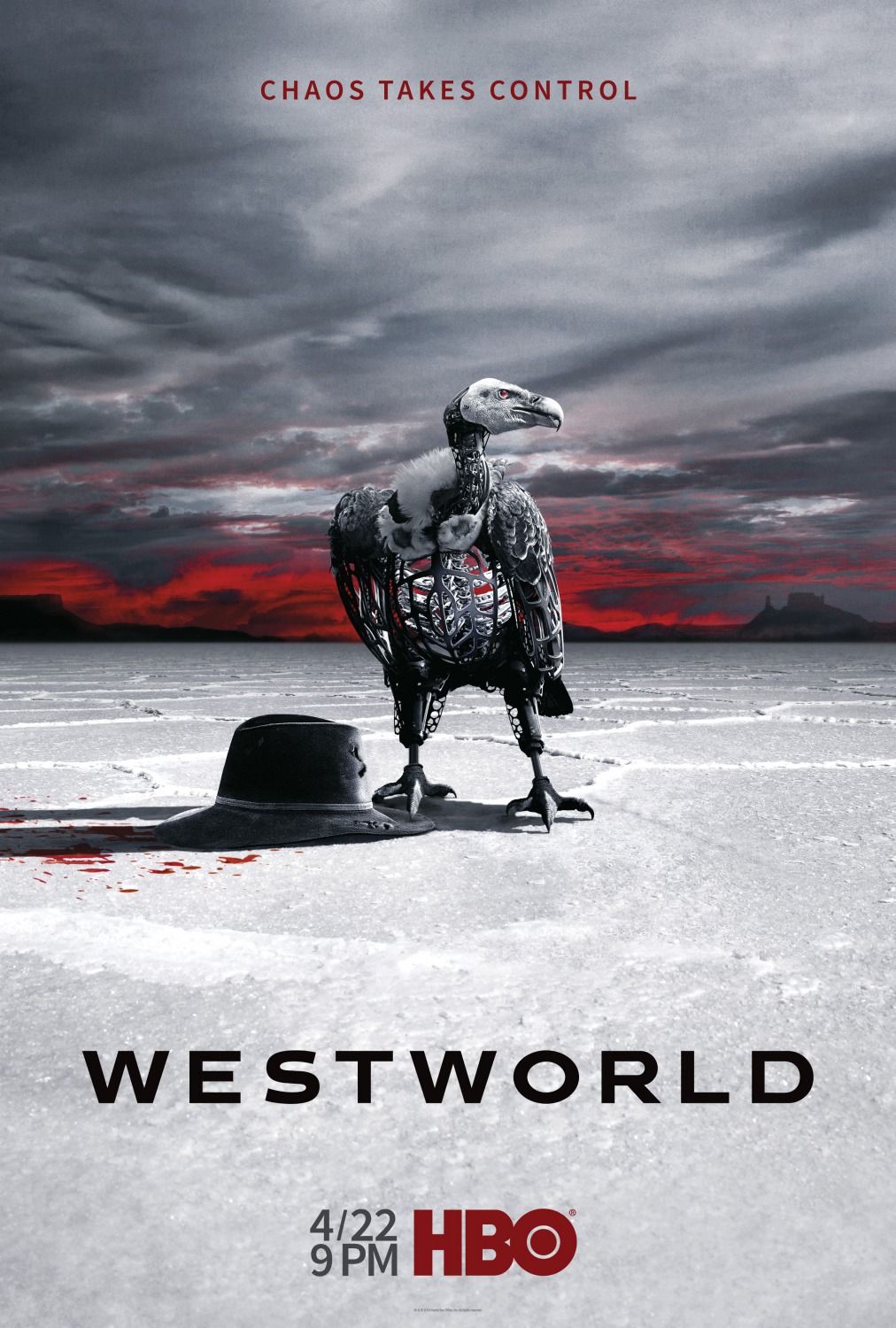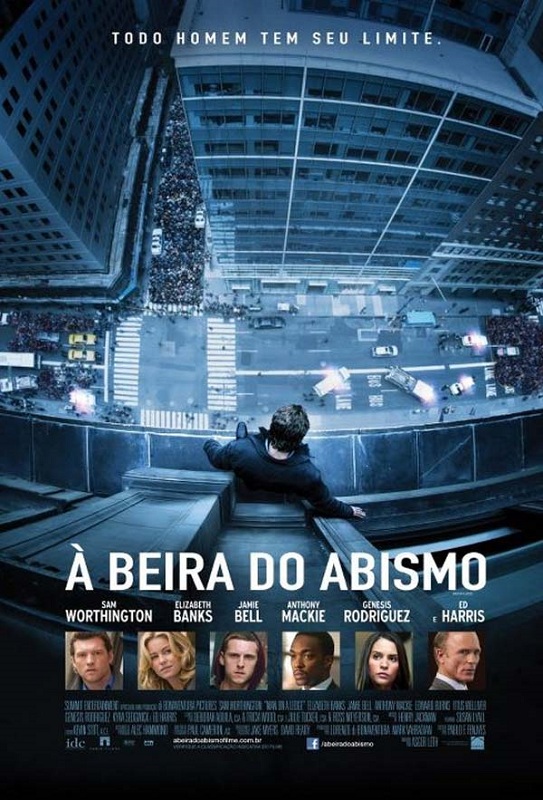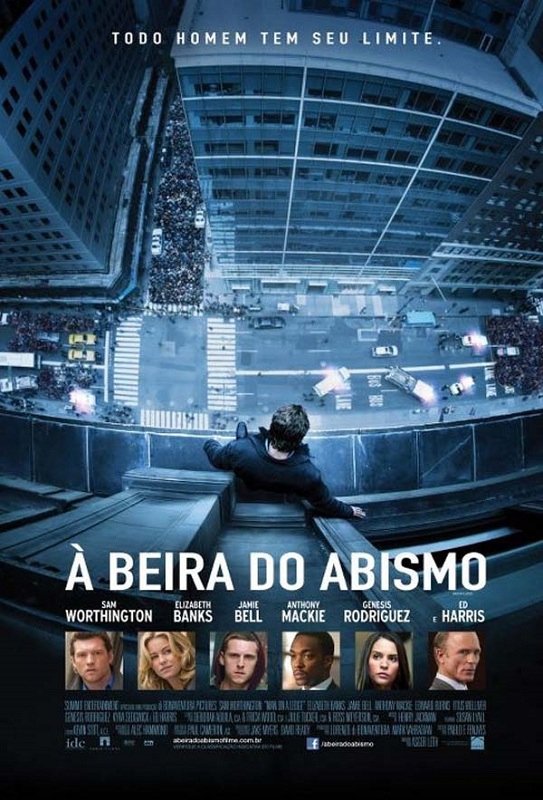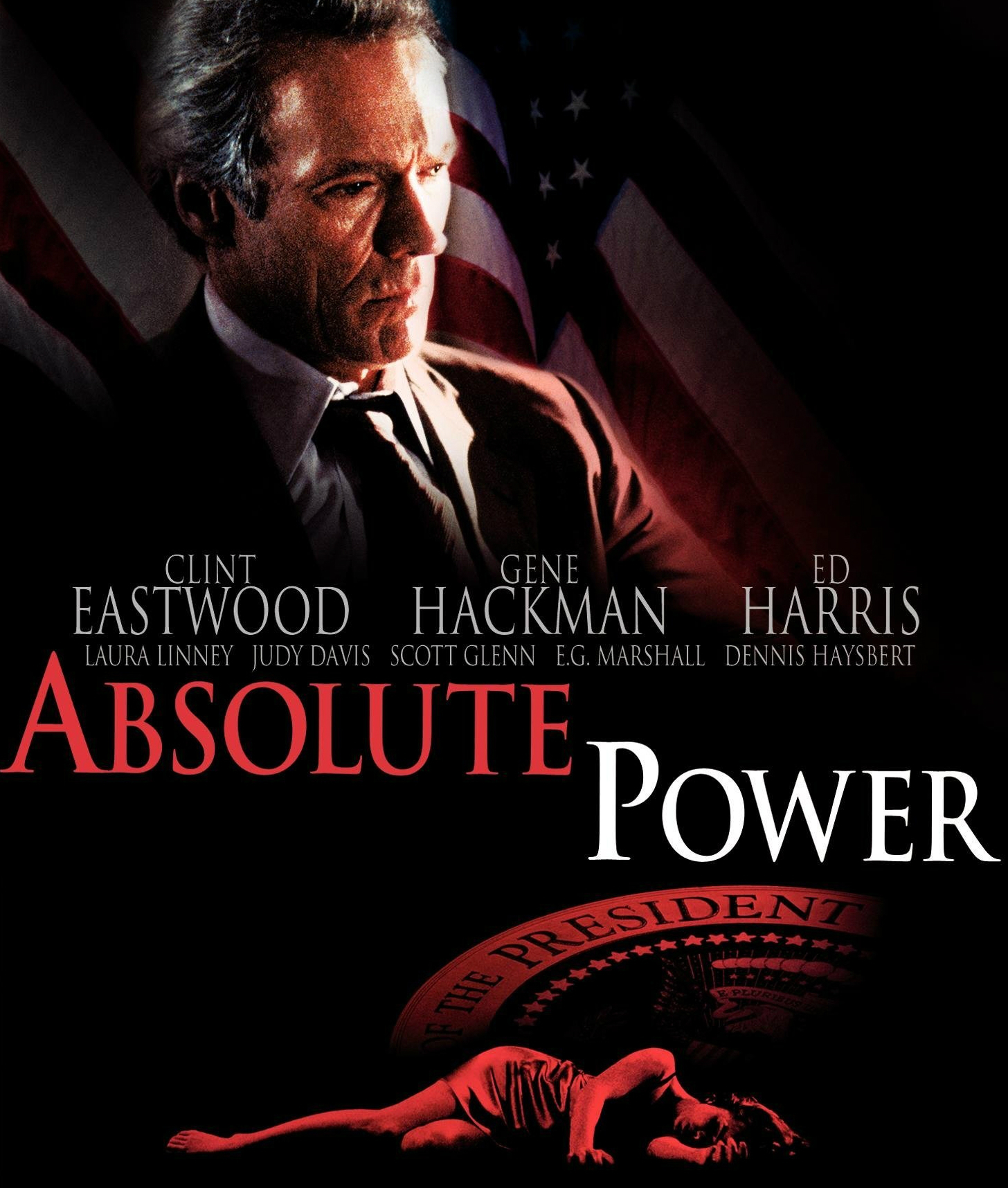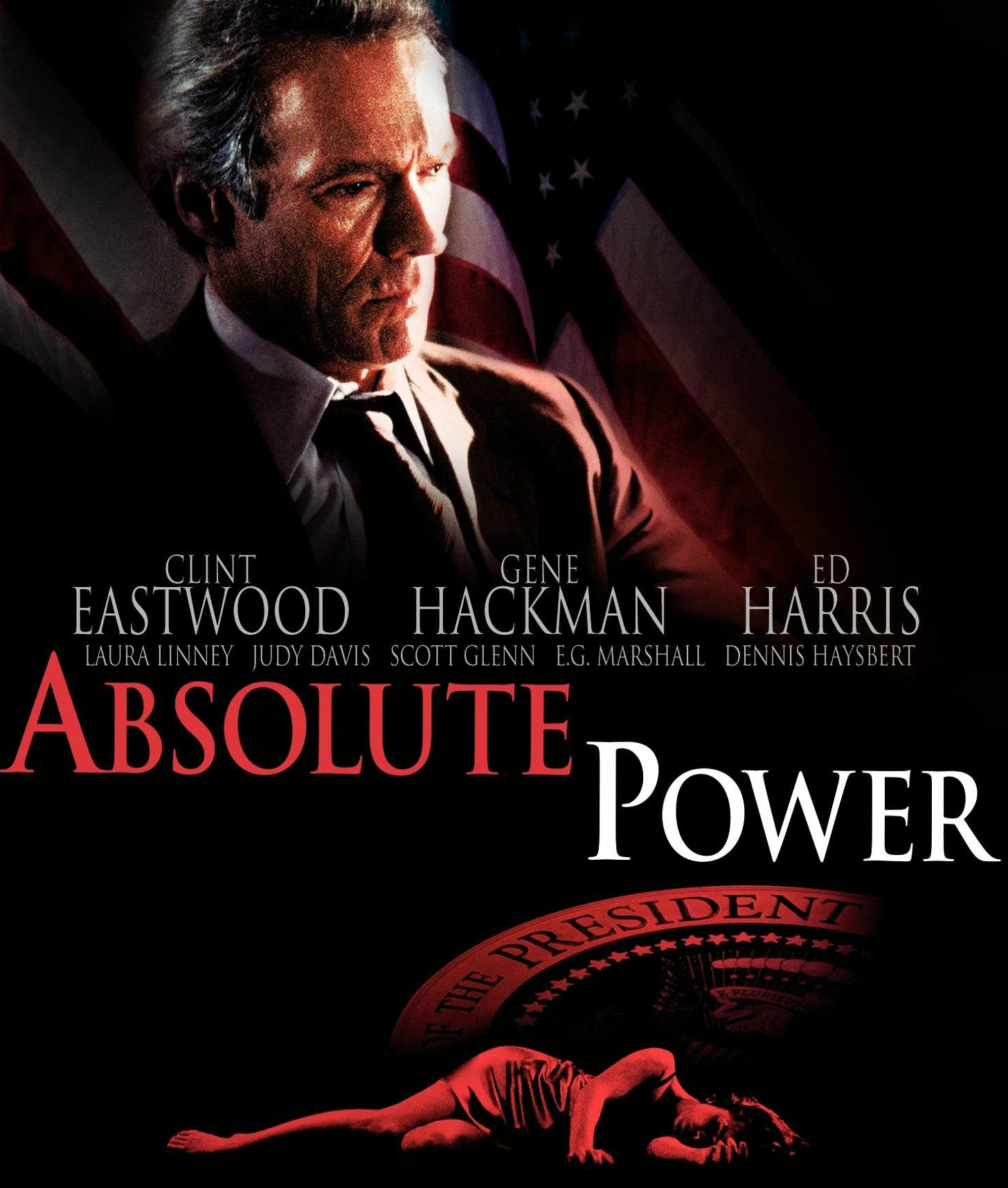Crítica | O Show de Truman: O Show da Vida

O Show de Truman: O Show da Vida narra a história de Truman Burbank (Jim Carrey), um sujeito cuja vida inteira foi vigiada e transmitida a partir de um experimento bizarro, transformado em programa de televisão. Dirigido por Peter Weir (o mesmo de Sociedade dos Poetas Mortos), a trama se desenrola lentamente, sem grandes exposições, dando pistas ao público de como funciona esse paradigma caótico e de como a sociedade civil vê o experimento.
A realidade proposta não é muito diferente da nossa, seja pelas ações de empresários ligados ao ramo da comunicação, visto principalmente no criador do programa Christoff (Ed Harris), ou nos espectadores que acompanham atentos cada momento do cotidiano da pequena ilha de Seahaven, em especial na performance do protagonista do show.
A situação de rotina de Truman é incômoda, mesmo antes dele perceber que algo está errado. O tempo todo o personagem parece ter o desejo de fuga daquele paradigma de vida perfeita. Nada parece real. Fazendo um paralelo com outra produção que discute a realidade e a ficção, em Matrix , o personagem Agente Smith (Hugo Weaving) afirma que humanidade não suporta um mundo, seja simulado ou real, onde apenas a felicidade ocorre. E embora Burbank não saiba o que acontece consigo, claramente tem a percepção de que algo está errado.
Carrey desenvolve bem o papel de homem que perde o controle aos poucos, prestes a entrar em colapso. Mas não por conta de um trauma, mas sim por mero acaso, pelo comum a uma existência ordinária. No roteiro de Andrew Niccol a distância entre paranoia e realidade é tênue para Truman. Devaneios parecem presságios. Há prazer por parte dos telespectadores para que ele descubra algo, uma curiosidade quase incontrolável que faz com que todos fiquem ávidos por assistir passivamente os dias de uma pessoa que mesmo desconhecida compartilha de uma intimidade forçada. Mesmo que a maior parte desses momentos sejam ordinários, como são os cotidianos de pessoas normais.
O Show de Truman mistura simulacro com reality show em uma época em que esse tipo de programa não era tão popular. Na análise de pessoas pretenciosas há uma comparação que não cabe no drama exibido com a alienação causada a quem assiste reality shows de confinamento, especialmente quando esses consomem a atenção das pessoas massivamente.
Aqui a tragédia de alguém se torna um espetáculo, uma exibição da intimidade sem escolhas. Não há curtição alguma e sim a sensação de estar sendo enganado. O argumento que põe esta obra e os realities em perspectiva é bobo, tenta colocar o entretenimento em castas completamente desnecessárias. O final do longa exala poesia. Toda a condução de Weir ajuda a favorecer o modo que o protagonista vê a vida, mesmo que na maior parte dela seu livre arbítrio tenha sido conduzido. O roteiro de Niccol faz comentários sobre os conceitos de Sociedade de Consumo do marxista Guy Debord e os eleva a um nível que se torna palpável. No entanto, não abre mão de enxergar as contradições do que é ser humano. Os mesmos que sustentavam o sistema que escravizava Burbank também comemoram sua saída, alguns até mudam de canal após tudo acabar, procurando novas formas de gastar seu tempo, pois é para isso que vemos televisão, fugirmos de nossas próprias misérias.