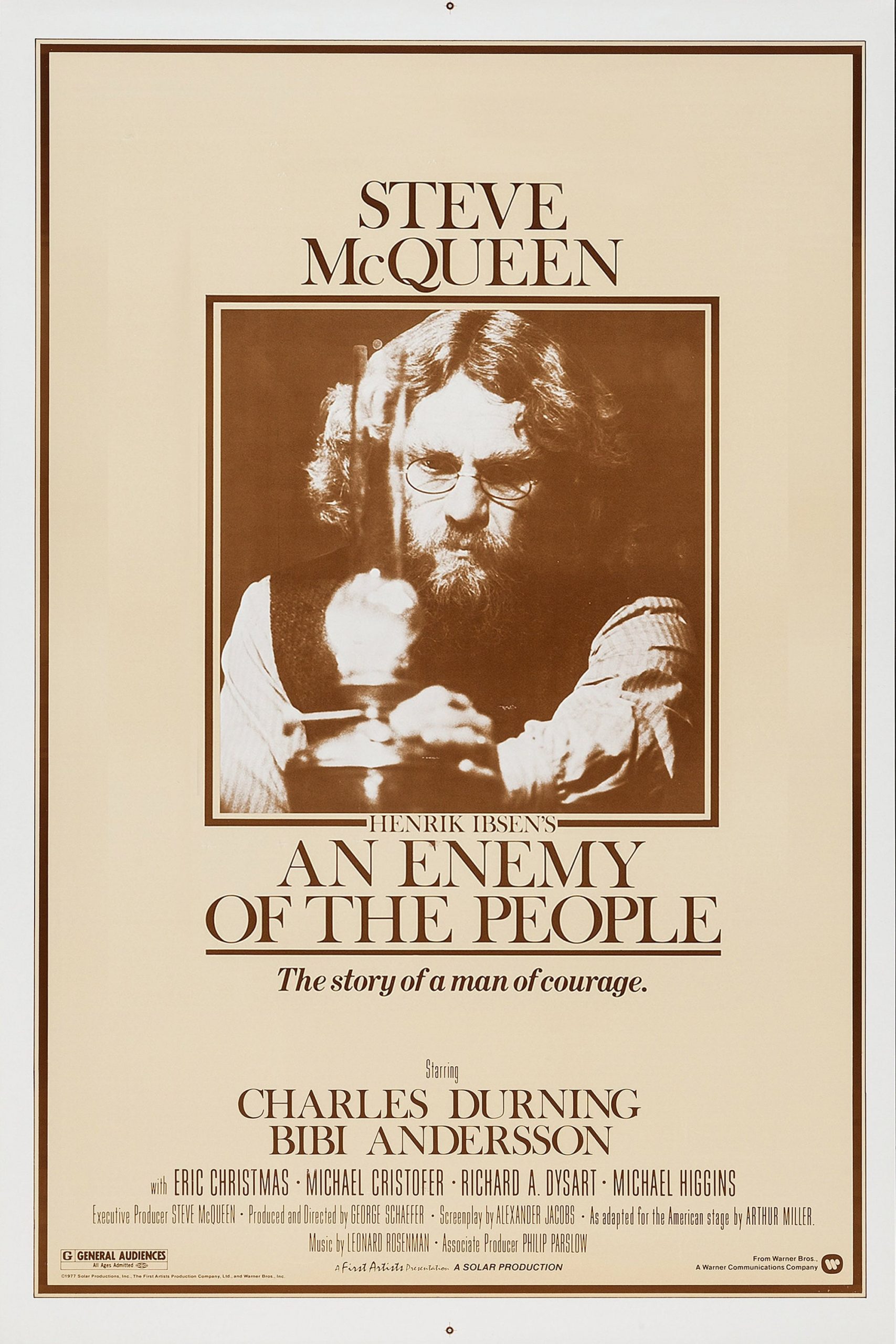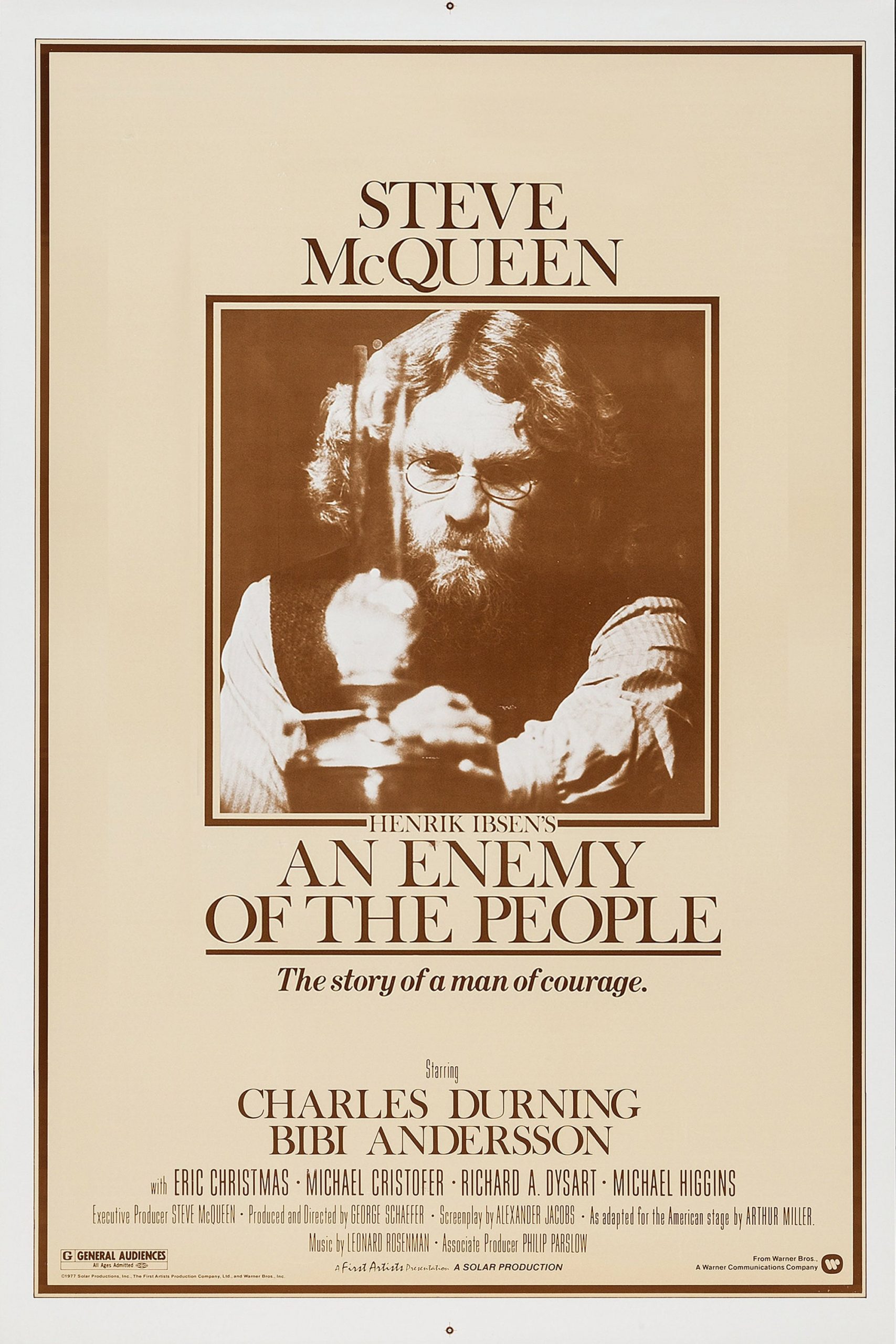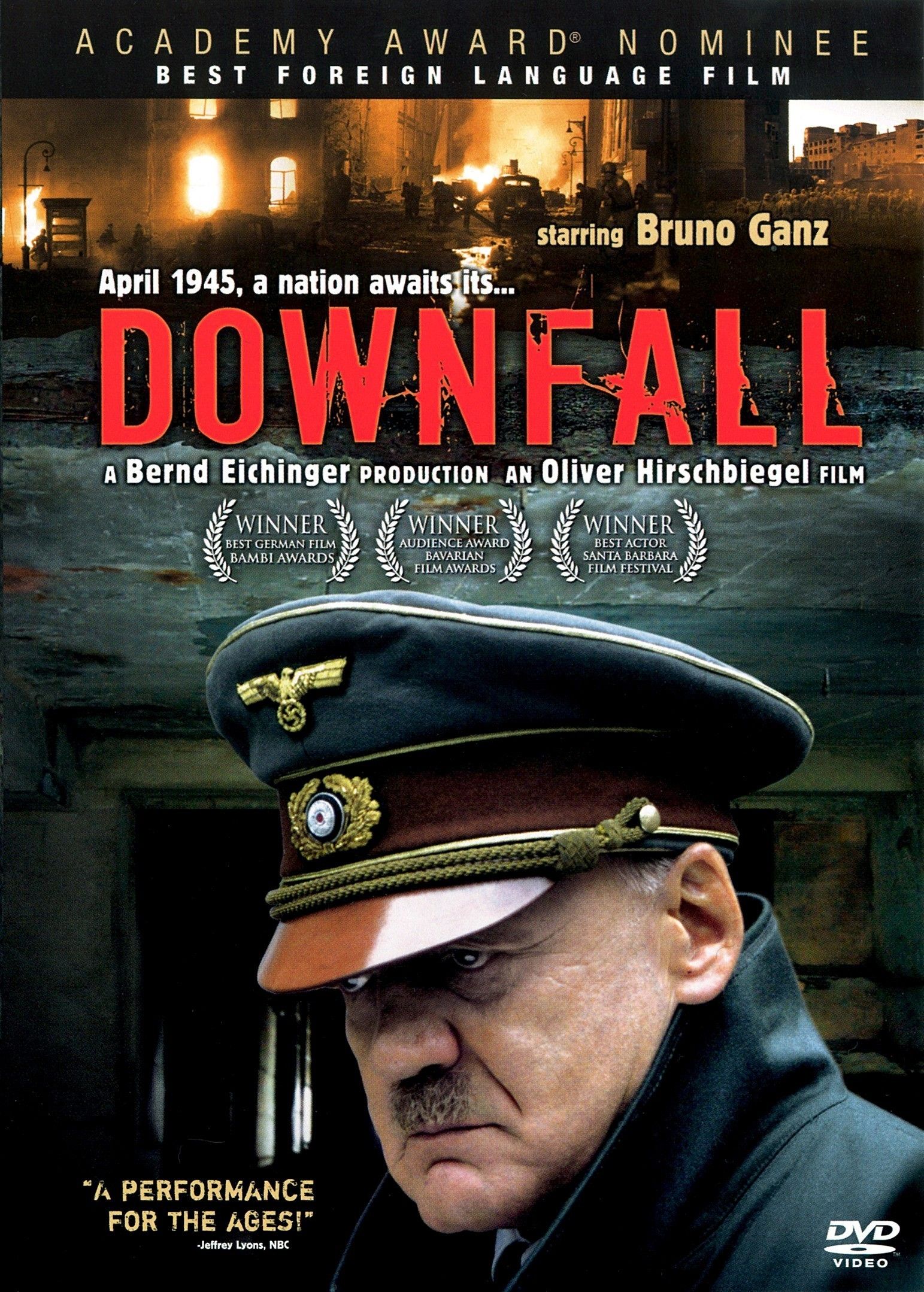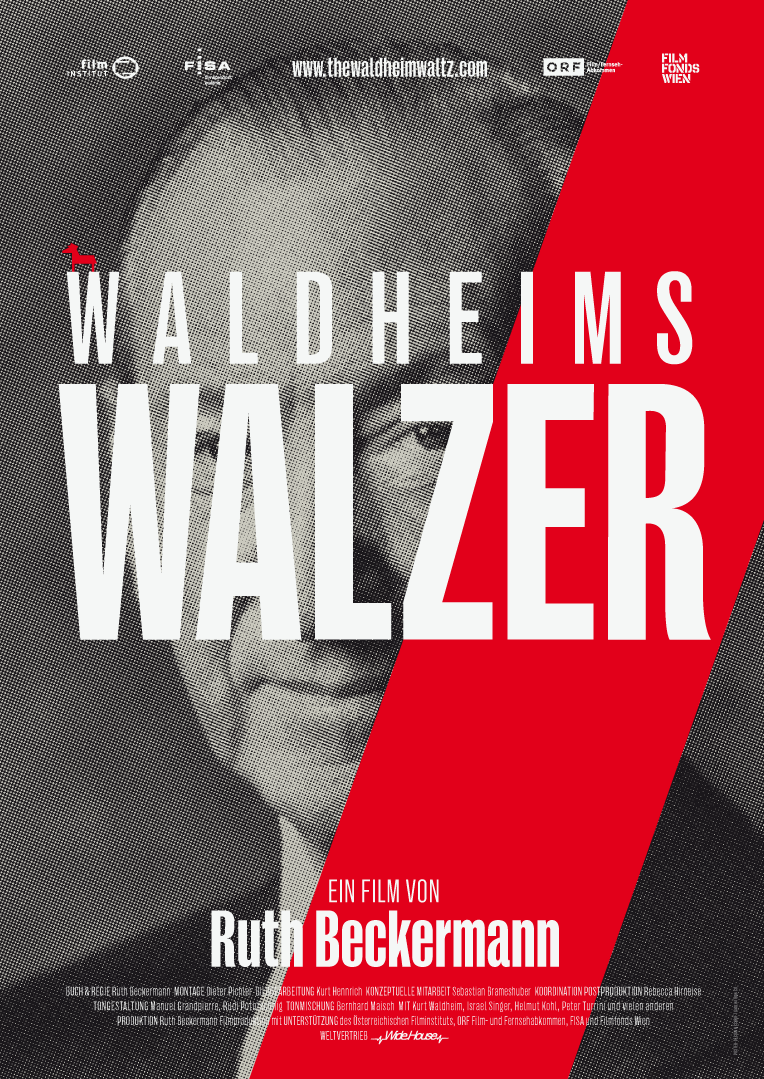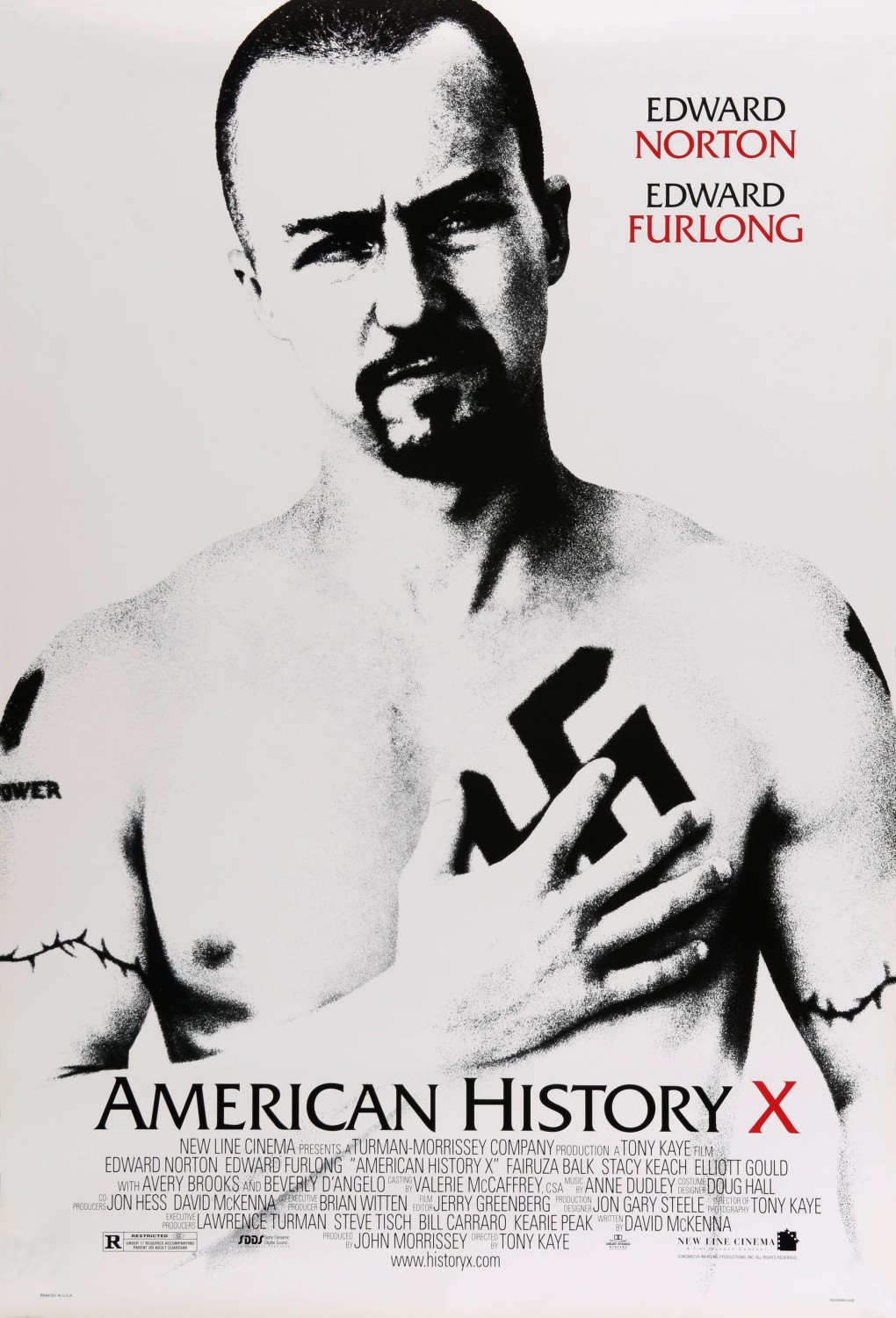Crítica | MLK/FBI

MLK/FBI é um documentário de Sam Pollard, diretor conhecido pelo elogiado The Talk: Race in America. Aborda a os arquivos do FBI sobre o reverendo e ativista Martin Luther King, indicando a abordagem completamente parcial e desonesta em cima dessa figura. O filme começa com falas do presidente republicano Ronald Reagan em um discurso bizarro, comentando a historia dos Estados Unidos e as manifestações populares, sobretudo as raciais, como se fossem iguais as batalhas entre bem e mal dos filmes de mocinho que protagonizava quando novo, relegando o papel de vilão aos grupos protestantes de maneira nada sutil.
É estranho como discursos vindos de classes tradicionalmente tratadas como inferiores são necessariamente associadas a malignidade por parte de figuras de autoridade, mesmo quando o tom da fala é conciliatória como era no discurso de King. O pastor era considerado o negro mais perigoso do país, o homem visto com maior potencial destrutivo para o status quo e o regime de poderes que vigoravam na segunda metade do século XX.
O filme possui um ritmo um pouco truncado, mas toda a investigação da produção a respeito da paranoia do país e da forma como J. Edgar Hoover lidava com a questão de Luther King ser subversivo é muito bem escrutinada. Na tela se expõem as estranhas de um país que não sabe lidar realmente com as liberdades individuais, embora todo o discurso, para dentro ou fora de suas fronteiras, dê conta dos Estados Unidos como uma pátria que valoriza suas origens democráticas e a liberdade de pensamento e expressão.
Pollard não tem pudor em mostrar o quão irresponsáveis e injustas foram as autoridades, levantando mentiras contra o pregador, revelando supostas indiscrições, frutos de um reacionarismo tacanho de quem estava no poder em uma época de ebulição e luta de classes. O filme poderia ser mais enérgico, mas de modo algum aliena o espectador.
Há uma espera, muito justa aliás, para que em 2027 sejam reveladas as fitas originais com os registros da agencia sobre Luther King. Em meio a tantos boatos e fofocas a respeito da vida pessoal de MLK, a obra de Pollard consegue levantar bons indícios de perseguição ao reverendo, que podem inclusive ter influenciado na brevidade de sua trajetória. MLK/FBI é elucidativo e não cai em armadilhas conspiratórias. Além de conversar muito bem com os recentes Judas e o Messias Negro e Os 7 de Chicago, também acrescenta bons temperos aos tempos atuais e as complicadas situações e batalhas travadas contra o reacionarismo que vigora.