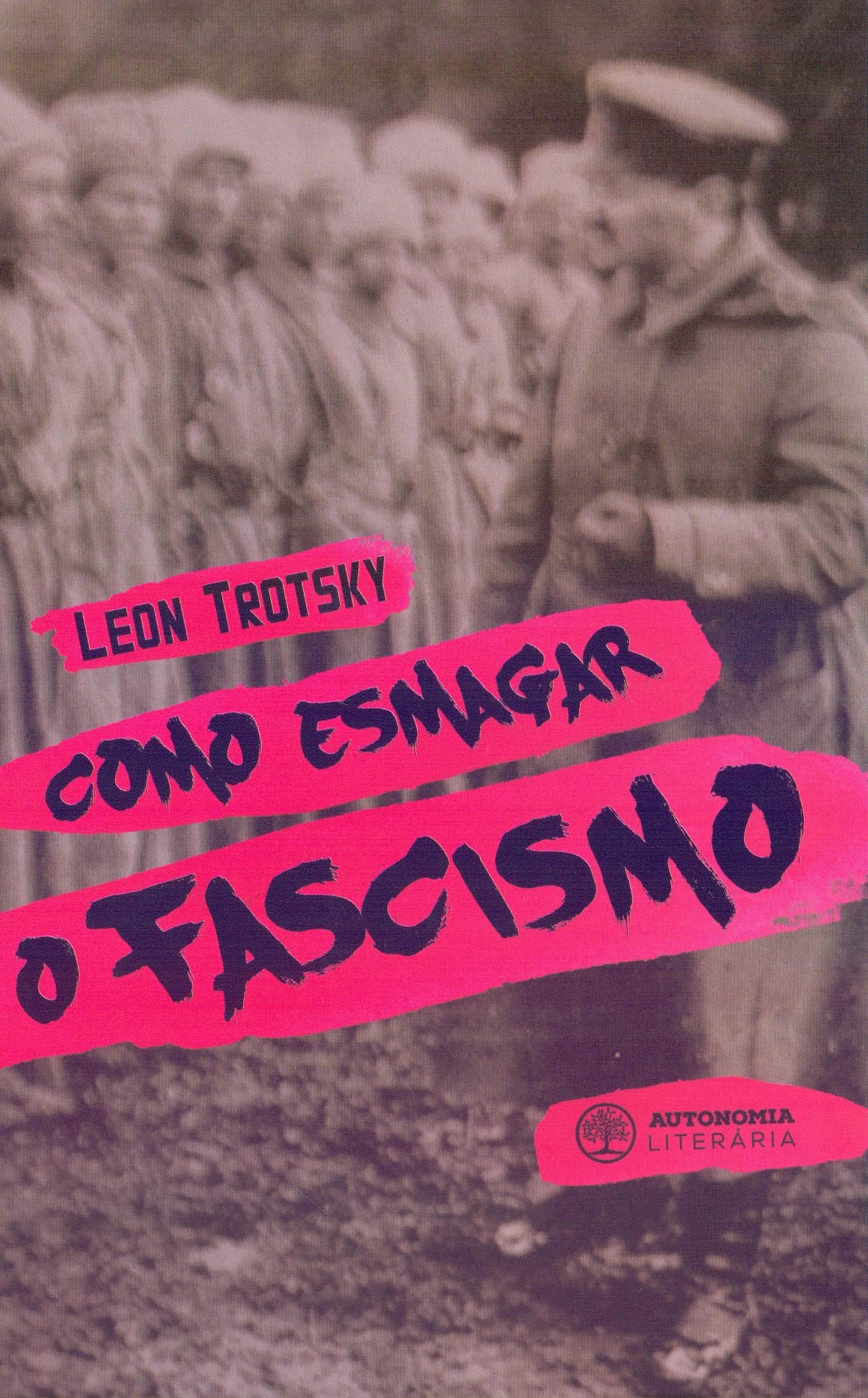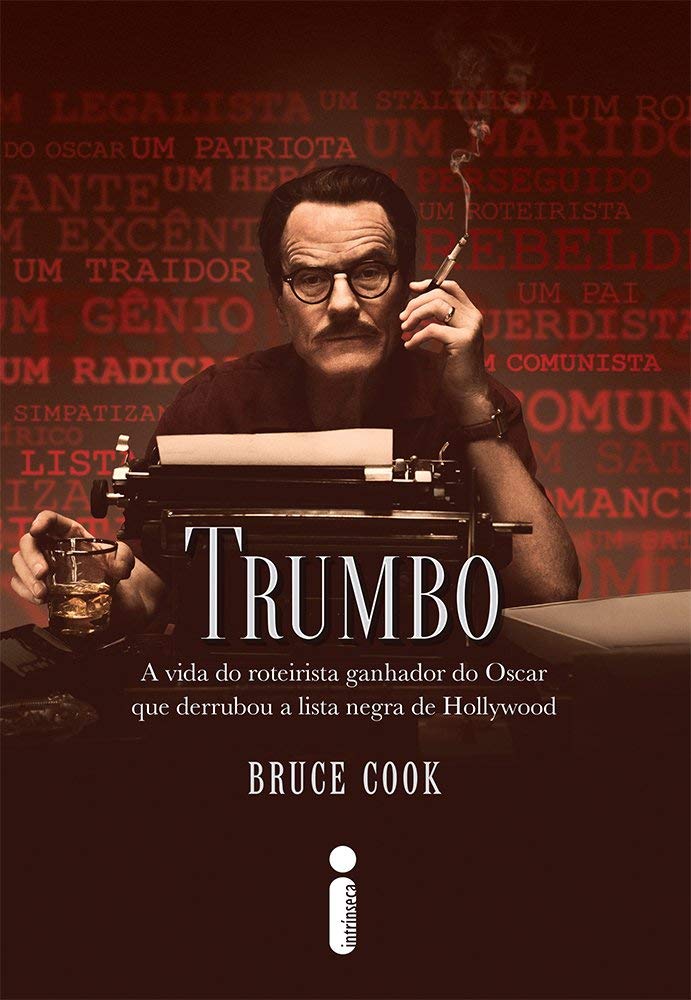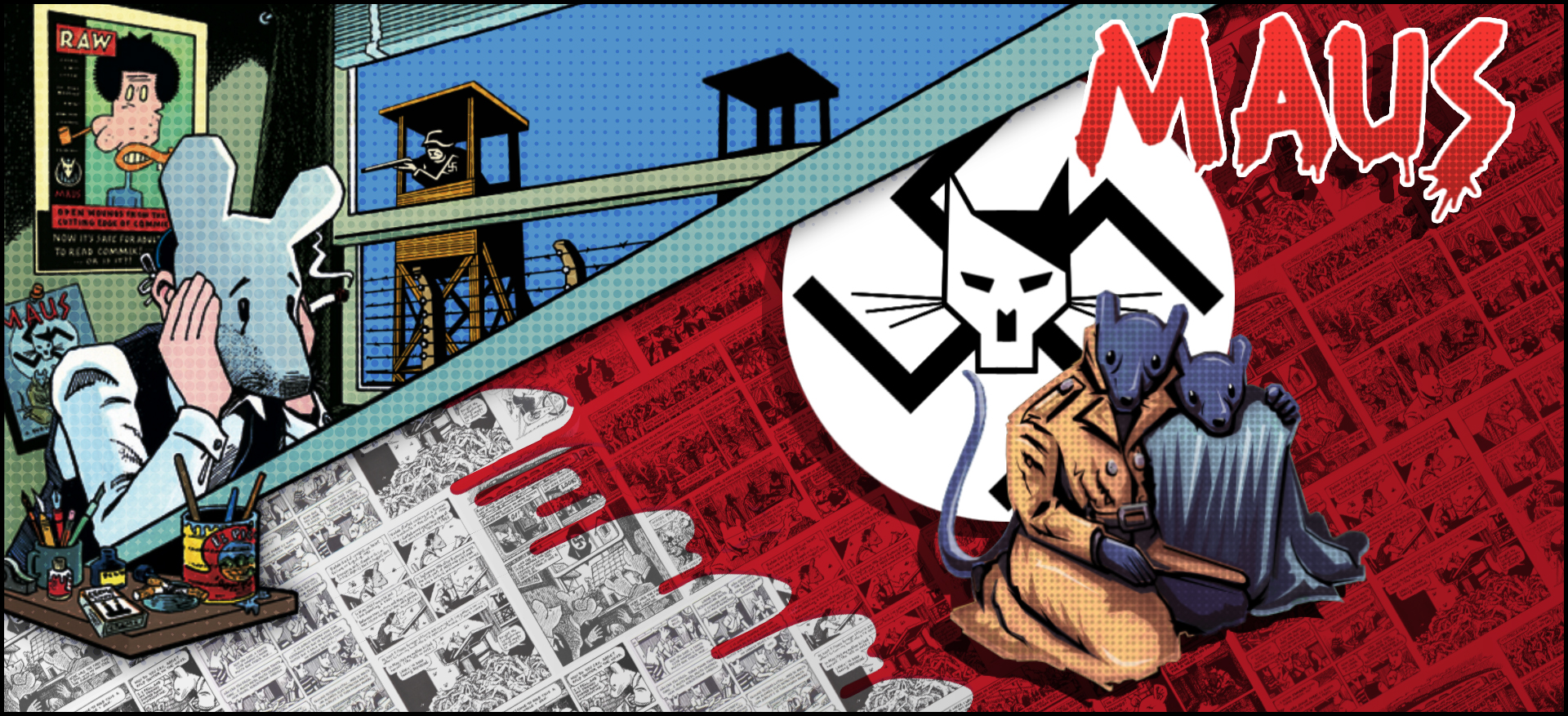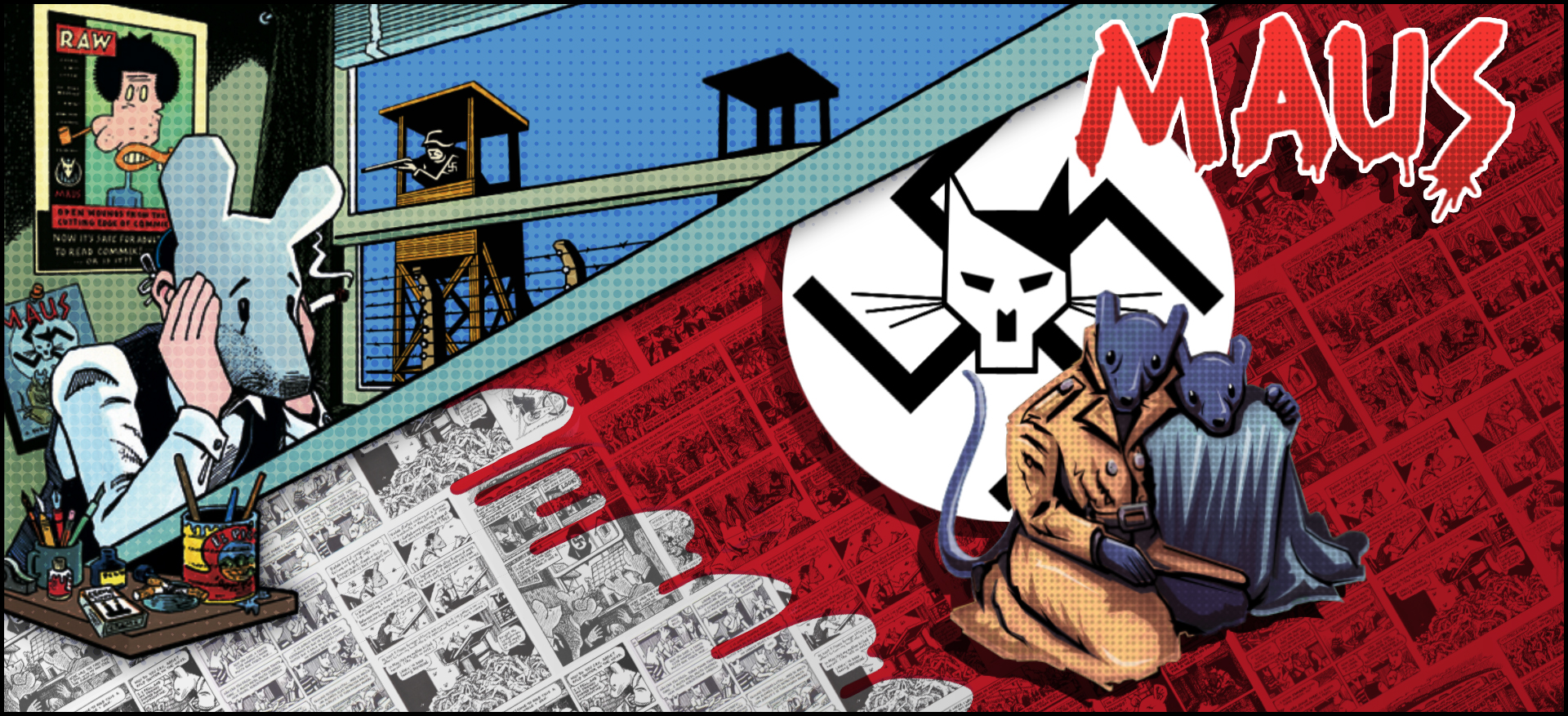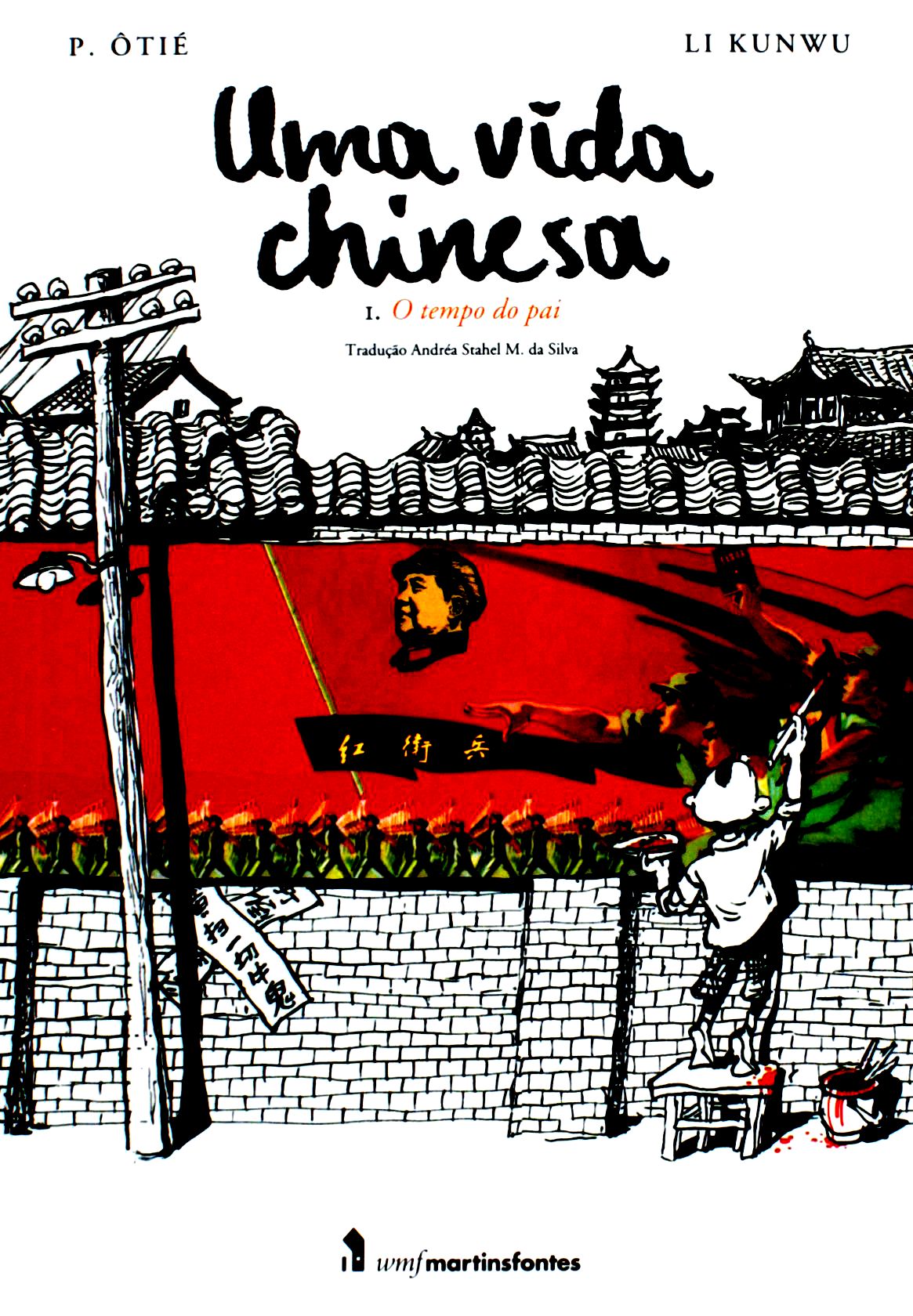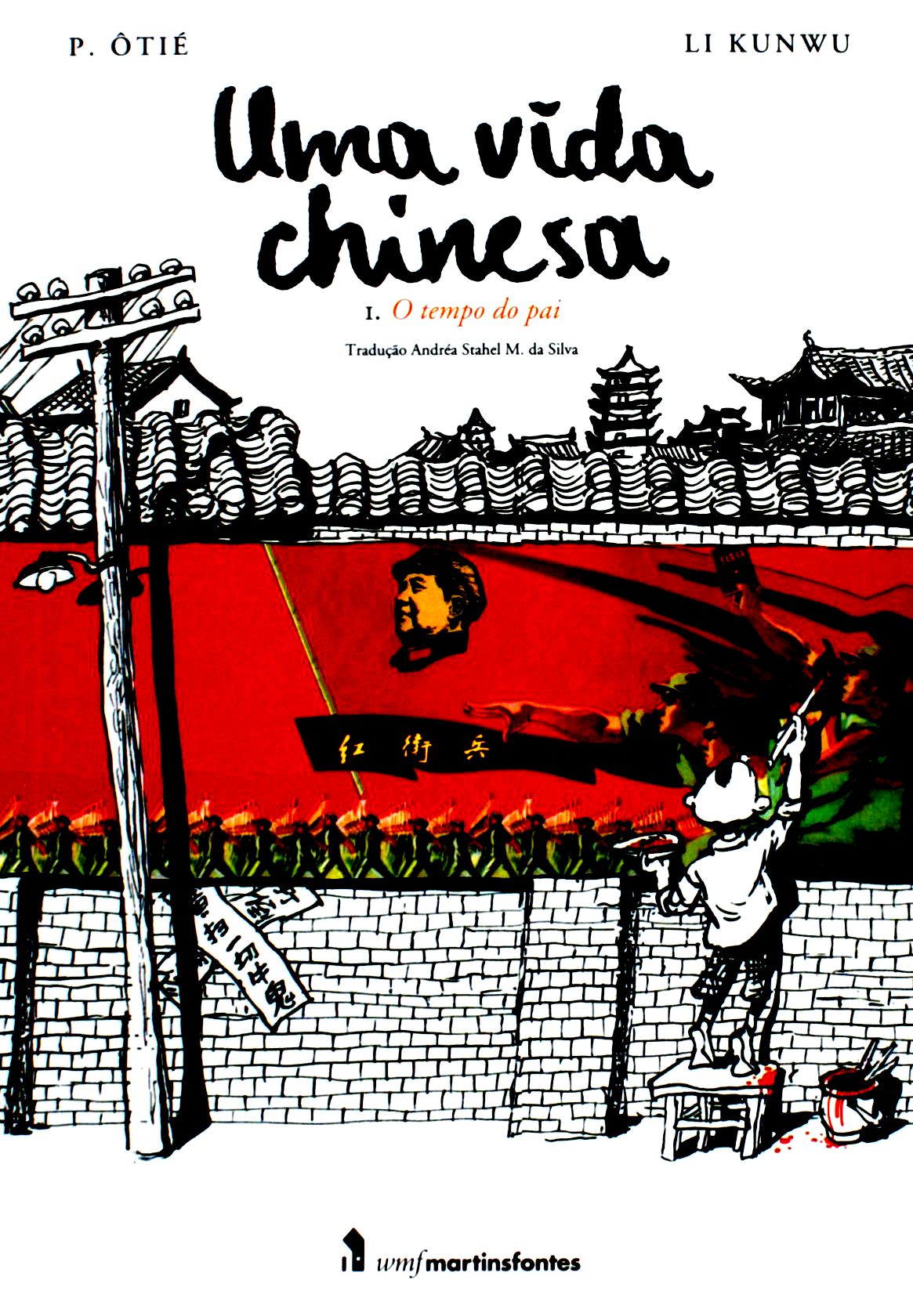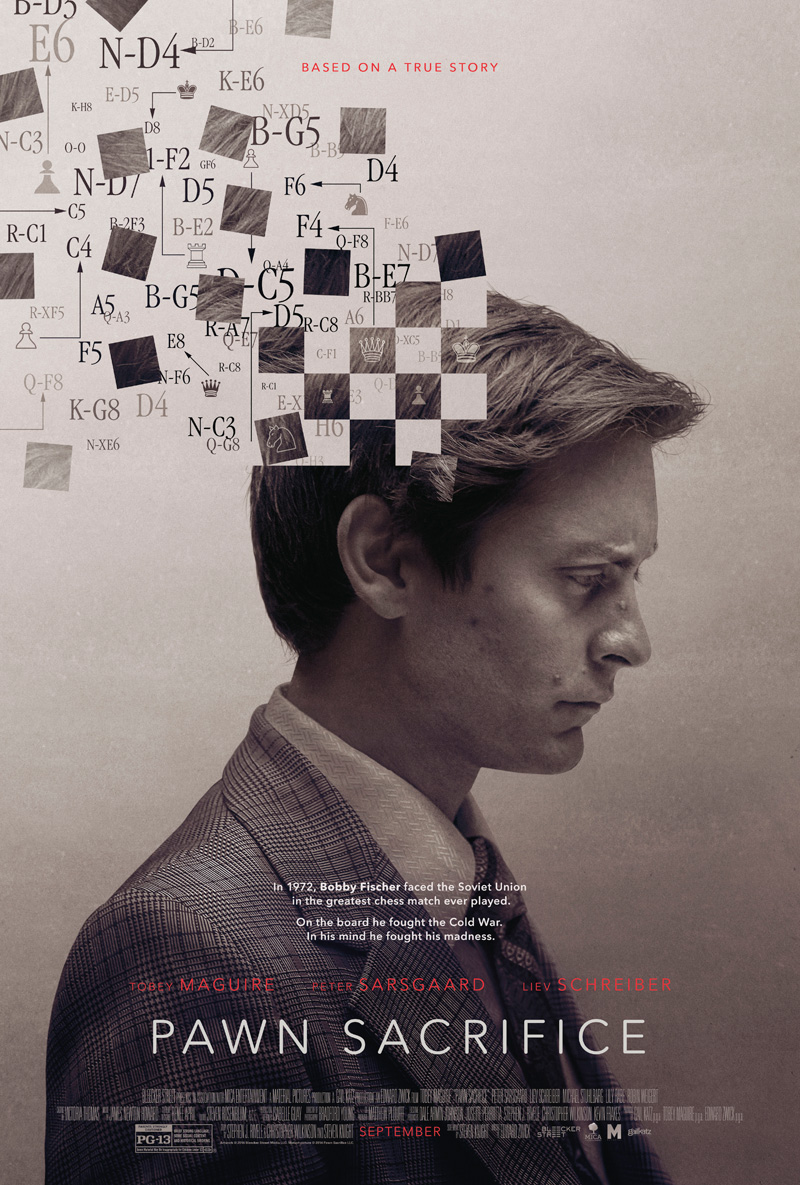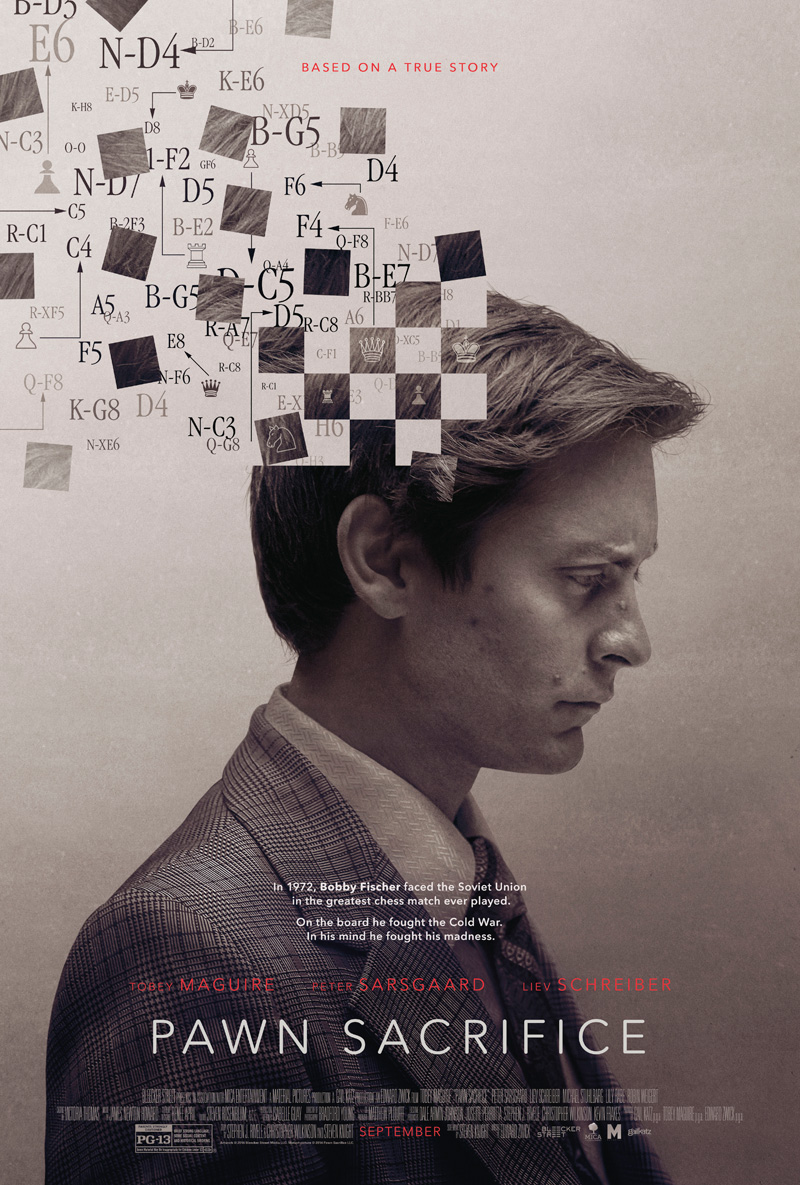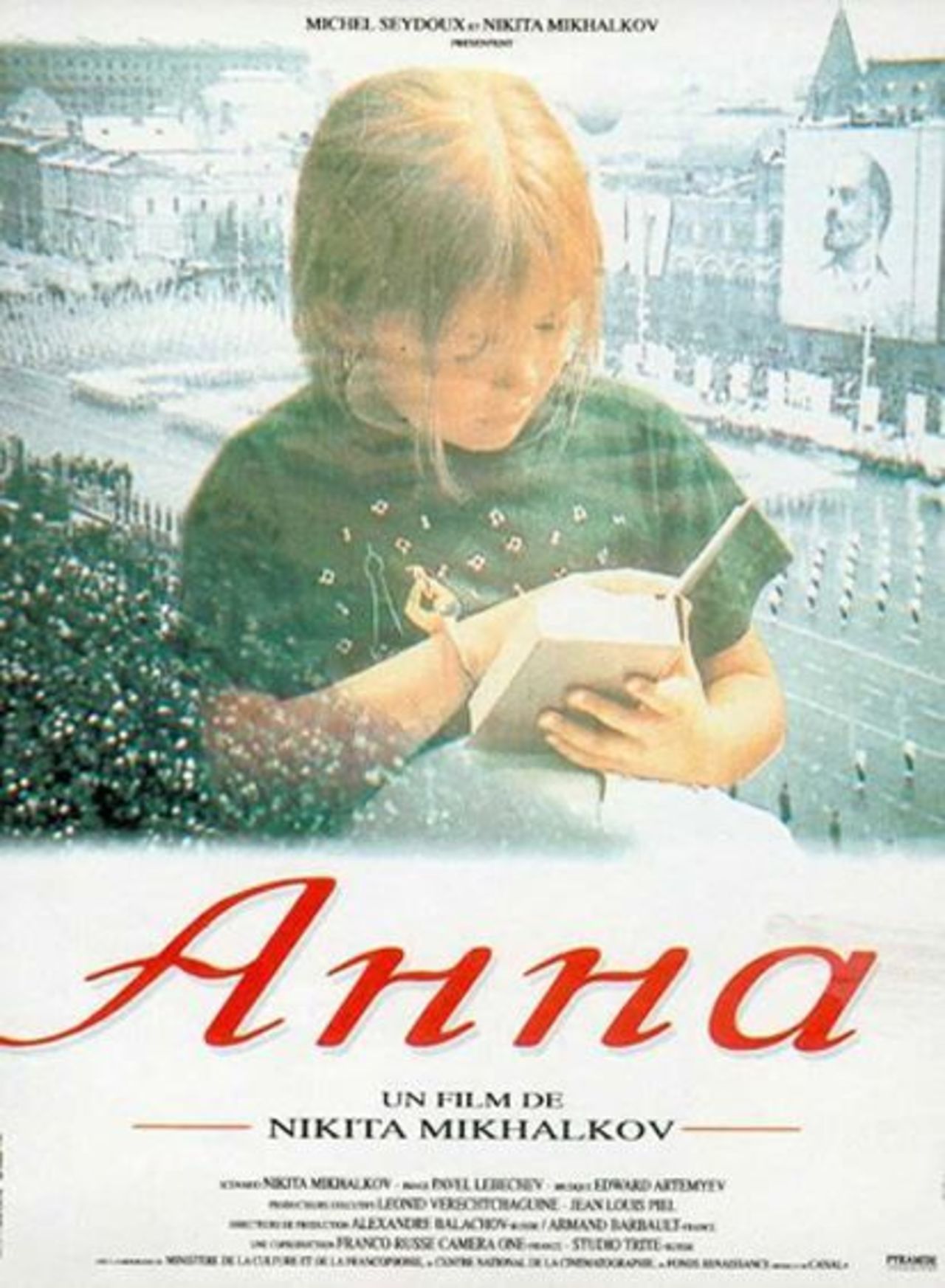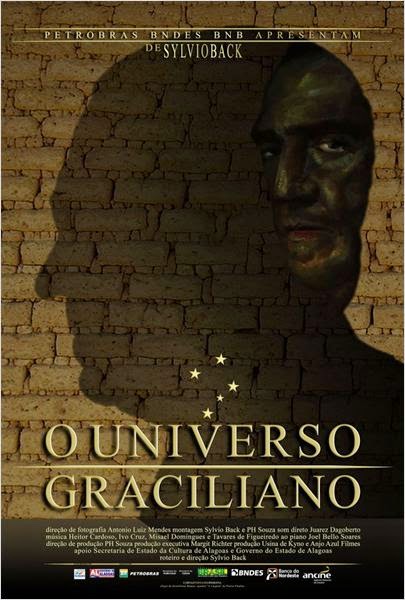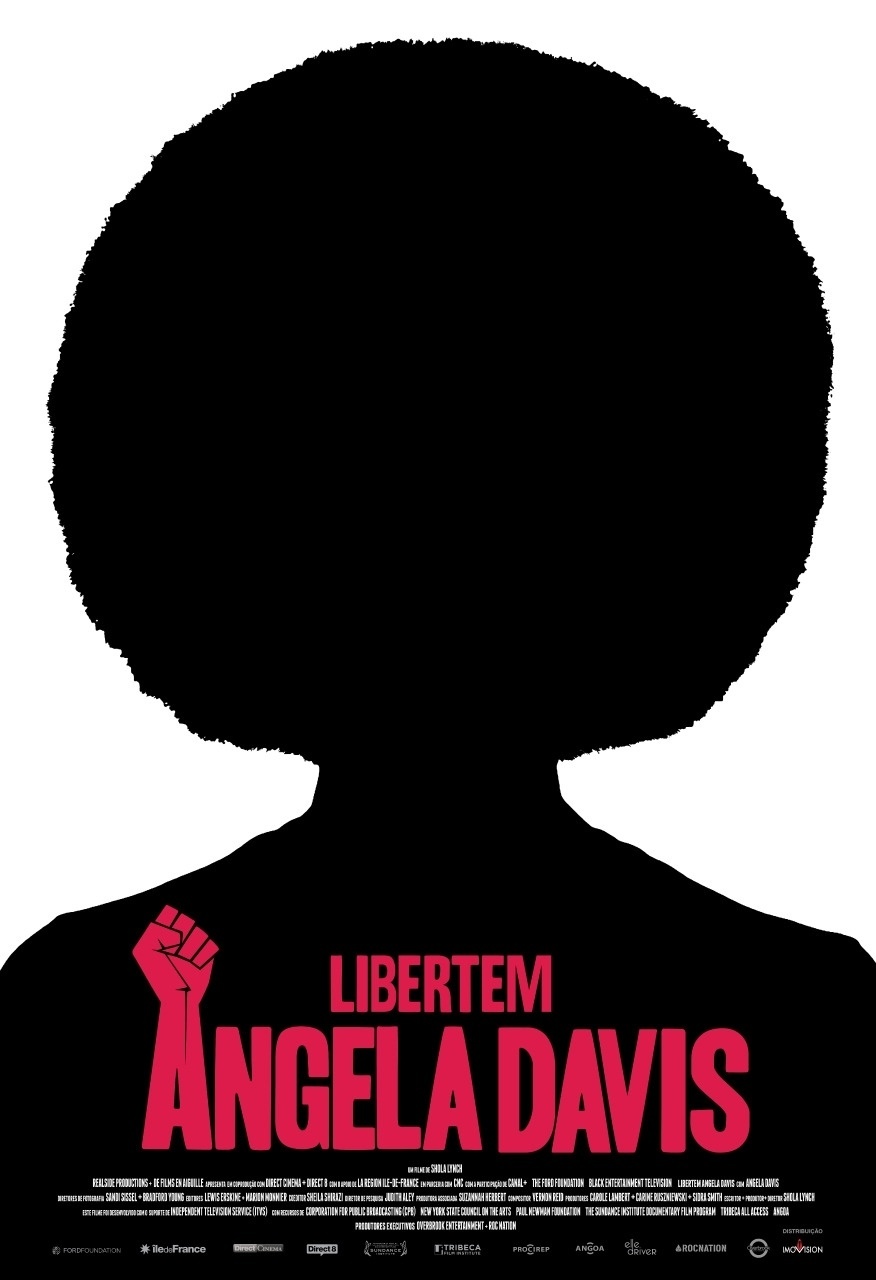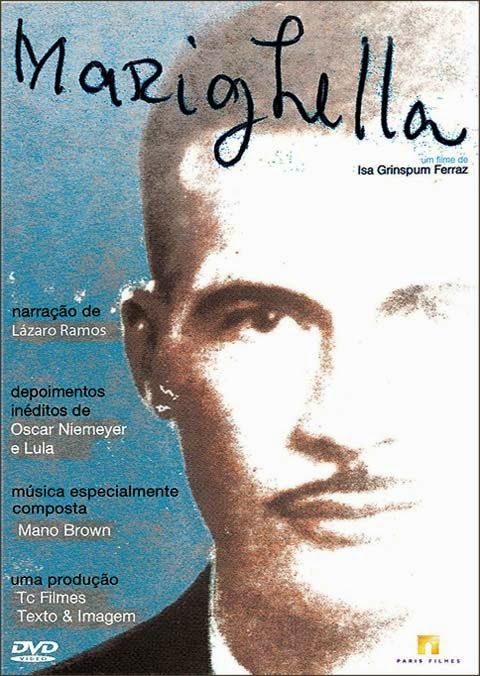Crítica | Gorbachev.céu

Gorbachev.Céu é um documentário curioso. Além de dar voz a uma figura política controversa do passado, o ex-secretário geral do Partido Comunista e ex-presidente da União Soviética Mikhail Gorbachev, também se permite ser silencioso e contemplativo. Vitaly Mansky mergulha na identidade e intimidade do homem a quem se atribui o fim do sonho socialista, com ele já limitado fisicamente, embora bastante lúcido.
Gorbachev fala a respeito do desprezo que parte dos russos tem por sua figura, especialmente da imprensa, ainda que encare o momento político atual do país como continuação do seu trabalho. Ele se sente um herói da política e da democracia, vê Vladimir Lenin como um deus, mantém um postura serena e calma na maior parte dos momentos e se diz, reiteradamente, que foi mal compreendido ao longo de seu mandato.
O filme tem um ritmo lento, acompanhando as falas e pensamentos de seu biografado, os poucos momentos enérgicos resultam dos resumos que ele faz a respeito de figuras notáveis do regime soviético, especialmente as óbvias como Lenin e Josef Stalin, e outros menos lembrados como Yuri Andropov e Fyodor Kulakov. Suas opiniões são contundentes e curiosas, é possível enxergar em suas falas semelhanças com políticos brasileiros, incluindo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que além de não gostar de ser associado à direita é escorregadio ao falar dos seus erros como governante.
Mansky considera Gorbachev um pária, e de fato, ele é. Contudo, o lado que ele escolhe defender em seu filme é que Mikhail foi injustiçado, a visão apresentado pelo documentário era que a URSS era nefasta e que a classe trabalhadora não teve tantos avanços. Isso não impede que entre cineasta e entrevistado haja atritos ou mitificações, Gorbachev responde de maneira atravessada a indagação de que a Rússia não é um país de democracia longeva, e de que seus tempos não fugiam do autoritarismo, e mesmo sem ter a mesma força de quando era jovem, ele se mostra vaidoso e resoluto, embora na maior parte do tempo seja cortês.
Parece um castigo que o presidente que estava no poder na dissolução da potência soviética esteja vivo e consciente, beirando um século de vida, possivelmente podendo acompanhar as duras críticas feitas sobre sua pessoa. Apesar da mornidão e do viés liberal existente no filme, Gorbachev.céu retrata um importante ator político do século XX, e ajuda a visualizar o mapa socioeconômico de hoje e ontem.