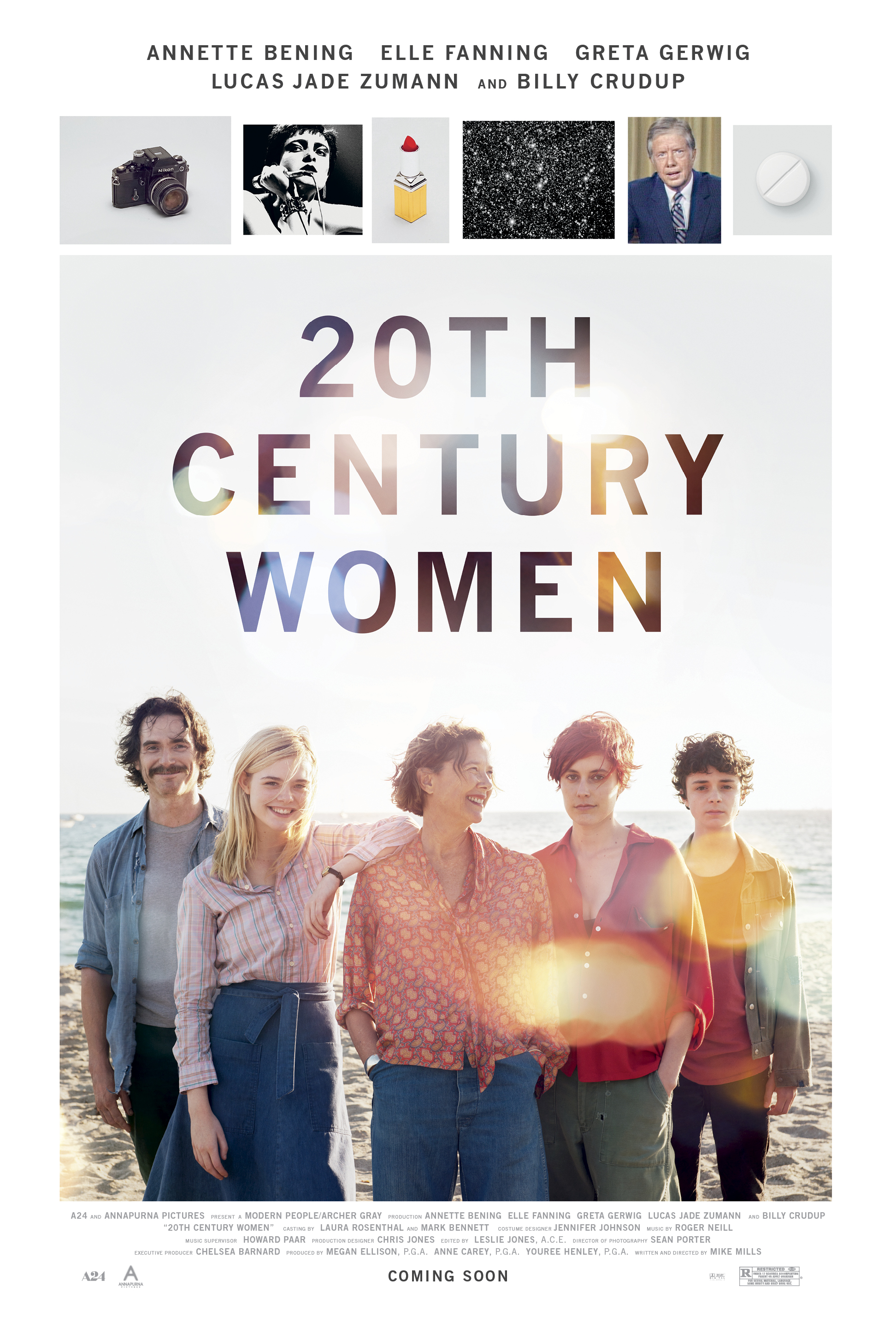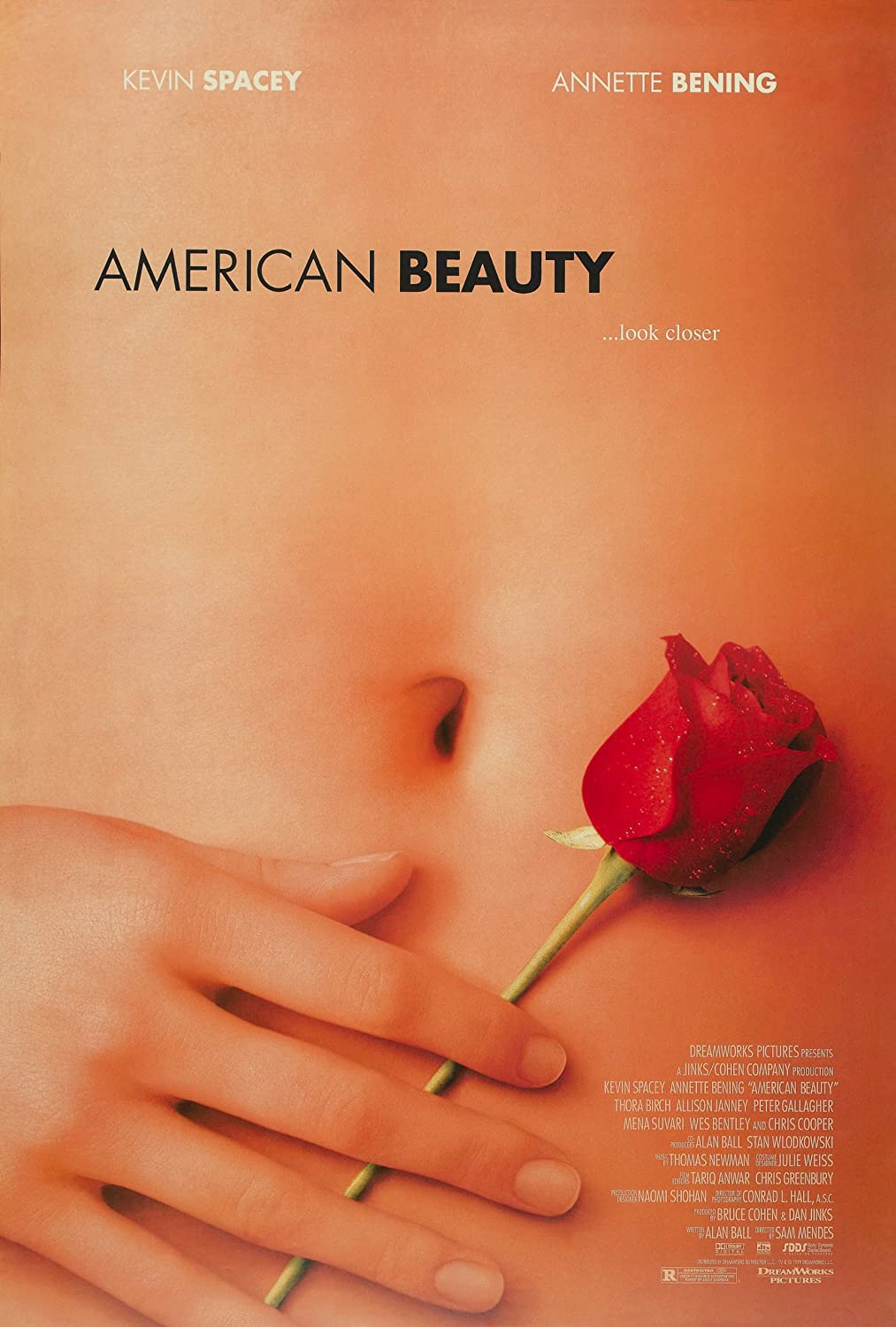
Crítica | Beleza Americana

O filme de Sam Mendes, lançado em 1999, abre com um vídeo caseiro. Nele, dois personagens conversam, com um deles focado pela câmera. Um conteúdo dedicado às agruras dos adolescentes dos anos noventa e com a inconformidade do sujeito ordinário. Logo entra a narração de Kevin Spacey, seu personagem Lester Burnham fala a respeito de sua vida monótona e tediosa, poetizando sobre seus últimos momentos.
Beleza Americana é um filme de linguagem direta. Não é difícil entender seus dramas. Os personagens são realistas apesar de exagerados. Além disso, são ricos em sentimento e psicologicamente complexos, principalmente a família Burnham, que além de Spacey, é representada por Annette Bening e Thora Birch. Lester, Carolyn e Jane vivem no subúrbio e são bastante frustrados com a vida que levam.
Os Burnham formam o trio perfeito, como uma trindade simbólica do americano médio. Unidos aos coadjuvantes, ainda tem uma infinidade de estereótipos em cena: o militar inseguro sexualmente e enrustido, o casal gay super simpático, o garoto esquisito e bonito que se vale das aparências para lucrar e seguir sua vidinha medíocre, a falsa menina fogosa, etc.
Todos cooperam para essa mini fábula moderna e cínica sobre a vida do americano comum. O fio condutor dessa trama é Lester, um sujeito fraco de mente, que se deixa levar por qualquer vento e circunstância, alguém volúvel que está cansado de se enxergar um perdedor. Sua atitude disruptora mira quebrar essa bolha de monotonia, e sua jornada passa a ser a do homem simples que tenta sair da letargia e da rotina de jantares enfadonhos e programas sociais em que a falsidade impera. Apesar de ser bastante tolo, parece estar acima dos outros personagens. Ao contrário de sua esposa, Carolyn, ele percebe sua miséria existencial e aparentemente aceita-a.
O roteiro de Alan Ball sobrevoa o estado letárgico geral, tanto na condição catatônica de Barbara (Allison Janney), como na hipocrisia de seu marido (auto engano como representação da letargia) até chegar no sujeito ordinário cansado de ser servil. A geração baby boomer, segundo a fábula, está fadada a ser estática, enquanto a geração posterior busca ser diferente a todo custo. Mendes conduz bem um mundo de aparências em uma vizinhança pequena, fazendo esse micro universo ser crível principalmente por conta de sua direção de atores.
Ao passo que o roteiro fala a respeito de observar a vida passivamente, também se discute manipulação entre parentes. O embate de pais e filhos é todo pautado nisso. O embate entre Wes Bentley e Chris Cooper consiste no controle que o garoto tem junto ao pai. O rapaz faz o adulto acreditar que domina seus sentimentos e seu temor, deliberadamente finge acreditar na disciplina pregada pela figura de autoridade. A brincadeira com a expectativa de terceiros é quase um hobby dos homens, independente da idade ou da postura de cada um dos personagens. Todos eles sofrem desse mal, e o comentário de Ball e Mendes é de que a sociedade americana é torta e essencialmente falsa, viciada nesse tipo de manipulação.
Perto do final, a casa dos Burnham se torna o centro gravitacional de toda a problemática dos suburbanos, um ímã magnético figurativo que atrai a tragédia. Os personagens se aproximam de Lester e lhe exigem afeto, mesmo os que não têm qualquer laço afetivo. Simples ou medíocre, o personagem central travessa a barreira de ser comum logo após perceber que seu objeto de desejo, a ninfeta que ele tanto desejou, é apenas uma adolescente virginal que projetava mentiras. Sua reação comedida o faz perceber o quanto era bobo e comum a busca pelo objetivo inalcançável, até mesmo isso é um fetiche comum.
Quando hesita em cena, também expia um pecado que não cometeu. Mesmo se não rompesse a perfeição do chefe de família ideal, ele ainda pareceria um sujeito impuro dentro da fábula cristã. Quando alcança essa compreensão, porém, seu fim é rápido, praticamente indolor. Ressaltado pelas flores vermelhas que povoaram suas fantasias. A riqueza de Beleza Americana mora nesse argumento poético e metalinguístico. O homem apenas deseja o que não lhe cabe, romantizando a vida de maneira tola.