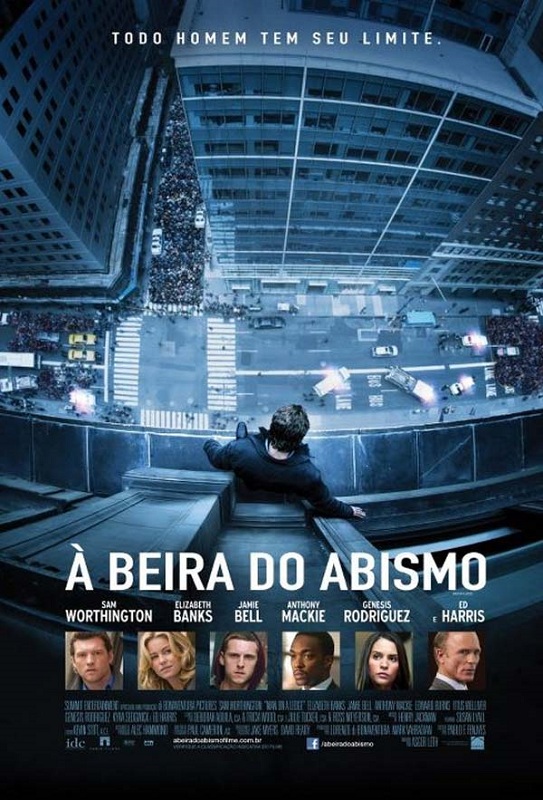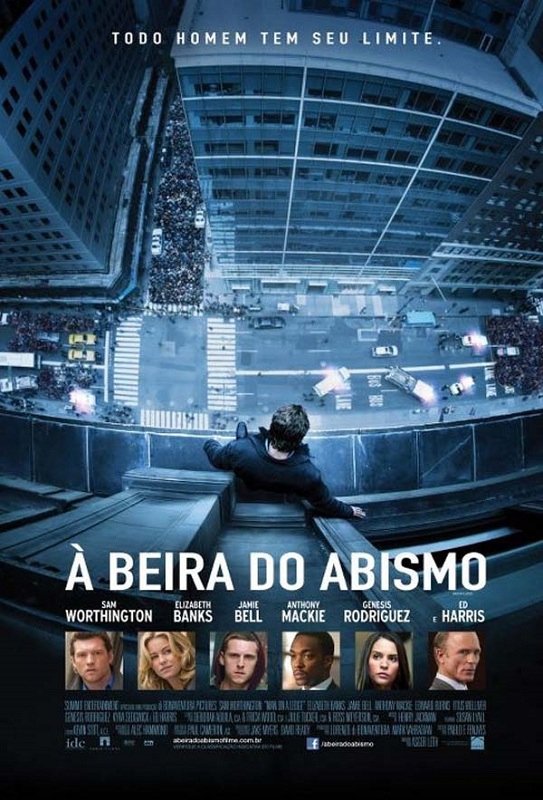Crítica | Fratura

Fratura é uma das recentíssimas produções da Netflix exclusivamente voltadas aos thillers de suspense e terror. Obviamente, as histórias não tem nada a ver umas com as outras, mas, contudo, buscam um denominador comum, trazer algo inovador e com uma grande reviravolta ao final.
Ray Monroe (Sam Worthington) está voltando da casa de seus sogros, dirigindo pela estrada junto de sua esposa, Joanne (Lily Rabe) e sua simpática filha de seus anos, Peri (Lucy Capri). Logo de início, pela conversa do casal dentro do carro, percebe-se que os pais de Joanne não gostam muito de Ray, que é um alcoólatra em recuperação. As pilhas do player de música da pequena Peri acabam e Ray decide parar num posto na estrada para comprar pilhas para sua filha e um refrigerante para sua esposa, enquanto as duas vão ao banheiro. Ray, ao olhar para a geladeira da loja de conveniência, fica tentado a comprar duas doses de bebida, abrindo mão das pilhas para sua filha. Enquanto Joanne volta ao banheiro para buscar algo que esqueceu, Peri deixa o veículo para ir atrás de um balão que está preso numa construção ao lado da loja de conveniência, quando é encurralada por um cão. Ray tenta afugentar o animal com uma pedra, mas ele junto de Peri cai de uma altura considerável. Quando Joanne chega ao local, Ray, demonstrando nervosismo e preocupação para com sua filha, acaba por empurrar a esposa que cai no chão. Ele se recupera, coloca as duas dentro do carro e parte desesperadamente para o hospital mais próximo. É a partir desta premissa, que Fratura, de fato, começa.
O hospital é bastante estranho. Seus funcionários parecem não se importar com os pacientes e quando Peri finalmente é atendida, o médico demonstra ser uma ótima pessoa. Porém, quando a menina é levada para fazer exames e é acompanhada por sua mãe, Ray, após passar o dia inteiro esperando-as, descobre por meio de uma atendente que as pessoas com aqueles nomes nunca deram entrada naquele hospital. Começa então uma busca frenética pela verdade para provar que o hospital, de fato comete crimes dentro de suas dependências.
O filme é dirigido por Brad Anderson, um especialista no assunto, responsável por bons filmes como O Operário e Expresso Transiberiano e que vem se dedicando consideravelmente a dirigir alguns episódios de diversos seriados. Anderson demonstra que sabe fazer com que seu elenco passe ao expectador o sofrimento e a dor vivida ali por eles, merecendo elogios à competente atuação de um sumido Sam Worthington, que não está e sua melhor forma, mas ainda consegue carregar filmes como estes em suas costas. Contudo, o roteiro de Alan McElroy deixa um pouco a desejar, andando de mãos dadas com uma produção ruim, que pode ter sido prejudicada por um orçamento baixo e uma fotografia opaca (talvez intencional).
Os momentos em que Ray está em busca de sua família são muito bons, mas, como dito no início deste texto, o filme traz uma reviravolta em seu final que dividirá quem assiste. Uns vão adorar o que acontece e outros torcerão seus narizes e ficarão com aquela sensação de “putz”. Mas o final e os “poréns” não chegam a ofuscar o filme, que cumpre o que propõe desde seu início.
–
Texto de autoria de David Matheus Nunes.
Facebook – Página e Grupo | Twitter| Instagram | Spotify.