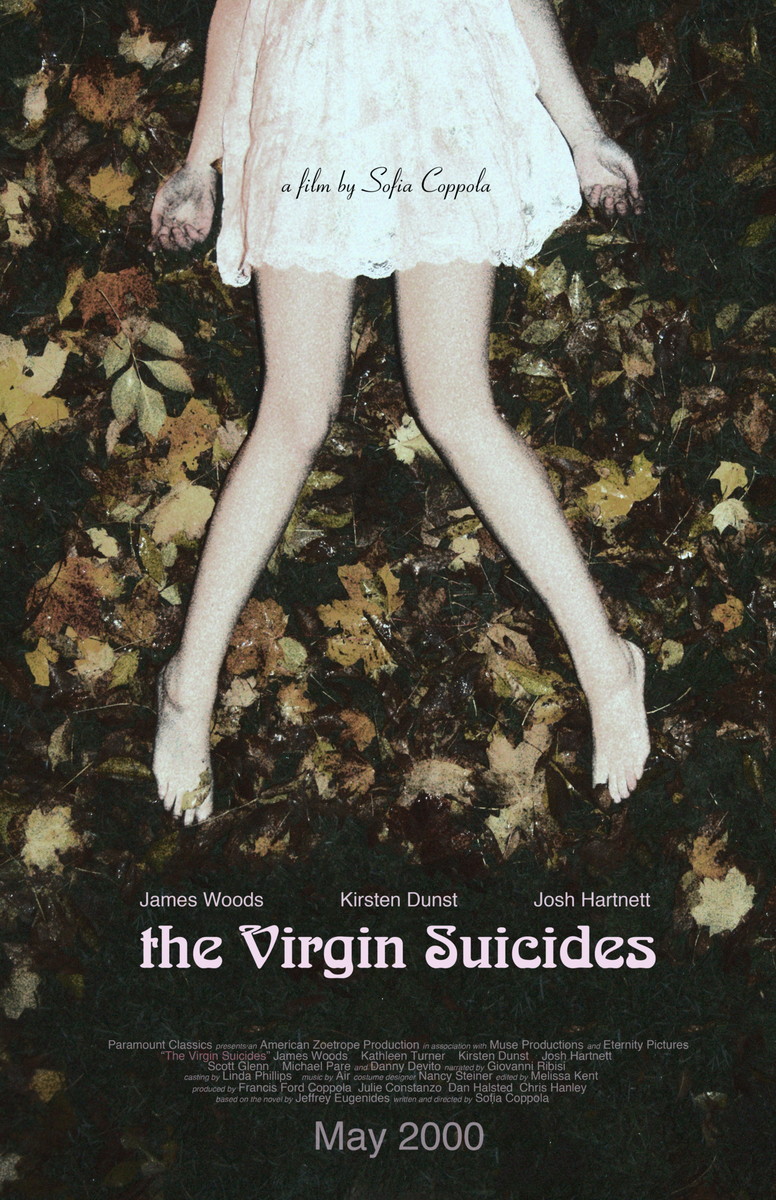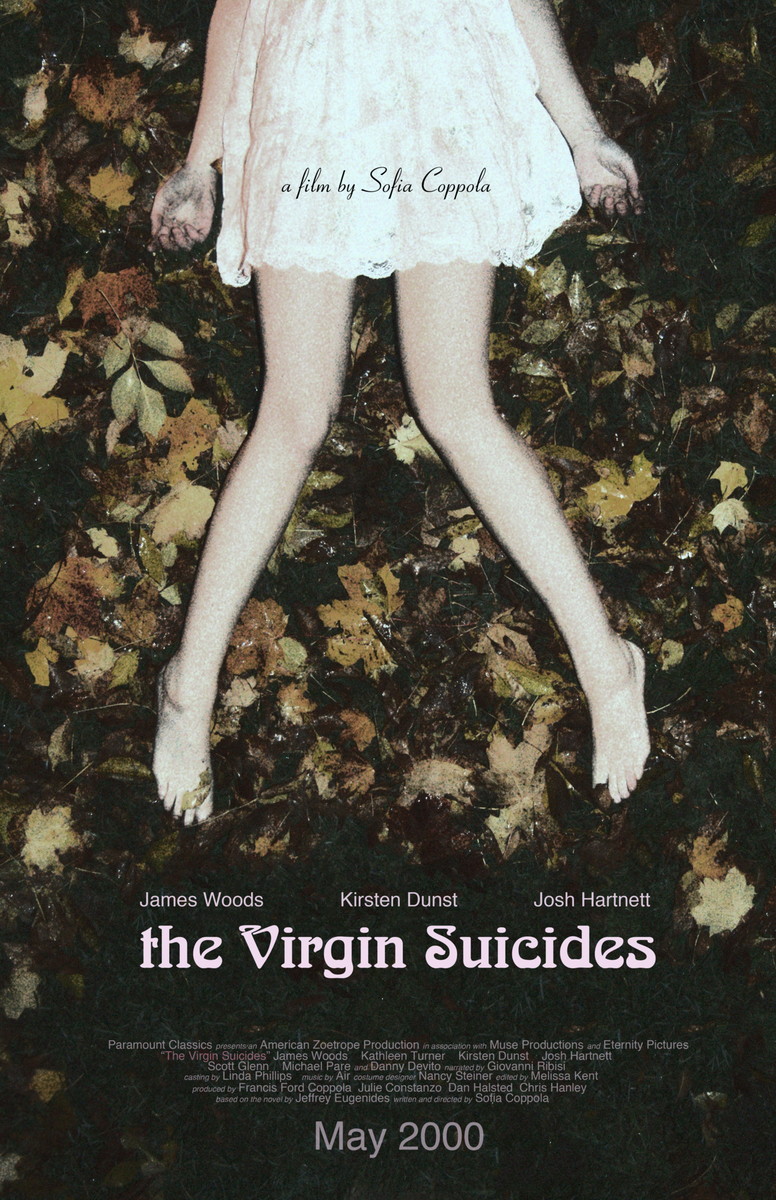Crítica | O Poderoso Chefão: Desfecho – A Morte de Michael Corleone

Trinta anos passaram desde o término da franquia O Poderoso Chefão, e por mais que Francis Ford Coppola tenha sido muito criticado por fazer O Poderoso Chefão III, principalmente pela participação de sua filha como uma das protagonistas, a história do filme tem uma participação maior do escritor Mario Puzo. Qual não foi a surpresa de fãs e admiradores quando o diretor afirmou que estava reeditando o desfecho da série em uma reedição com duração modificada e diferenças narrativas diversas do material original.
Muito se falou ao longo dos anos a respeito da possibilidade de um novo filme. No material extra da trilogia, o cineasta afirmava sua vontade de contar a história de Vincent Mancini/Corleone (Andy Garcia) e do jovem Sonny. Esse projeto jamais saiu do papel, em especial por conta do falecimento de Mario Puzo em 1999, e o corte tem claramente um tom de homenagem póstuma ao antigo escritor e roteirista.
Em O Poderoso Chefão: Desfecho – A Morte de Michael Corleone a primeira coisa que notamos é a diminuição da participação de Mary (Sofia Coppola), filha mais nova de Michael e Kay. Além disso, a direção narrativa é voltada para a questão da Immobiliare, empresa europeia que passaria para as mãos de Michael e sua família. O enfoque nos negócios e acordos com a igreja representada pelo padre banqueiro Arcebispo Gilday (Donal Donnelly) é mais do que acertada.
O foco na família é diferente, ainda que permaneça da mesma forma a cena onde Mike busca seu sobrinho bastardo para participar da foto familiar – em atenção a mesma questão de Don Vito se recusar a fotografar sem a presença de Michael, em O Poderoso Chefão – aqui ela parece mais significativa, por conta da edição que prioriza a busca do padrinho por um sucessor também nos negócios espúrios. Por mais que as promessas de abandono da vida criminosa que ele fez a sua ex-esposa, o que resta (e sobressai) é a ganância e a sede pelo poder. Michael é hipócrita ao buscar um distanciamento do submundo do crime, mas não descansa enquanto não for o homem mais poderoso em seu meio, e é letárgico até na escolha de um sucessor para essa função.
As outras personagens da família são bem enquadradas. Connie é mostrada como a matrona manipuladora, com uma máscara ainda mais venenosa do que na versão original, e Talia Shire consegue ser ainda mais decisiva aqui, mesmo com o tempo de tela reduzido. A mensagem que fica é de que o capital corrompe tudo, manifestado pela figura mítica (e com referências bíblicas) de Mamon, que chega inclusive a determinar os rumos da Santa Igreja.
No seriado Roma, a suposta epilepsia de Julio Cesar (Ciran Hindis) é mantida em segredo para que não seja considerada um sinal de fraqueza junto aos seus inimigos. Michael aqui tem uma dinâmica semelhante, atormentado por fantasmas e demônios, o protagonista tem delírios por conta da diabetes e ataques de pânico. A ideia de crepúsculo é bem trabalhada, com o símbolo decadente de virilidade sendo enquadrado e desglamourizado. Se Coppola era acusado antes de tornar os mafiosos figuras simpáticas, nessa nova versão somos apresentados a decadência.
O Poderoso Chefão: Desfecho – A Morte de Michael Corleone possui mais camadas e subtextos do que aquela de 1990, e ainda lida bem com o final de trajetória melancólica de um homem e um império. Repleto de equilíbrio, menos vaidade e um bom louvor aos textos do mestre Mario Puzo.




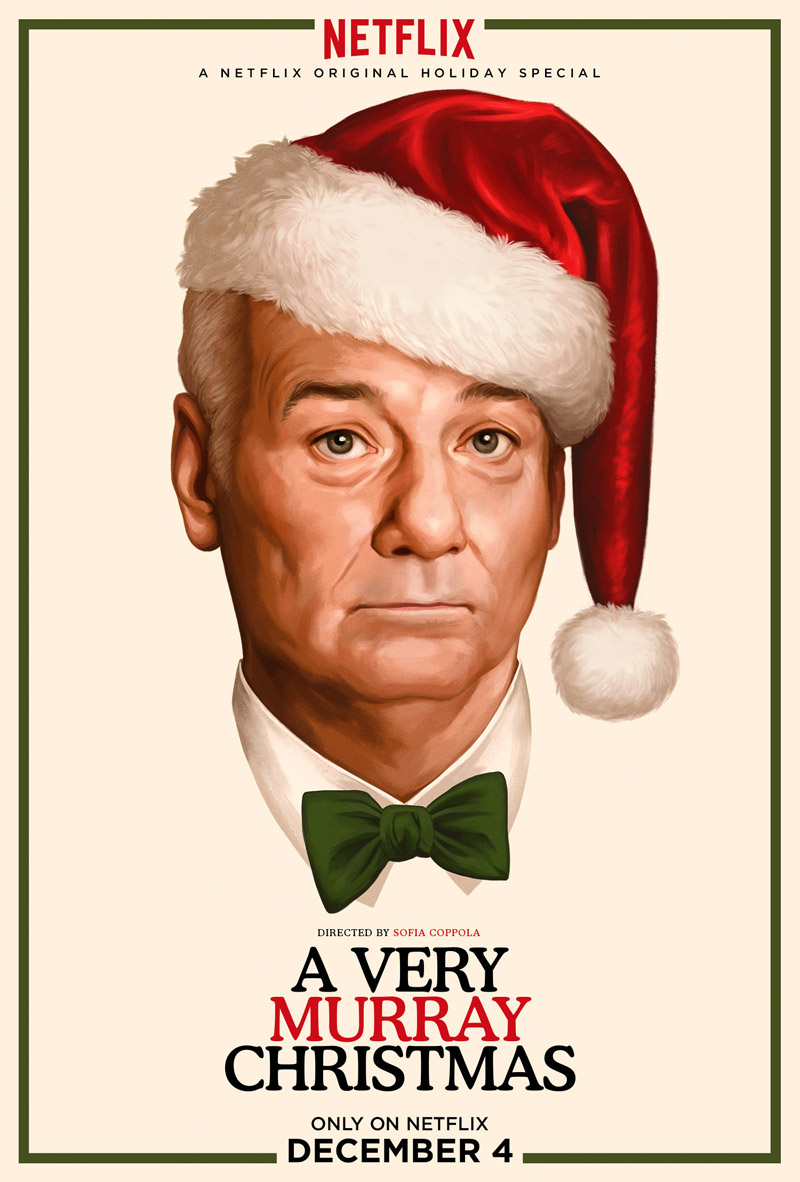


![bling-ring[1]](http://www.vortexcultural.com.br/images/2013/07/bling-ring1.jpg)