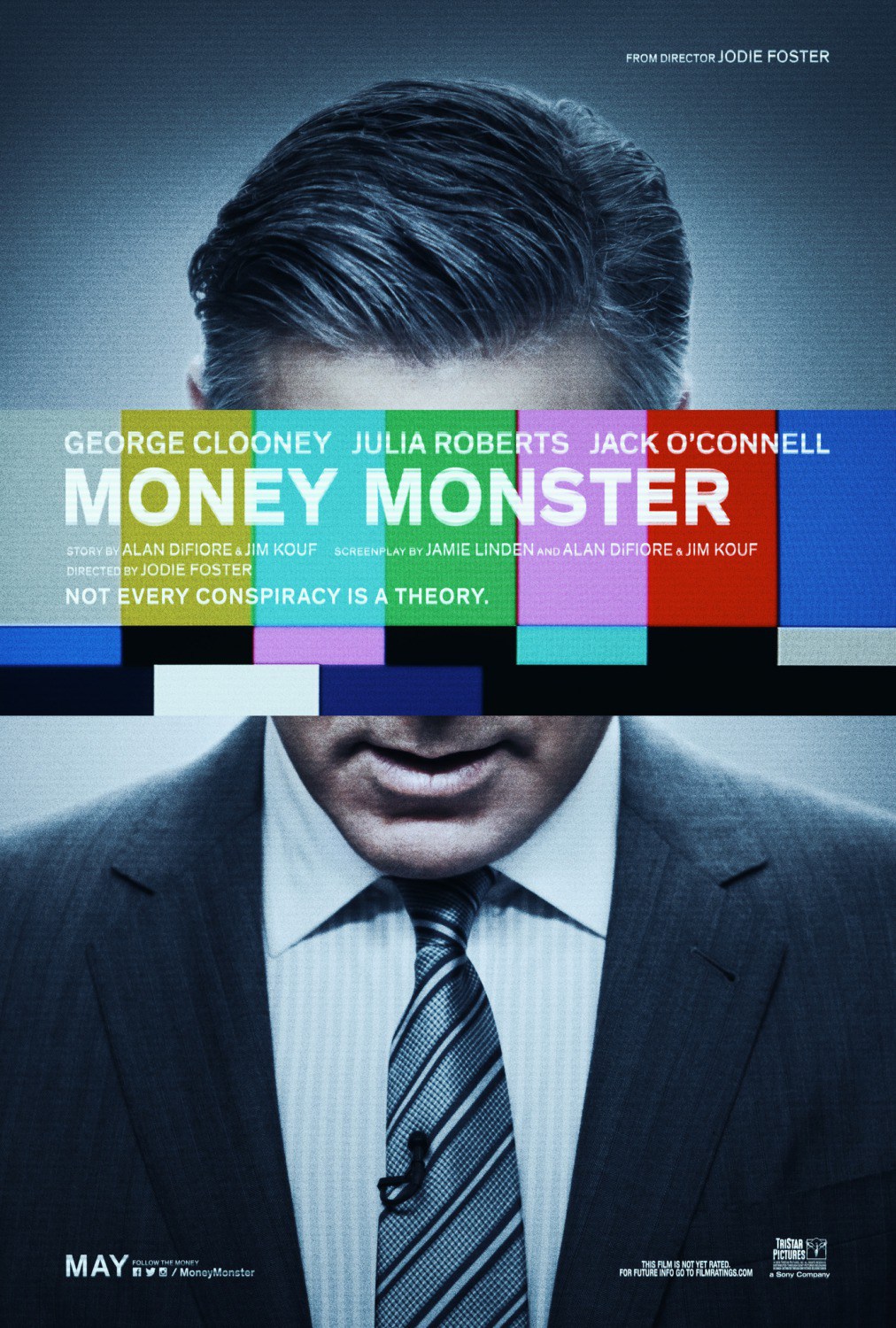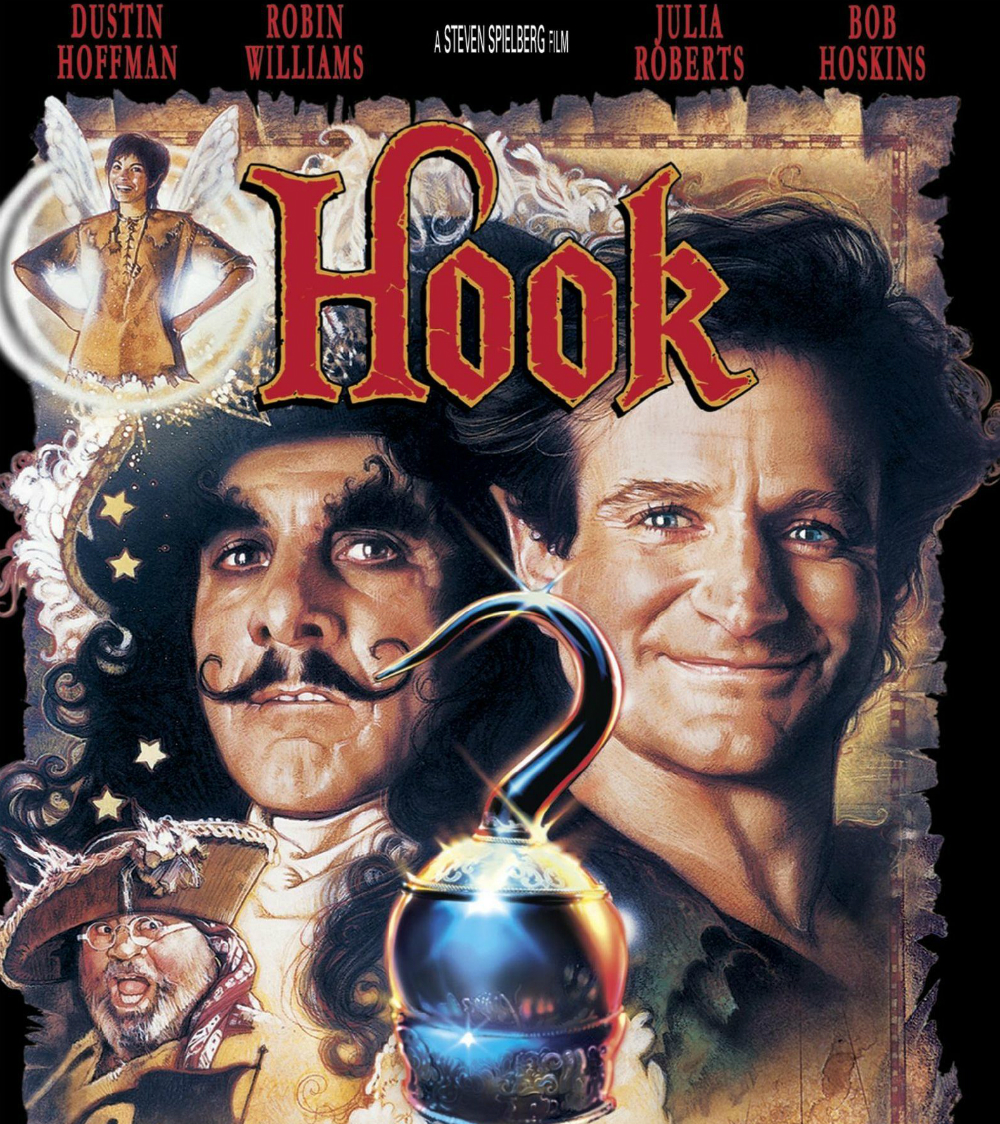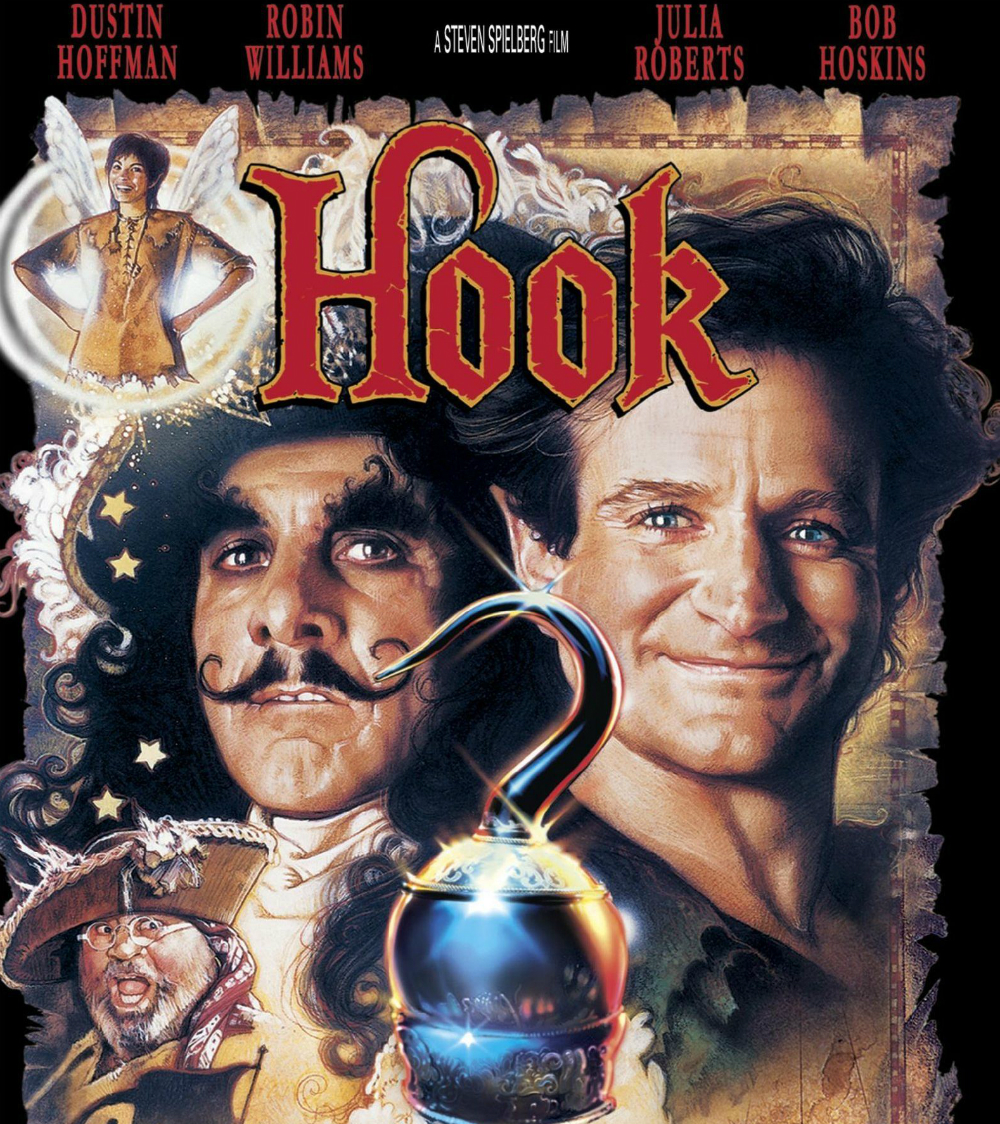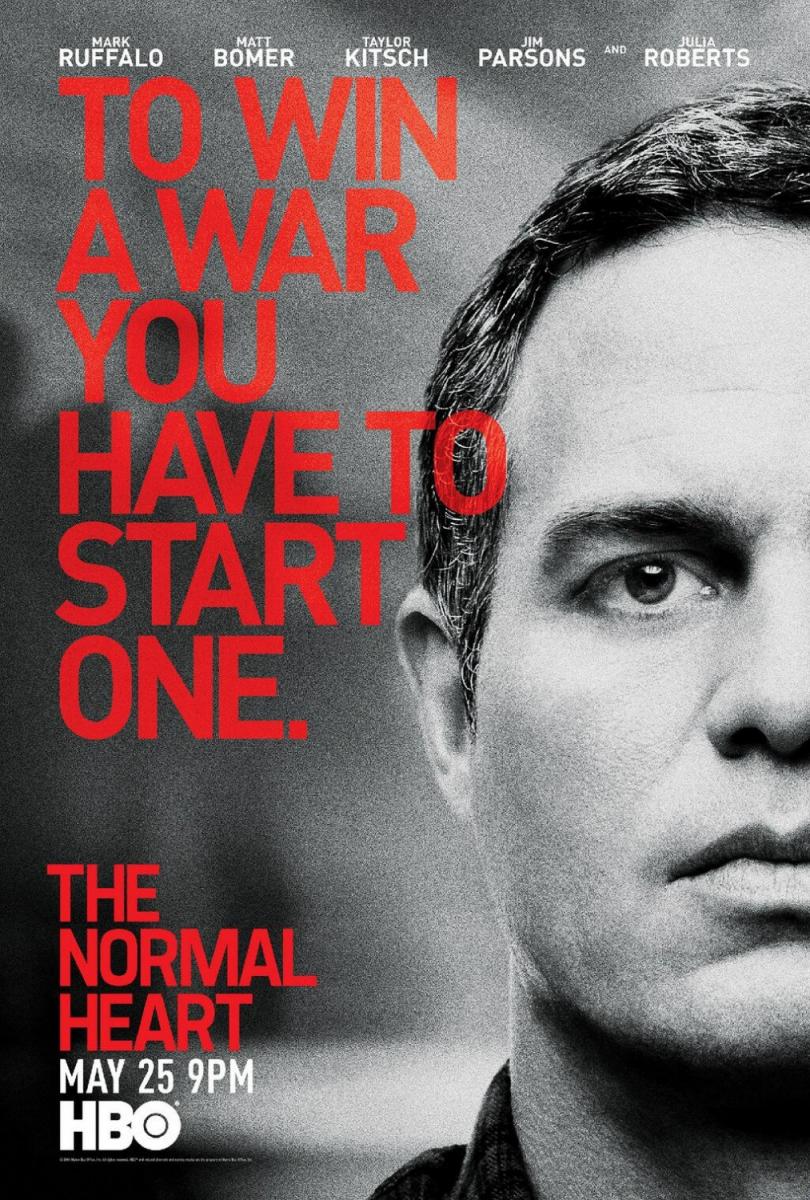Crítica | Tudo Por Amor

O começo de Tudo Por Amor, sétimo longa-metragem para cinema de Joel Schumacher, se inicia no silêncio, com a bela Hilary O’Neil (Julia Roberts) indo em direção à sua casa, onde percebe que seu parceiro a traiu. Contrariada, graças ao problema de infidelidade, a protagonista decide mudar de vida e de ramo, aceitando um emprego diferente para cuidar de um jovem rico e talentoso que está fazendo quimioterapia para tratar de uma leucemia.
O jovem é Victor Geddes (Campbell Scott), um sujeito arredio e que não gosta que as pessoas olhem para ele com pena. Aos poucos ele deixa Hilary se aproximar, e os dois passam a se enxergar como um par, com um desejo genuinamente mútuo entre eles, com direito a inseguranças e ciúmes, tudo isso em em um tempo recorde. Schumacher gasta todo seu esforço dramático demonstrar uma história amorosa de superação, mas que já foi vista inúmeras, inclusive no recente Como Eu Era Antes de Você e até o popular A Culpa é das Estrelas, embora o filme baseado no texto Richard Friedenberg, que por sua vez adapta o livro de Marti Leimbach, não seja tão descaradamente juvenil. Fato é que a fórmula do longa é bem conhecida, e ela por si só não segura a qualidade da história. Scott e Roberts não possuem química alguma, mal daria para acreditar que os dois estão juntos e por tanto tempo, se não fosse a música de James Newton Howard, que ajuda a aplacar um pouco a sensação do quanto essa relação é tola.
A construção do romance dos dois é muito pautada em um drama barato, em alguns pontos ele parece uma adaptação dos romances folhetinescos ao estilo Sabrina ou Super Julia. O papel que Roberts apresenta aqui é até bem executado, mas repete os muitos clichês que ela vinha fazendo desde Uma Linda Mulher. De positivo, há o modo belíssimo com que Schumacher registra a imagem da atriz, claramente uma de suas musas, deslumbrante e apaixonante desde o primeiro momento em tela. Infelizmente, Tudo Por Amor é mais uma obra que abusa dos clichês e falta de química entre seus personagens.