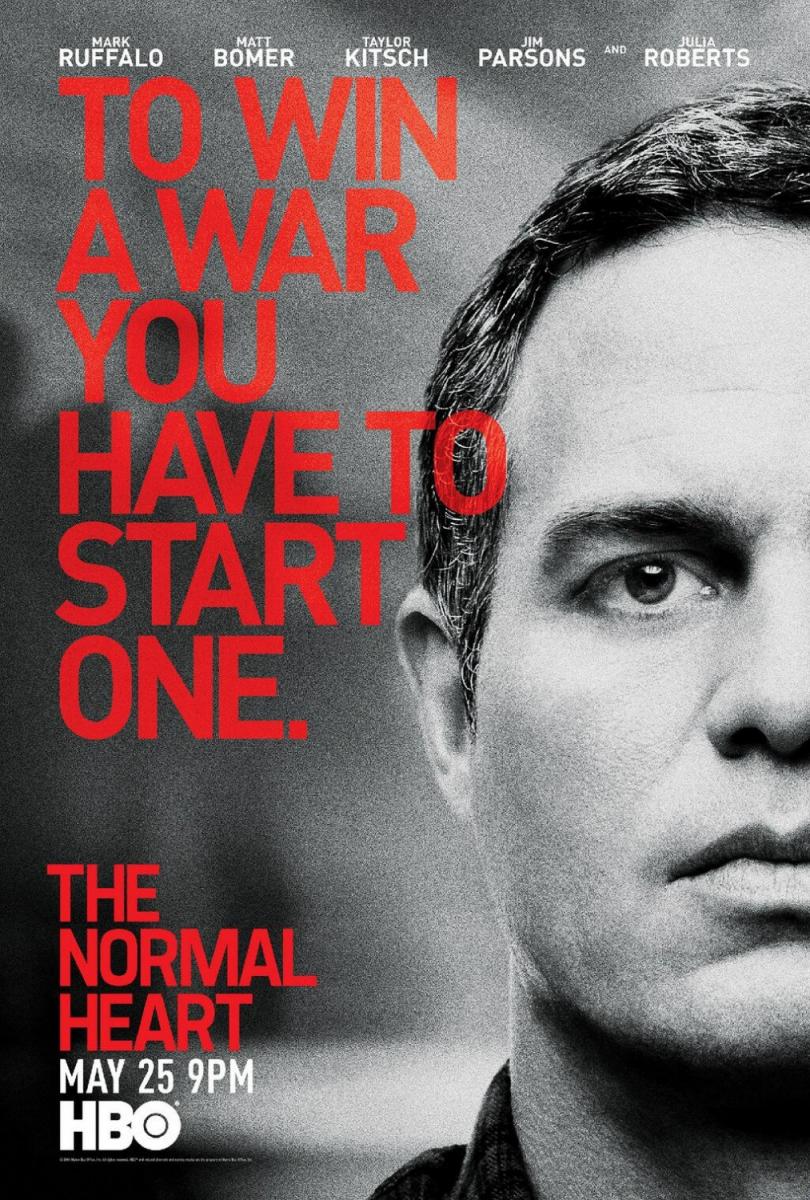Crítica | Crime Sem Saída

Chadwick Boseman foi um grande ator. Ainda que a sua carreira tenha sido breve, o eterno Pantera Negra sempre foi uma presença magnética nas telas. Um dos grandes exemplos disso é esse Crime Sem Saída. Dirigido por Bryan Kirk em sua estreia como diretor de cinema, o filme é um eficiente thriller policial que tira muito proveito do seu elenco, principalmente do seu protagonista.
Na trama, Boseman interpreta Andre Davis, policial chamado para investigar o assassinato de oito policiais por uma dupla de ladrões em um restaurante que servia como fachada para o tráfico de cocaína. Filho de um oficial morto em serviço, Davis é visto como a pessoa perfeita para solucionar rápido o crime. Para isso, o detetive ordena que as 21 pontes que dão acesso à Manhattan sejam suspensas e inicia uma implacável perseguição aos criminosos.
O longa tem influência dos filmes policiais da década de 80 e 90, em que os oficiais protagonistas eram reservas morais em meio a uma corporação afundada em burocracia e corrupção. Remete também aos faroestes e aos cowboys obstinados com seus códigos de conduta estritos. Desde o início, o roteiro de Matthew Michael Carnahan e Adam Mervis deixa o conceito moral bem estabelecido, porém, isso não faz com que o personagem seja unidimensional. O passado do detetive Davis é apresentado, mas não de forma melodramática. O artifício faz com que o espectador estabeleça uma relação de simpatia com o personagem, ao mesmo tempo em que apresenta suas motivações e a sua bagagem emocional. Em conjunto com o carisma e a boa atuação de Boseman, o personagem foge do arquétipo de policial que povoa a maioria dos filmes do gênero. Outro ponto forte é a relação que o detetive forma com um dos criminosos. São poucas as cenas entre os dois, mas a dinâmica é bem interessante.
Ainda sobre o roteiro, há uma crítica sutil à corrupção policial. Não há como determinarmos se a intenção do script era abordar dessa maneira o assunto, mas isso se dá de forma orgânica dentro do filme. Entretanto, quando trata do racismo estrutural no departamento de polícia de Nova York, principalmente nos trejeitos do personagem de Boseman e na forma como ele é visto por seus pares, essa naturalidade escapa um pouco. Em certos momentos, parece que a crítica ocorre somente por acontecer. Não é exatamente de forma gratuita, porém não possui essa organicidade dentro do roteiro. Já um grave problema que ocorre está nos vilões do filme, cuja burrice e vacilos chegam a ser inacreditáveis.
A direção de Kirk é segura, sem maiores invenções. Diretor de episódios de séries como Luther e Game of Thrones, o diretor imprime um ritmo ágil e vai escalando a tensão à medida que a trama se desenrola. Ainda que não existam grandes reviravoltas no roteiro, tudo é conduzido de forma à prender a atenção do espectador até chegar a uma conclusão que se não é épica, é ao menos condizente com o que aconteceu ali. Estabelecendo a mencionada boa relação entre o público e o herói, além de arrancar uma performance memorável de Stephan James, intérprete de um dos criminosos.
Crime Sem Saída tinha tudo pra ser um daqueles filmes que são assistidos casualmente em uma madrugada insone, entretanto, amparado por um roteiro sem invenções absurdas, uma direção segura, além de uma ótima trilha sonora composta por Henry Jackman e Alex Belcher, o filme se mostra como uma boa diversão e mais uma prova do grande ator que Boseman foi.