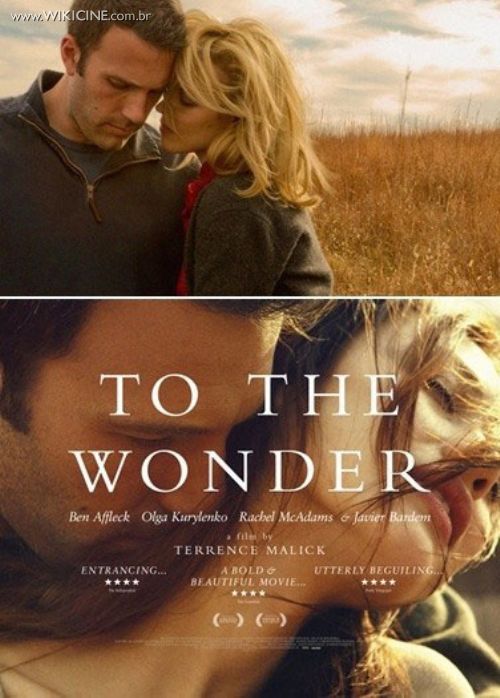Critica | Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars

A trama de Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars começa em Husavik, na Islândia, no ano de 1974, onde uma família celebra alegremente uma reunião familiar, enquanto o pequeno Lars se sente sozinho, por conta da ausência de sua mãe. Aos poucos é mostrado que ele é um sujeito menosprezado pelos seus, exceção feita a jovem Sigrit. Aqui, se percebem rusgas com Erick Ericksson (Pierce Brosnan), seu pai, além do desejo de ser levado a sério e vencer a competição Eurovision Song Contest.
O longa de David Dobkin é mais uma produção onde Will Ferrell vive seu personagem clássico, o homem ingênuo e subestimado que tenta ganhar notoriedade. Com menos de dez minutos se estabelecem os sonhos de grandeza e glamour do protagonista, além de uma parceria (e amor platônico) junto a bela e talentosa Sigrit, de Rachel McAdams, e como de costume, somos apresentados ao fracasso que ele é.
O choque geracional é muito presente, Lars e Erick seguem tendo atritos quando adultos, muito por conta da natureza turrona da figura paterna, um homem simples, pescador, que tira seu sustento do trabalho duro, enquanto seu filho é mole e tenta seguir o sonho artístico juvenil que jamais foi rentável. A chance que a banda de Lars tem seria vencer o festival para que seu país fosse sede no ano seguinte.
Dobkin junta sua experiência em conduzir comédias como Bater ou Correr Em Londres e Penetras Bons de Bico, além da tradição que tem como realizador de videoclipes para empregar um humor pastelão, preocupado em dar voz às minorias unido a elementos típico dos musicais.
Toda a trajetória da dupla de protagonistas passa por percalços, desde o receio em ser encarados como piada, até a escolha de Lars pelo celibato por conta da dedicação à música. Mesmo que o filme não se leve a sério existe um número considerável de mensagens de aceitação e tolerância que não soam deslocadas do resto da obra.
Há no filme um caráter semelhante a Zoolander, em especial no que toca a sexualidade de alguns personagens, como o Alexander Lemtov (Dan Stevens), o cantor russo que atravessa o caminho do quase casal Lars e Sigrit. Toda a cor, o glamour e as luzes denotam o quanto a dupla estava certa em insistir no sonho que nutriam ao longo da vida, apesar de todas as circunstâncias e bom gosto bradarem contra isso. Ferrell normalmente faz filmes bobos e toscos, e esse é mais um deles, mas ainda assim possui um diferencial, algo mais lúdico e mágico. O roteiro de Ferrell e Andrew Steele consegue variar bem entre a comédia rasgada e os momentos de celebração e aceitação soando como uma celebração dos frágeis e excluídos.
https://www.youtube.com/watch?v=Dq30kOAJzzI