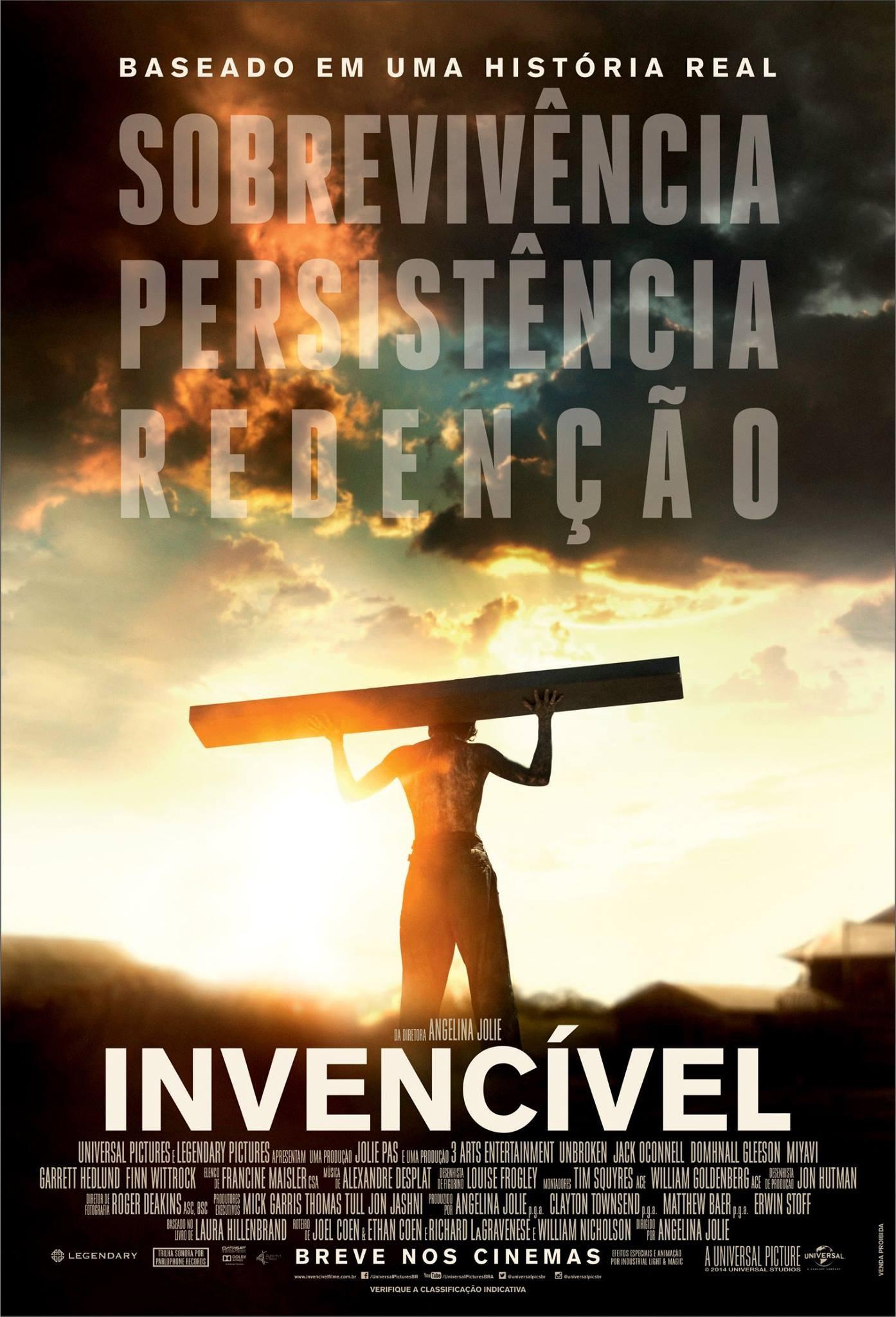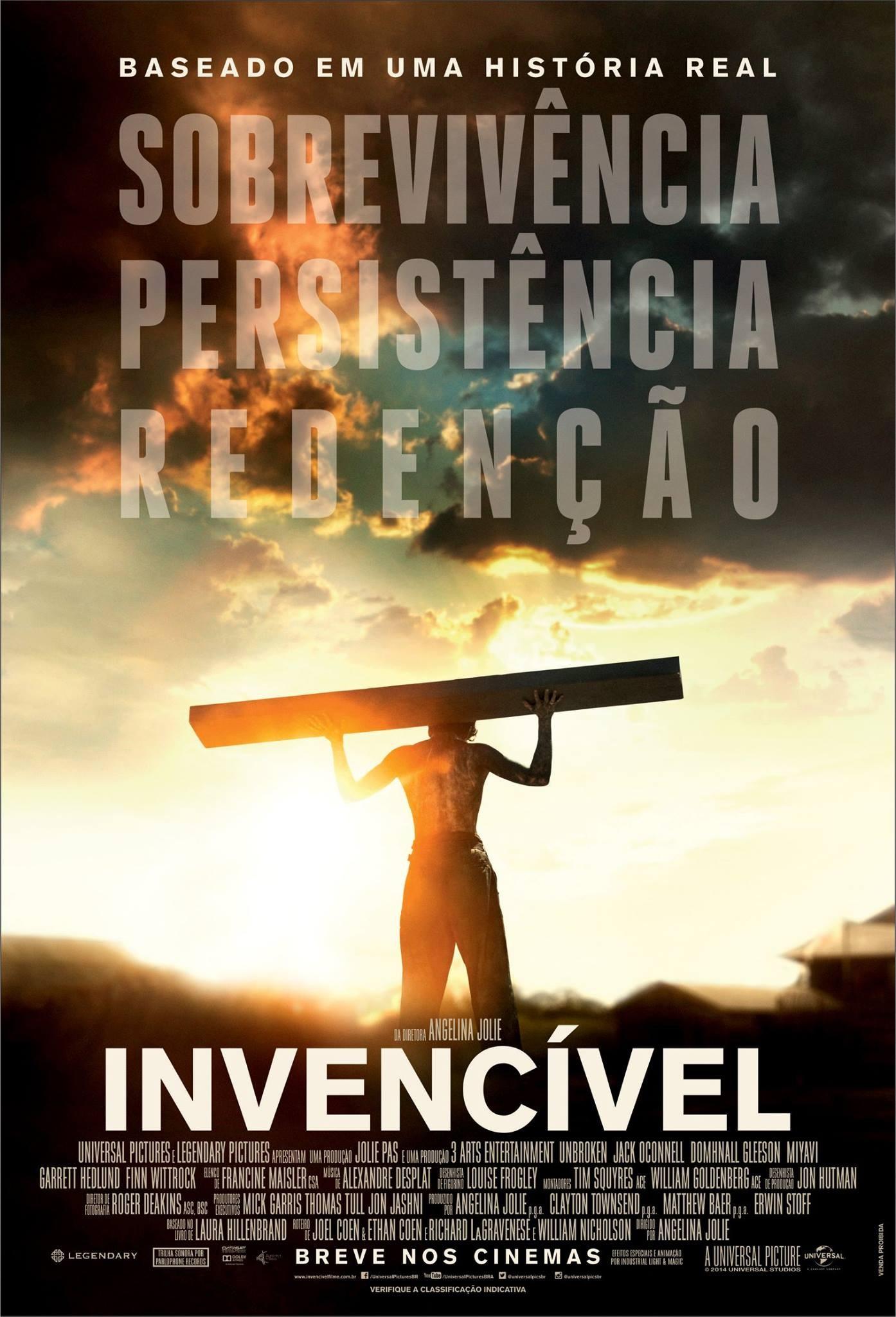Crítica | Kundun

Quando Martin Scorsese, no distante 1988 veio com A Última Tentação de Cristo, tínhamos um nova yorkino da gema saindo da sua zona de conforto em busca de Jesus. Ficou de costas para os prédios, becos e táxis, e voltou-se as montanhas, fogueiras, ritos e rios. Fora da maior megalópole americana, e sua sinfonia inconfundível, Scorsese pareceu um patinho fora da lagoa onde cresceu e se firmou como homem, e cineasta, cuja visão cronicamente urbana custou a sua autonomia em âmbitos distintos. Somos o nosso meio ambiente, em muitos aspectos, em especial quando nele nos deixamos enraizar, e o filme com Willem Dafoe nunca consegue ignorar, ou muito menos subverter a fortíssima sensação de ser uma realidade (ainda que anistórica a vida de Cristo) filmada pelo viés de um turista curioso.
E com Kundun temos a mesma impressão, tão latente quanto – muitos críticos aliás consideram-no o menos scorseseano da produção do mestre. Discordo, em partes: Kundun é uma experiência mística não revelada em toda a sua glória para o público através de suas imagens, e aposta qualquer traço de intensidade e profundidade que essas imagens poderiam ter na simples, e por vezes barata admiração com a cultura, os valores e a sociedade tibetana, ao norte da cordilheira do Himalaia. Scorsese tenta ao máximo viver e conectar suas imagens quentes e vibrantes à sintonia das cores, do vento e da beleza asiática ao redor, com seus monges, sinos e folclores extraordinários, ainda que tudo continue a se integrar, principal e insistentemente, numa perspectiva de admiração estrangeira.
Aqui, Scorsese mostra demais porque não sabe no que focar, e amplia sua observação tal um turista passageiro, cuja estadia ainda vai durar um longo tempo naquelas bandas, sem pressa alguma. Um tanto perdido na cultura local, mas que a saboreia com a elegância de um sommelier atento na sua performance, o diretor de Táxi Driver narra, com uma belíssima fotografia do gênio Roger Deakins, a trajetória de um menino considerado a reencarnação do décimo terceiro Dalai Lama, e a sua consagração, já aos dois anos de idade, como o novo Buda, tendo que enfrentar o governo chinês contra à apropriação das terras sagradas do Tibete. Uma vez crescido, a guerra vem, e o pequeno país faz resistir como pode. O vermelho púrpuro e empoeirado dos trajes dos monges já alerta o que vem por ai, enquanto a paz parece descer, dia após dia, pelo vão de uma ampulheta.
Resta ao jovem Buda, então, ser a figura do equilíbrio necessário, mas que o filme não torna, jamais, interessante. “Religião é veneno”, diz um general chinês ao encarar, com um falso sorriso diplomático, o exato oposto para o seu militarismo predatório de sempre. Kundun é inseguro, por vezes frágil, tanto no roteiro original de Melissa Mathison quanto na direção de Scorsese, após o ótimo Cassino, em expandir as suas possibilidades interpretativas, mantendo sempre o mesmo nível de calmaria e tranquilidade que impedem a biografia sobre o décimo-terceiro Dalai Lama, e de um notável período histórico da Ásia, de alçar voos maiores. Na tensão da iminência de um conflito bélico inevitável, o filme, que apela para um naturalismo agradável em sua concepção artística, se desenrola por longas duas horas em busca, ao final, de um lugar-comum que nunca realmente tentou abandonar.
Obra inconvincente, ao todo, uma vez que, de tão vastas que são suas possibilidades cinematográficas, estas são renegadas como que por vergonha de assumi-las, e não pelo certo conformismo que a maturidade traz às coisas. Com o simbolismo aqui sendo parcialmente despretensioso, Kundun é quase que medíocre, no melhor uso da palavra – rascunho de luxo de um quadro mais potente, e que por pouco não tivemos acesso. Não por isso, o filme de 97 contém cenas belíssimas de grande impacto, como a clássica sequência de Dalai, jovem e sensível como o orvalho, de pé entre centenas, senão milhares de corpos de monges massacrados. Nisso, o doutrinador se pergunta o que fazer diante desse imperialismo selvagem e desumano, enquanto um cineasta, fora da sua zona de conforto, indaga-se como extrair o melhor de um universo tão rico de mensagens, e propósitos sem iguais. Valeu a tentativa.
Facebook – Página e Grupo | Twitter| Instagram | Spotify.