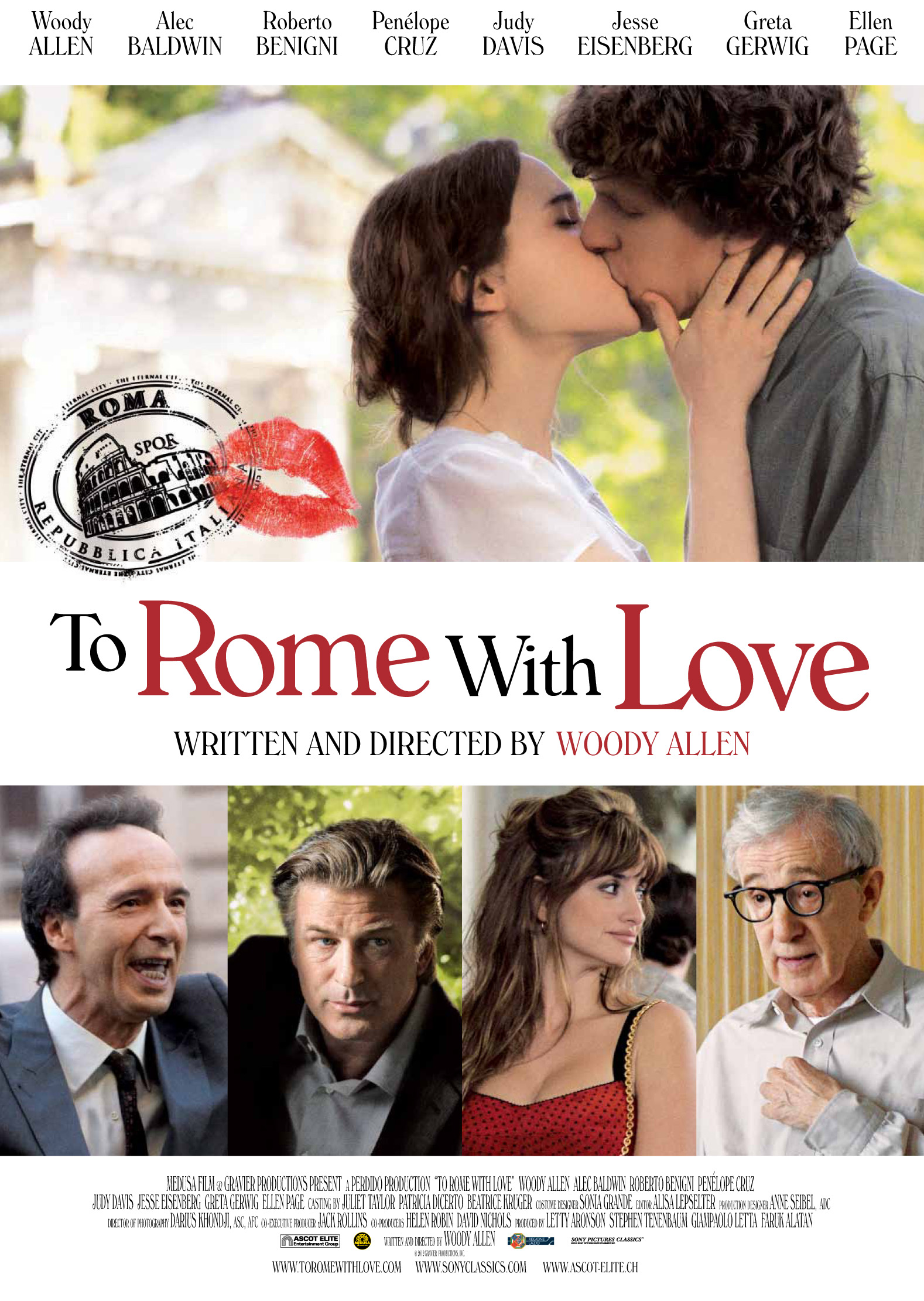Crítica | Uma Viagem Extraordinária

O atual cinema francês não tem nada de atual, é de tradição e de comprometimento social como vem tentando ser desde os anos 60, com a resistência de grande parte da crítica e dos cinéfilos franceses, temerosos – no fundo – pelo tamanho das garras e presas da globalização prestes a engolir tudo e todos, muito além da terra do croissant e de outros clichês idiotas. Em termos de prestação de serviço ao registro da vida do público, de mistificar o que não cabe em jornais ou revistas, o cinema française mistifica e expande o sentido de seu microcosmo sócio-político como, hoje em dia, nenhuma outra filmografia de qualquer país consegue fazer, e esse é o principal de seus méritos: não apenas evitar ser uma televisão gigante com fatos não descartáveis, se atendo apenas a interesses públicos, como foi no século XXI o cinema inteiro da América Latina, mas ser mais teatro do que TV, muito mais nobre do que o horário nobre da telinha – como Alan Resnais tratou objetivamente de provar na ‘‘peça filmada”, ou no ‘‘filme encenado”, que é Amar, Beber e Comer, grande e rica obra de 2014.
Mas nenhum filme desde a virada do milênio encantou tanto o mundo feito Amélie Poulain, de 2001, com um visual acachapante (e a beleza de Tautou) em prol do impacto que uma história simples e comum pode ter, se contada usando todo o poder absoluto da sétima-arte. Esse filme levou às grandes massas um cinema até então muito ligado à intelectualidade exagerada, digamos, algo arrogante e frio como ficou conhecido desde os tempos que Godard, Chabrol, Rivette e outros cineastas mandavam no jogo da exposição artística – de novo, com muito desdém pela turma mais antiga, acostumada só com Renoir e Carné, artistas de cinema em estado bruto. A Nouvelle Vague também já é passado, e, agora, Uma Viagem Extraordinária é a consolidação, o fruto do que começou no ano de 2001, quando o cinema do sotaque parisiense e do l’amour e da revolución ficou mais pop e livre do que nunca. E todo mundo, claro, amou e está amando o que não precisa mais ser rebelde – mas que não evita ser quando é preciso.
A beleza e o encantamento como difusores de um conceito. Esse é a ideia, iniciativa e visão de Jean-Pierre Jeunet, o mais comportado dos surrealistas, justamente por ser mais expressionista que surreal, apesar de brincar de um jeito único com as duas vertentes. Para o artista, usar a lupa da graça ao analisar a vida neste mundo é básico, é uma obrigação a ser alcançada em cada facho de luz contra as sombras da desgraça. Com influência visual de grandes artistas do passado, franceses, americanos, e principalmente britânicos, poucos cineastas filmam o mundo de maneira mais viva e exuberante que Jeunet – Malick e o fotógrafo Roger Deakins podem entrar na lista. É burrice dizer que a estética de Amélie Poulain já não encanta mais, 10 anos depois, pois quem ainda não conhece o cinema de Jeunet vai se encantar do mesmo jeito ao assistir à obra, ao absorver a história francesa (em solo americano) de um jovem gênio, Spivet, um guri carismático que decide cair no mundo em busca de um prêmio conquistado por uma de suas invenções – que mais remete a um daqueles projetos de Da Vinci.
O fantástico vem da extravagância que faz o filme ser o ícone de si mesmo. Tudo é visto pelo deslumbre que só uma criança vê o banal, o cotidiano, que não tem mais graça, visto da janela de um trem por um adulto, já integrado demais na vida real. O garoto Spivet é irmão do menino de Os Incompreendidos, cada um em uma realidade, mas unidos na curiosidade pelo proibido; ambos netos de Cabral e Colombo, todos sedentos pela promessa do além-abismo devido à sede pelo amanhã. Assim sendo, antes de ser um cientista, o moleque é descobridor da vida, e antes de ser um artista, Jeunet é adulto o bastante para expor sua criança interior na pele de outra, e sem medo de ser feliz. O resultado é o melhor e mais belo filme infantil desde O Garoto da Bicicleta, de 2011, na tradição do primeiro filme da história a se dedicar ao universo infanto-juvenil: O Ator Tokkan Kozo (1929), do mestre Yasujiro Ozu.
Uma Viagem Extraordinária pode investigar o papel da criança no mundo de hoje, diferente da época do filme de Truffaut, mais livre e inteligente do que as gerações passadas para se libertar de dogmas familiares e descobrir seu lugar no mundo, de forma prematura. Ou ainda, pode debater o autoconhecimento através das relações pessoais que uma viagem nos traz, a todos nós, independente de nossas idades, por que não? Acima de tudo, atrás da paleta de cores e da experiência audiovisual que nos convida a assistir várias vezes o filme, sempre descobrindo algum sentido novo, com certeza é indiscutivelmente gratificante quando o cinema americano brinca de ser francês, e brinca de maneira tão graciosa.