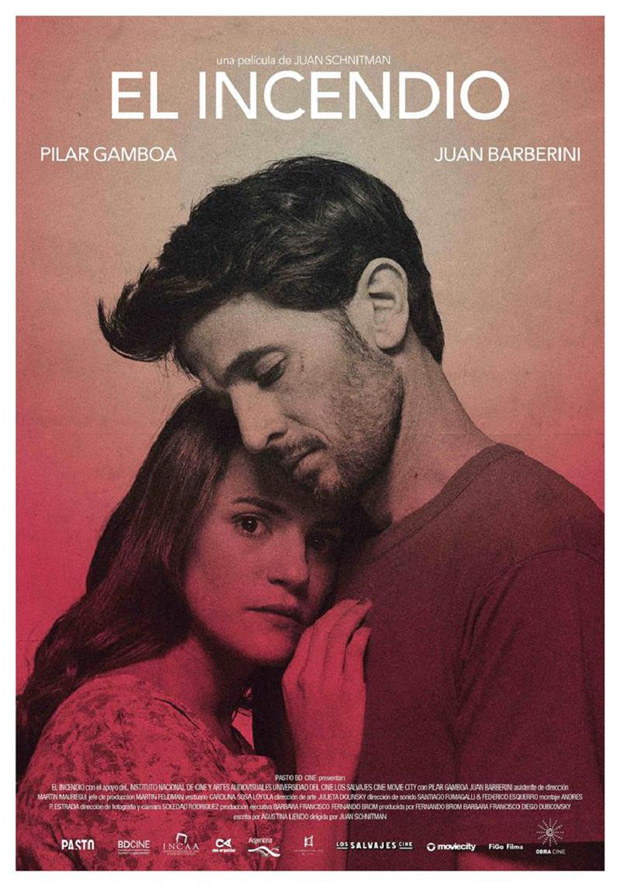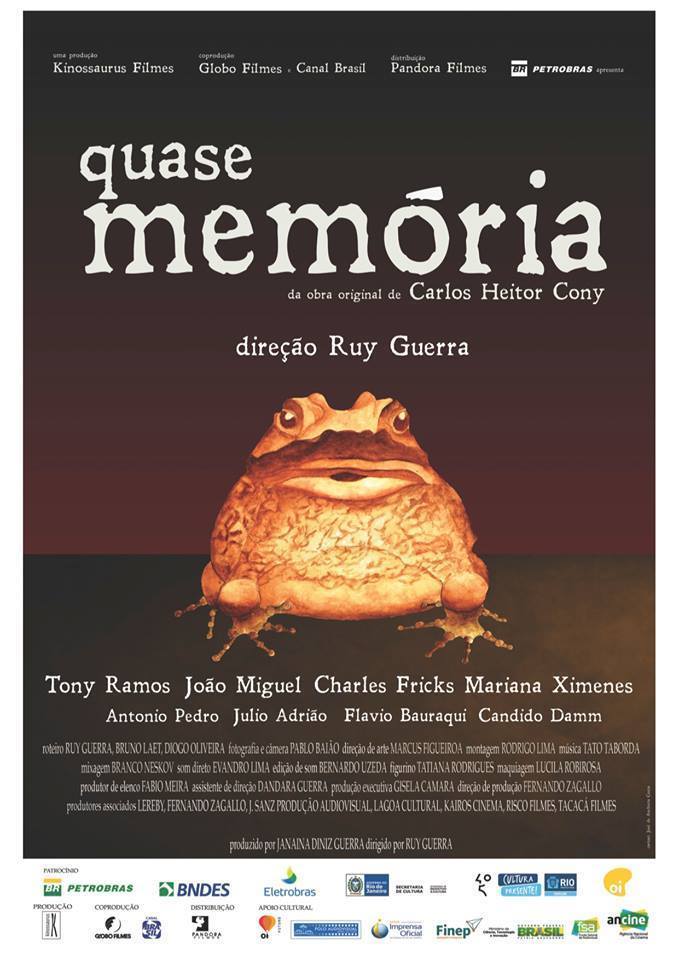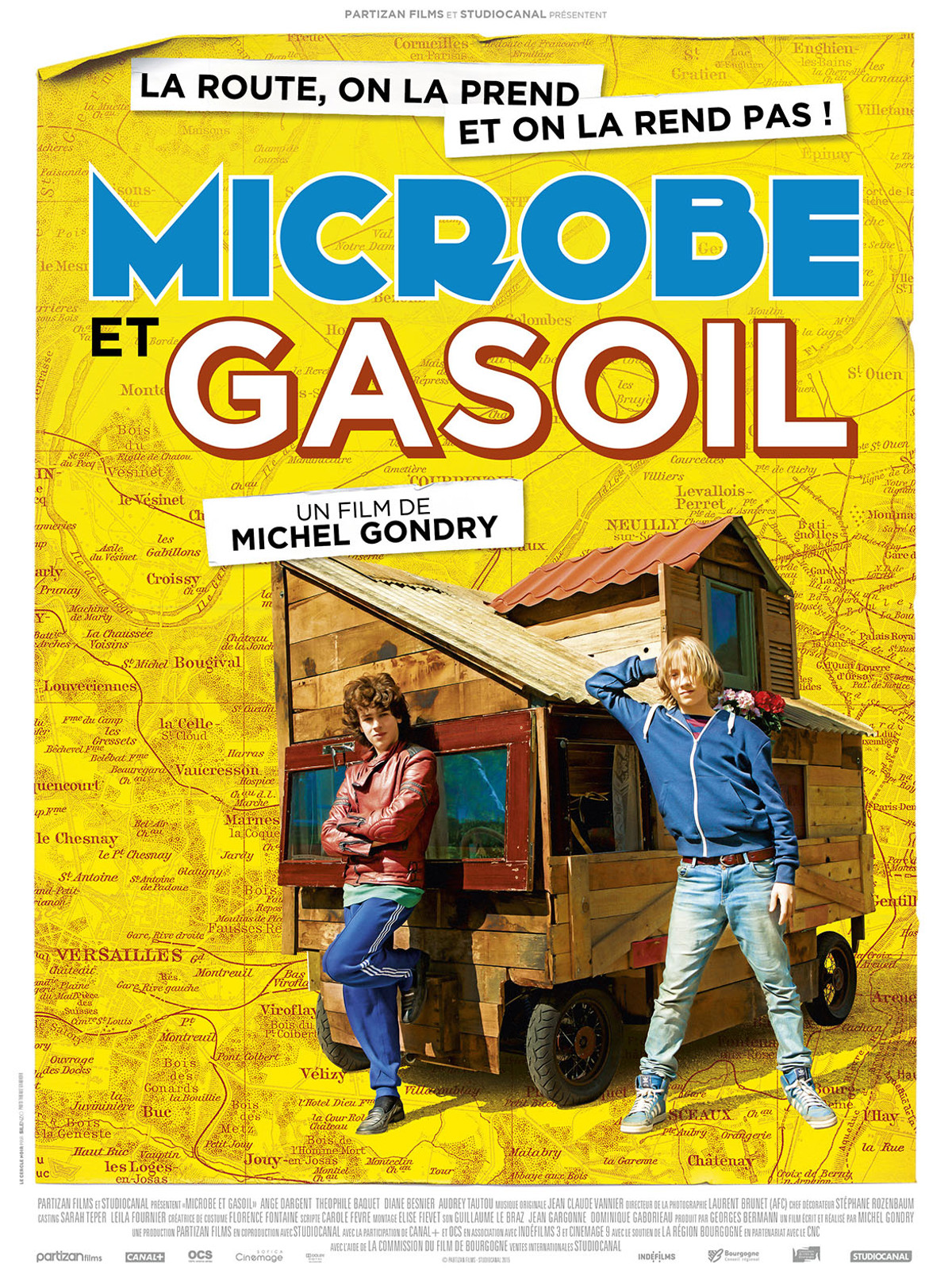Crítica | Tikkun
 Baseado no imaginário popular ligado ao extremismo religioso judaico, Tikkun é o novo longa-metragem de Avishai Sivan, centrado em Haim Aaron (Aharon Traitel), um jovem versado nos ditames litúrgicos, cujo caráter ainda está em formação, inclusive no que tange suas certezas de crença.
Baseado no imaginário popular ligado ao extremismo religioso judaico, Tikkun é o novo longa-metragem de Avishai Sivan, centrado em Haim Aaron (Aharon Traitel), um jovem versado nos ditames litúrgicos, cujo caráter ainda está em formação, inclusive no que tange suas certezas de crença.
O drama gira em torna das dúvidas do personagem principal e suas dificuldade de viver no ambiente ortodoxo que compreende seu lugar comum. Aaron orbita a força de seu pai, mas jamais se sente pertencente a mesma atmosfera de conhecimento e empatia dos seus. Os preceitos repetidos a si e aos seus irmãos mais moços o coíbem em seus desejos mais íntimos, manifestados em tela através da repressão de sua sexualidade nunca plenamente alcançada.
O estudo da psiquê de Aaron passa essencialmente pela dificuldade que o mesmo tem em dar vazão ou expressar minimamente sua libido. Todas as sua tentativas fracassam, e os artifícios visuais para demonstrar esses reveses não poderiam ser melhor escolhidos. A urdição de Sivan em exibir visualmente a problemática de seu caracter é absurda, com cenas que em uma primeira visualização, parecem sem sentido, mas que são carregadas de simbolismo e alegorias ocultas, especialmente ao retrocesso intelectual a que se atribui o extremismo religioso. Outro fator interessante no roteiro de Sivan, é a condição hereditária, uma vez que o patriarca (Khalifa Natour ) vez por outra, também tem momentos de epifania, provando que os “demônios” não assolam somente a mente “fraca” do incrédulo Haim.
A mensagem presente em Tikkun é reflexiva, associando de modo justo a castração mental e emocional a morte sanguinolento, expressando que a supressão da sexualidade denigre o humano, reduzindo-o a um espectro inanimado, descaracterizado de alegria, vida, ânimo ou vontades próprios. A crítica ao judaísmo não exagera na acidez, o que permite paralelos com tantas outras religiões e ideologias que tem na não discussão, o cerne de seu pensamento. A trajetória do herói falido não encontra redenção, edificação ou soluções tranquilas, ao contrário, carrega-se em uma ambiguidade representativa que não encontra eco nas suas atitudes e ideário normativos, tendo somente nessa representação um resquício de evolução de quadro.