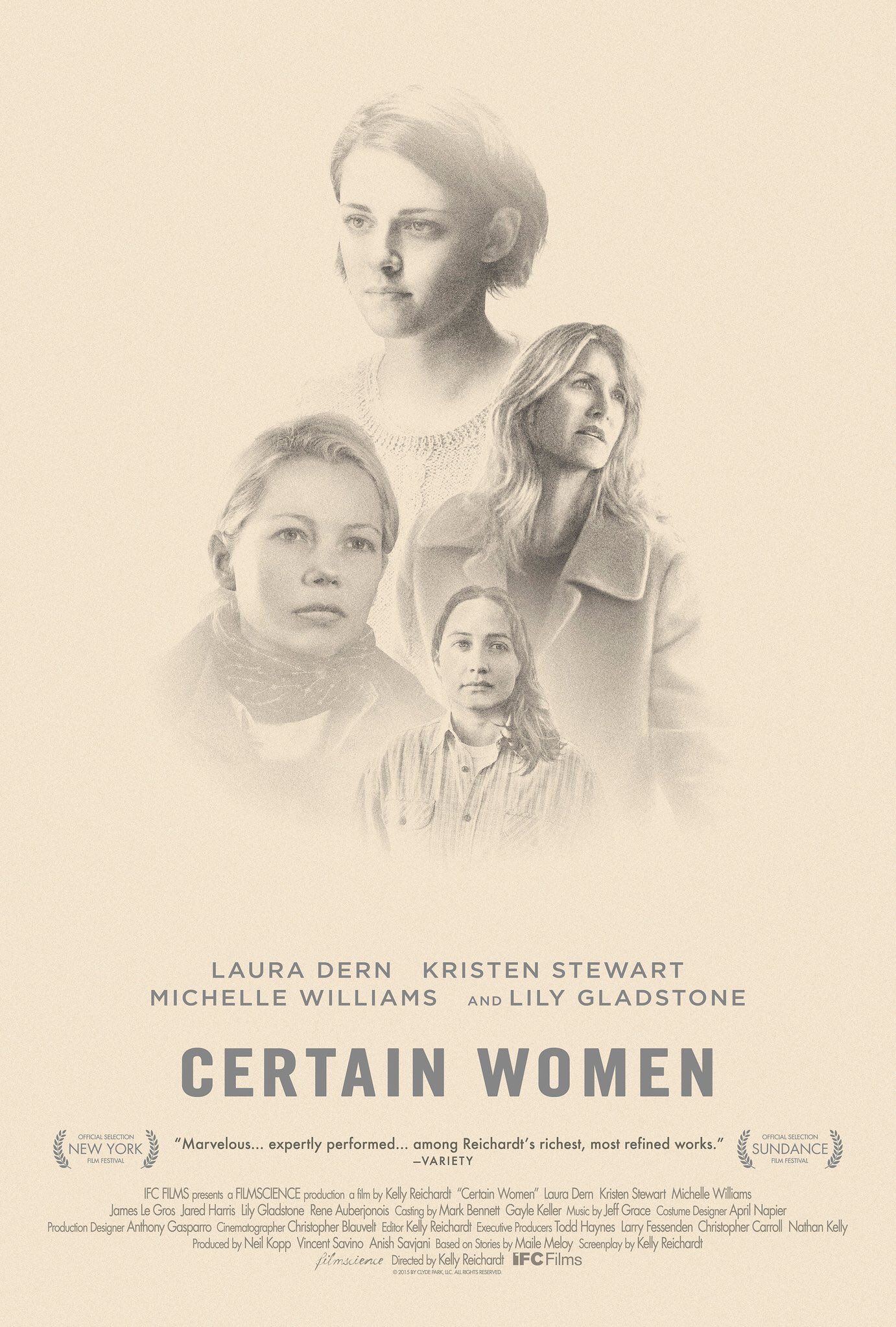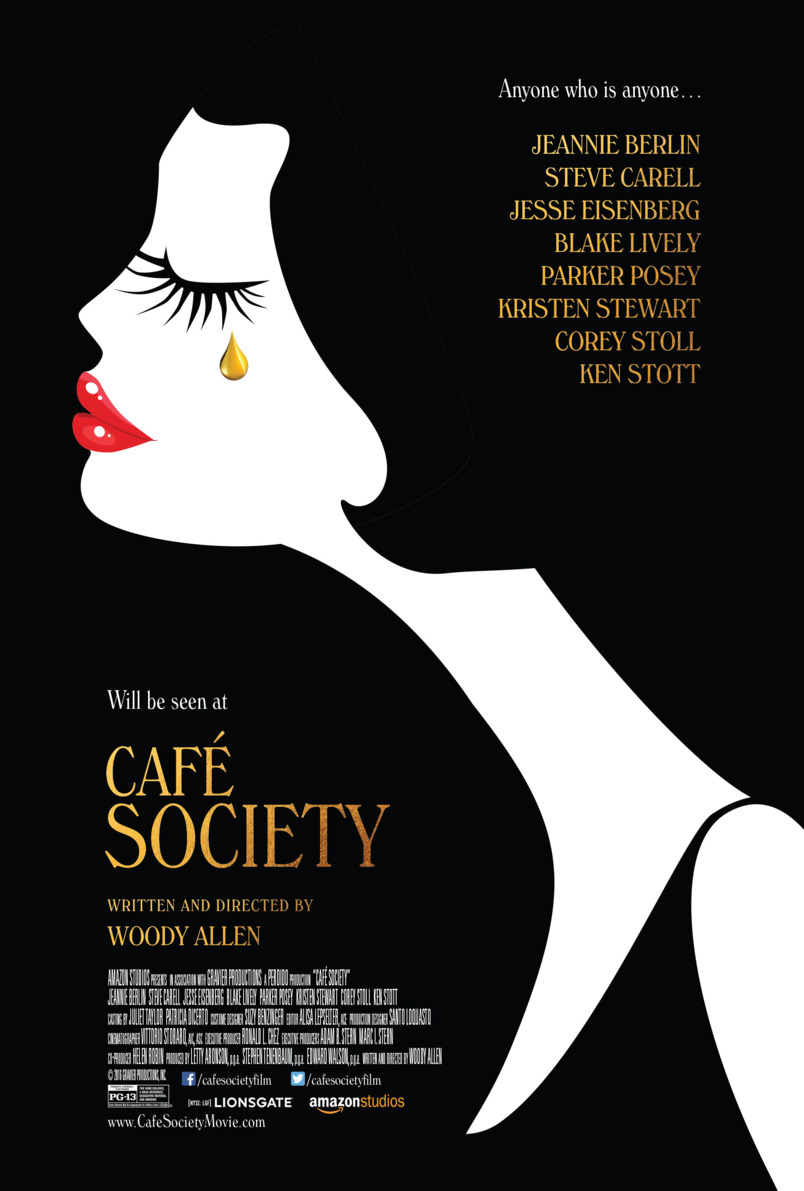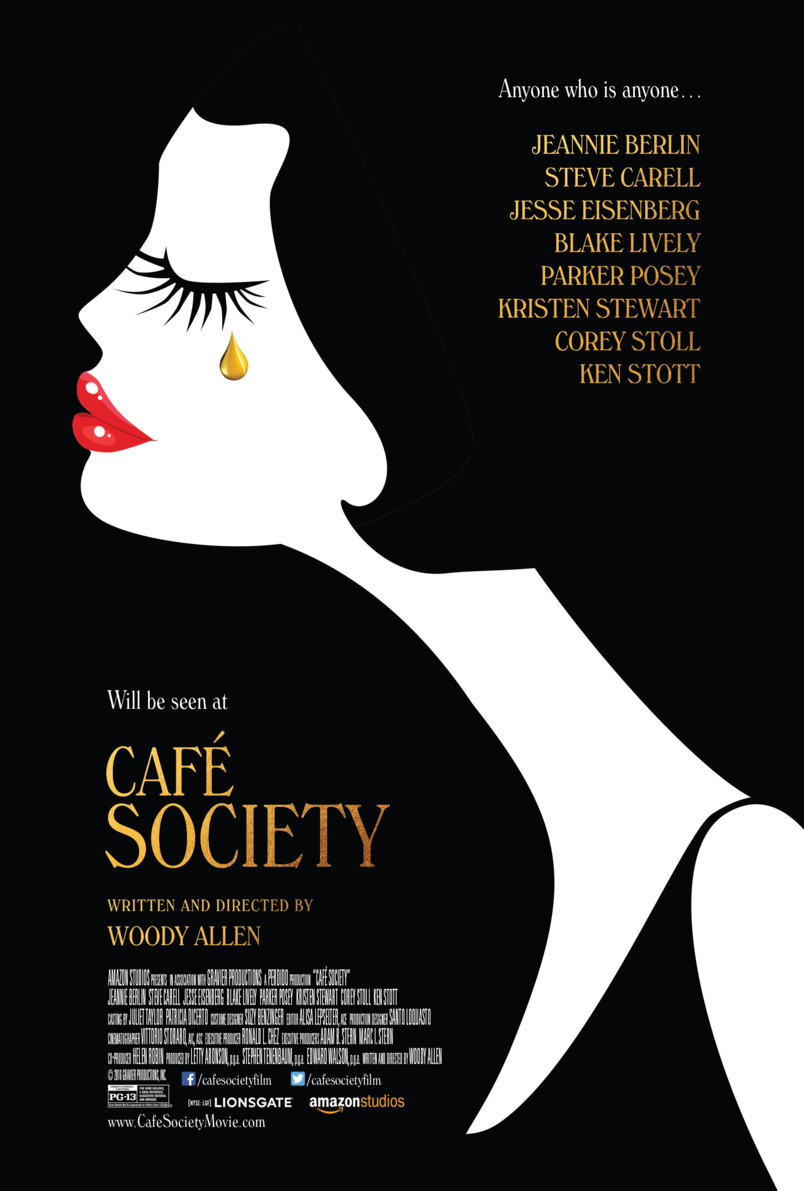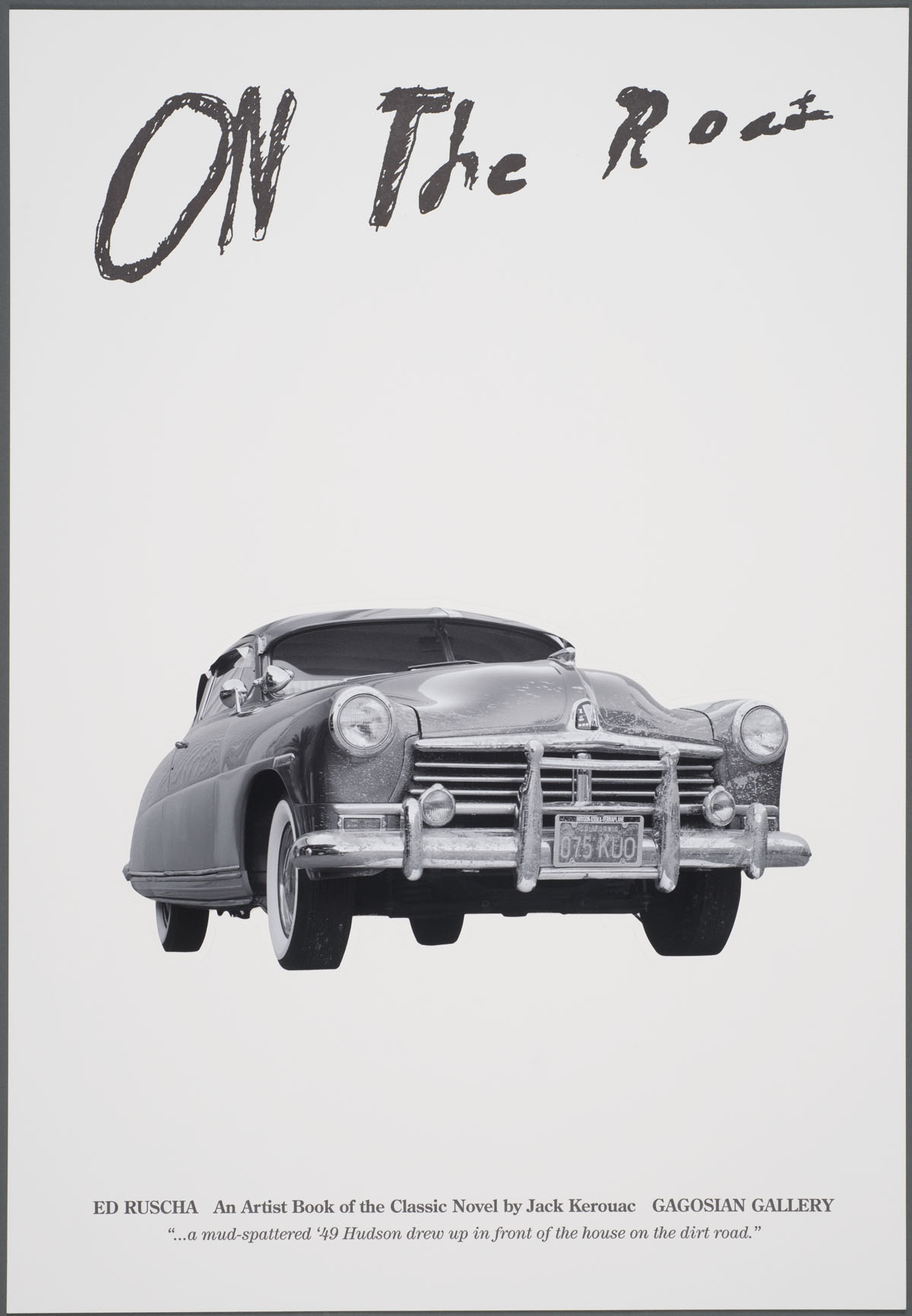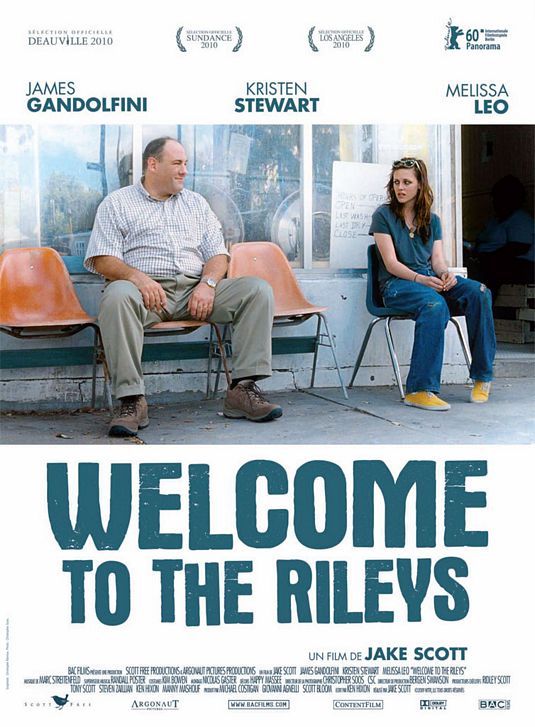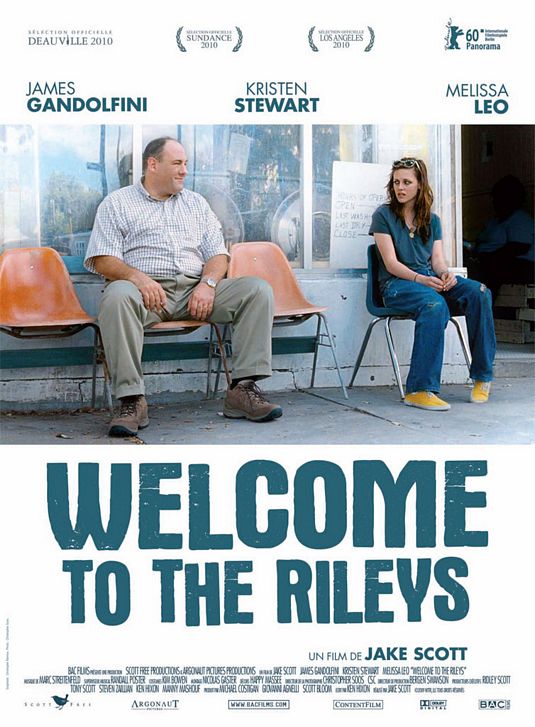Crítica | As Panteras (2019)


A nova versão de As Panteras, já começa com uma ação das agentes de Charlie, sem muita introdução, se baseando na beleza e carisma de Kristen Stewart para não só criticar o machismo do cinema mainstream mas também o tradicional modo de subestimar mulheres basicamente por elas serem atraentes. Nesse ínterim já dá para perceber os pontos positivos e negativos do longa, introduzindo não só a já citada Sabine, mas também a outra agente que será protagonista, Jane (Ella Balinska), além de ocorrer todos esses momentos no Rio de Janeiro, com a trilha musical de Anitta.
Essa versão já começa aposentando um dos Bosley, de Patrick Stewart, e nesse momento além de ocorrerem brincadeiras com as versões antigas, tanto da série clássica quanto dos filmes dos anos 2000 feitos por MCG. Essa versão, de Elizabeth Banks (que também atua, por sinal, num papel bastante importante como uma das Bosley) toma bastante cuidado para não sexualizar ao extremo suas personagens, mas também não cai na armadilha de deixar o filme inócuo ou assexual.
As mulheres agem como querem, se vestem como querem e inclusive usam sua sensualidade para ludibriar os homens imbecis, em uma versão bem mais acertada que boa parte das tentativas de Zack Snyder em ser elegante com seu nada sutil Sucker Punch e obviamente sem a caretice do visionário.
A introdução de personagens não afeitos ao mundo da espionagem é bem pensada, a personagem de Naomi Scott, Selena é inteligente, proativa e interessante para muito além de sua beleza, até porque a figura de Femme Fatale Alfa é Sabine. O trio de protagonistas aliás faz muito uso disso, são mulheres bonitas, carismáticas, divertidas, que usam decotes mas que são mais do que apenas rostos e corpos bonitos.
A configuração da Agência Townsend não apresenta quase nada de novo em níveis de estruturas, sendo basicamente uma imitação do MI-6 de James Bond ou o serviço secreto que municia os personagens de Velozes e Furiosos 8 ou Hobbs e Shaw. A trama a respeito da nova tecnologia de iluminação – a tal Calisto – também é bastante genérica, mas até essa falta de inventividade é driblada pelo desempenho das personagens principais, incluindo Banks como a patroa/superior das mesmas.
As questões sentimentais também não são bem pensadas, as perdas que as meninas sofrem não causam tanto impacto, mesmo que os personagens que perecem sejam feitos por bons atores, mas certamente o que faz Panteras ser tão legal é o choque de personalidade tão diferentes. O trio funciona demais como equipe, sendo bem mais entrosadas que foram Lucy Liu, Cameron Diaz e Drew Barrymore, uma vez que elas realmente parecem amigas.
As piadas, em especial as que passam pelo fato de que nem as mulheres ouvem Elena são ótimas, pois mostram que não são só homens que fazem as mulheres se calarem, mas também as pessoas (no caso aí, mulheres) arrogantes, que julgam principiantes de maneira desnecessariamente altiva.
O plano maléfico dos vilões também não é bem construído – é recheado de furos – mas as Panteras ganha muito pelo entrosamento de suas estrelas, pelo ritmo frenético e pela graça com que tudo é conduzido, incluindo as cenas dos créditos, que são bem engraçadas e repletas de participações especiais.
O ponto mais negativo do filme certamente são as cenas de ação, que carecem de força, não são tão bem conduzidas e parecem estar com o senso de urgência no mínimo, mas o desempenho do trio é muito bom, Scott faz a novata divertida e curiosa, Balinska é uma bela surpresa, dado que seu carisma era pouco conhecido até então e Stewart rouba a cena, é engraçada até quando age como uma pessoa tonta, e essa tríade salva o filme da mediocridade que o roteiro infelizmente entrega.



 Estreando em Cannes como um divisor de águas (fato que se tornou evidente pelas vaias que brotavam nos intervalos das palmas), o novo feito da dupla Assayas-Stewart é, no mínimo, algo para entrar na lista de prioridades de qualquer um que se interesse por cinema. E a frase anterior pode até carregar um tom de autoridade, mas é nesses filmes de opiniões tão dissonantes que se encontra o que clama para ser visto e discutido, independente de quanto o telespectador amará ou odiará no final.
Estreando em Cannes como um divisor de águas (fato que se tornou evidente pelas vaias que brotavam nos intervalos das palmas), o novo feito da dupla Assayas-Stewart é, no mínimo, algo para entrar na lista de prioridades de qualquer um que se interesse por cinema. E a frase anterior pode até carregar um tom de autoridade, mas é nesses filmes de opiniões tão dissonantes que se encontra o que clama para ser visto e discutido, independente de quanto o telespectador amará ou odiará no final.