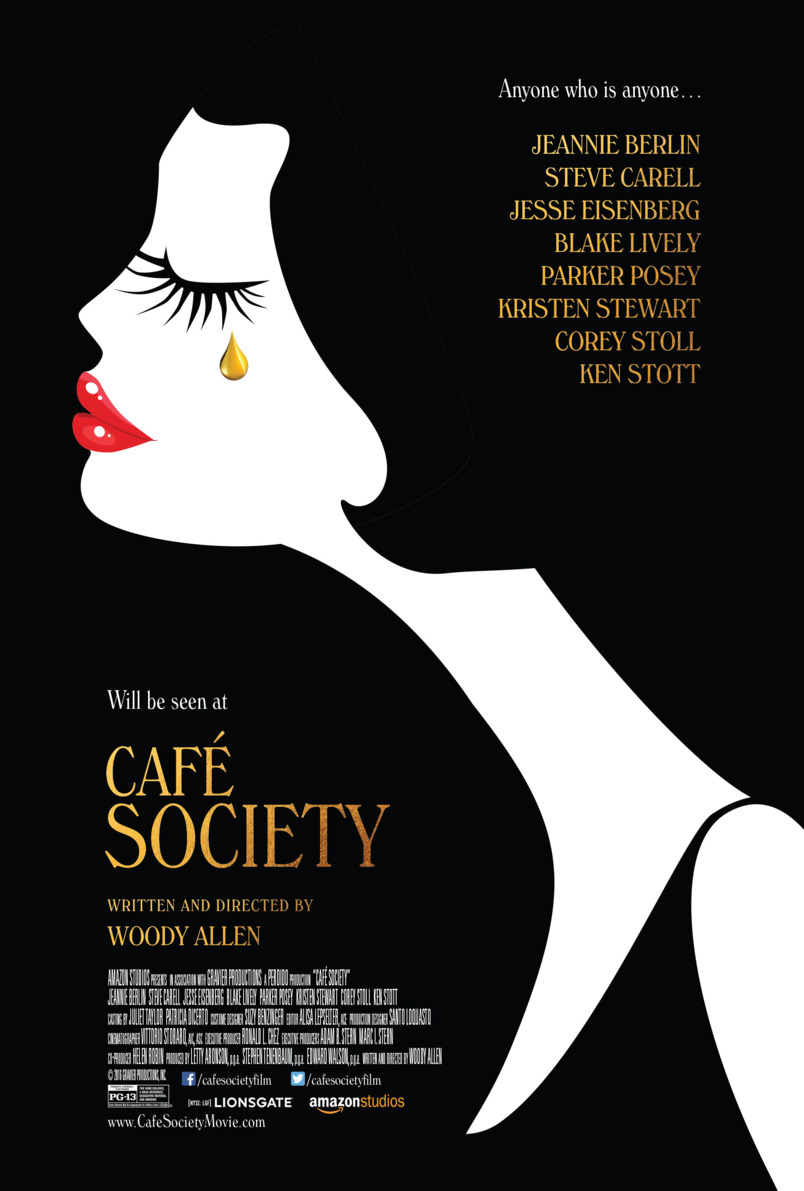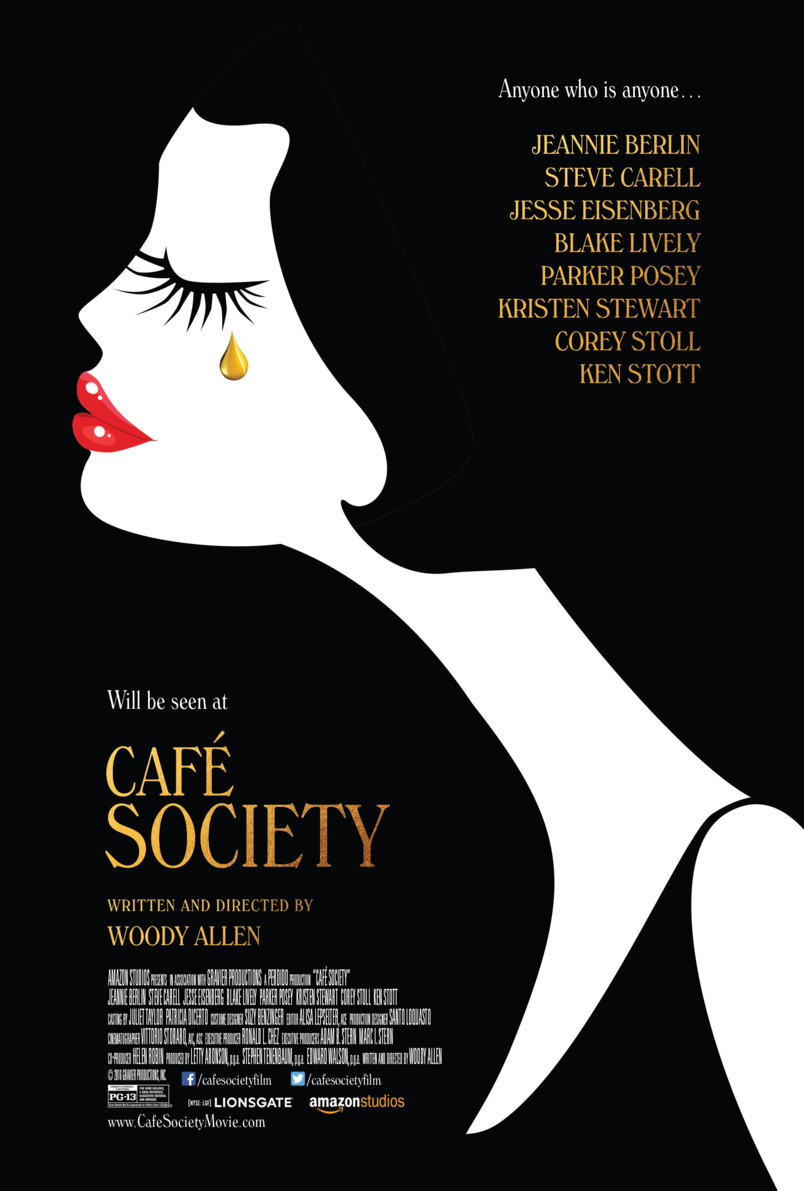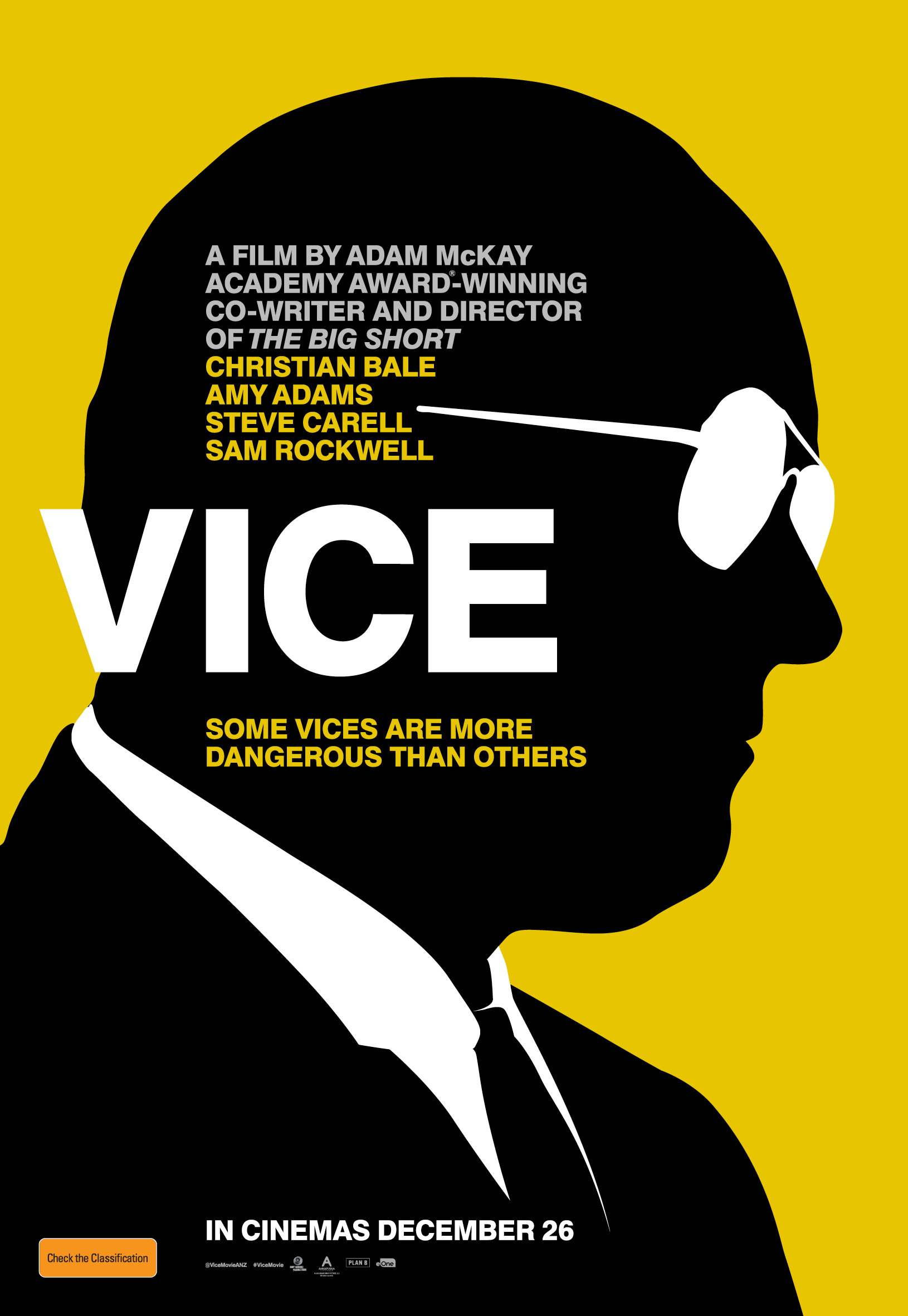
Crítica | Vice

Vice é um drama de Adam McKay, que assina roteiro e direção neste longa que segue mais ou menos na esteira de A Grande Jogada, embora seja menos jocoso que o anterior. Desta vez, a câmera acompanha a trajetória do ex-vice presidente dos Estados Unidos Dick Cheney, interpretado desde sua juventude por Christian Bale que para variar sofre com intervenções severas em sua maquiagem, figurino e compleição. A ideia ao retratar essa historia é mostrar como o pior do ser humano pode emergir mesmo do sujeito mais simplório possível, bastando apenas ter perseverança e força de vontade para alcançar o apogeu.
A historia de Dick é uma autentica zombaria do conceito de meritocracia. Do sujeito beberrão e pavio curto até o puxa saco de pessoas que estão no poder, Cheney é sempre uma pessoa desprezível. A bronca que recebe de sua esposa Linny (Amy Adams) após se meter uma confusão é bastante agressiva, e serve de ponto de virada para uma mudança radical de postura, agindo ainda de maneira mesquinha, mas voltando esse lado maquiavélico para uma atitude que poderia lhe dar algum lucro.
A grande questão é que Cheney conseguiu evoluir suas ambições. Passou de um frequentador de reuniões políticas, assunto do qual não dominava nenhum detalhe, para auxiliar de um figurão do Partido Republicano, Donald “Don” Rumsfold (Steve Carell). Ele começa de baixo, como um bajulador, mas consegue um trabalho na Casa Branca, sem glamour, mas ainda assim um cargo alto. A forma como a historia é contada, narrada pelo personagem de Jesse Plemons, o carismático Kurt é bastante engraçada, por passar ao largo da historia política dos Estados Unidos durantes as ultimas décadas, passando pelo período W. Bush e suas guerras, seguindo até o fim do mandato de Dick como vice-presidente e a sucessão de sua carreira política, apresentando toda essa movimentação de maneira tão divertida e criativa, que quase suaviza a quantidade de atrocidades feitas por quem detêm o poder naqueles tempos e instâncias.
McKay consegue explorar de maneira estilizada e irônica o pior que a humanidade tem a oferecer. Ele já tinha começado esse movimento timidamente em O Âncora e sua continuação Tudo Por Um Furo, mas em A Grande Aposta que ele atingiu o ápice disso. Da mesma form como no anterior ele debocha das tecno baboseiras econômicas para falar de lobbystas e chacais financeiros, dessa vez seu alvo é o pano de fundo da política republicana recente e ele enfia o dedo na ferida sendo bem mais explícito e menos técnico do que em outras épocas.
Toda a construção de metalinguagem que é usada e abusada no longa depende muito do desempenho de Christian Bale, que mais uma vez consegue desempenhar um papel completamente em que precisa fugir de seu biótipo físico, onde basicamente sobressai seu talento dramatúrgico transformador. Kurt só faz sentido enquanto contador de historias graças a figura central da trama, e só se crê que um homem pode ser tão mesquinho, egoísta e insensível graças a forma como Bale age. A evolução do homem medíocre e indisciplinado e que só se educa para continuar vivendo e para dar luxos a si aos seus só não é odiável por conta da entrega de seu interprete.
Por sua vez, o restante do elenco, mesmo sendo casting de apoio, precisava funcionar bem e esse é um dos principais méritos da obra. Ha uma unidade na família Cheney, seja com Adams que faz sua fiel escudeira, como suas filhas que são feitas por Alison Pill e Lily Rabe, que são personagens que mesmo com pouco tempo em tela são muito bem executadas inclusive nas diferenças entre si. Outro desempenho de excelência é Sam Rockwell, que faz um George W. Bush diferente do feito por Josh Brolin em W. de Oliver Stone mas que é igualmente genial, por se mostrar como o sujeito impulsivo e manipulável que ascendeu ao posto de comandante em chefe com mais sucesso até que seu pai. A forma como ele desempenha isso é sensacional e merece quase tantos aplausos quanto Bale mereceu.
O filme possui um ritmo crescente, mas se percebe que passam-se 132 minutos de tão harmônico que é seu roteiro e sua montagem. O final de O Vice se vale de simbolismos e mostra um homem que abdica totalmente dos seus sentimentos para continuar no poder – nem que para que haja essa perpetuação no poder fique somente o sobrenome que carrega – pois o maior torpor do homem é se sentir com autoridade, mesmo que as relações familiares entrem em falência no processo.
Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram | Spotify.