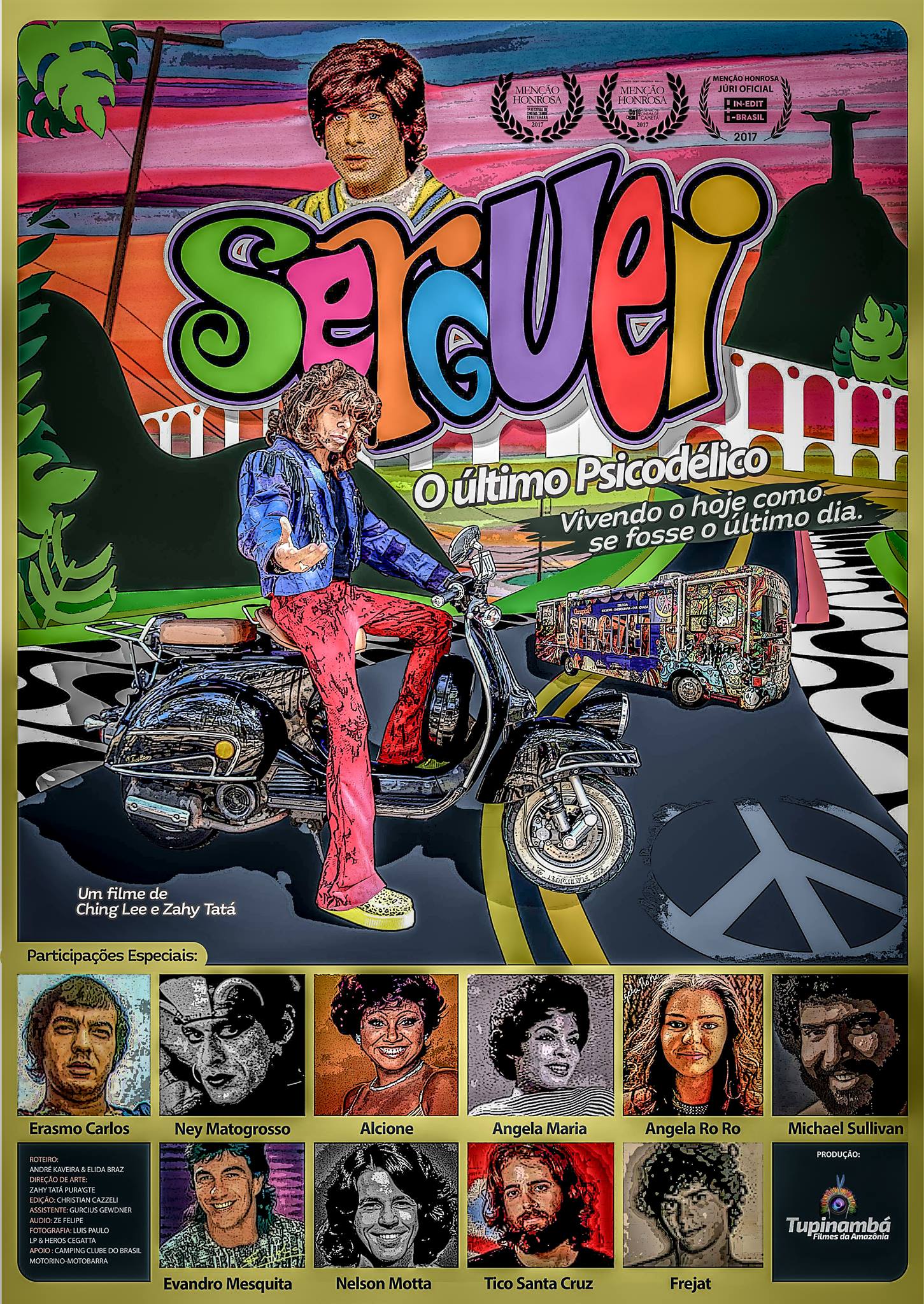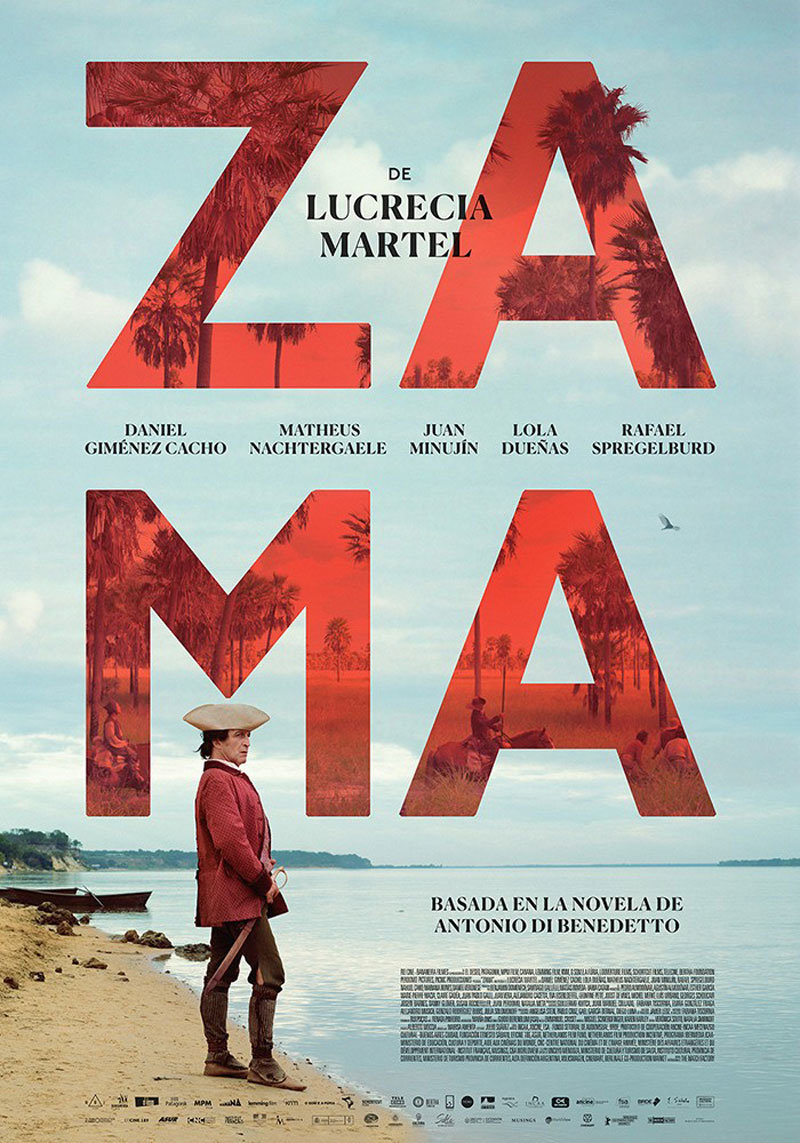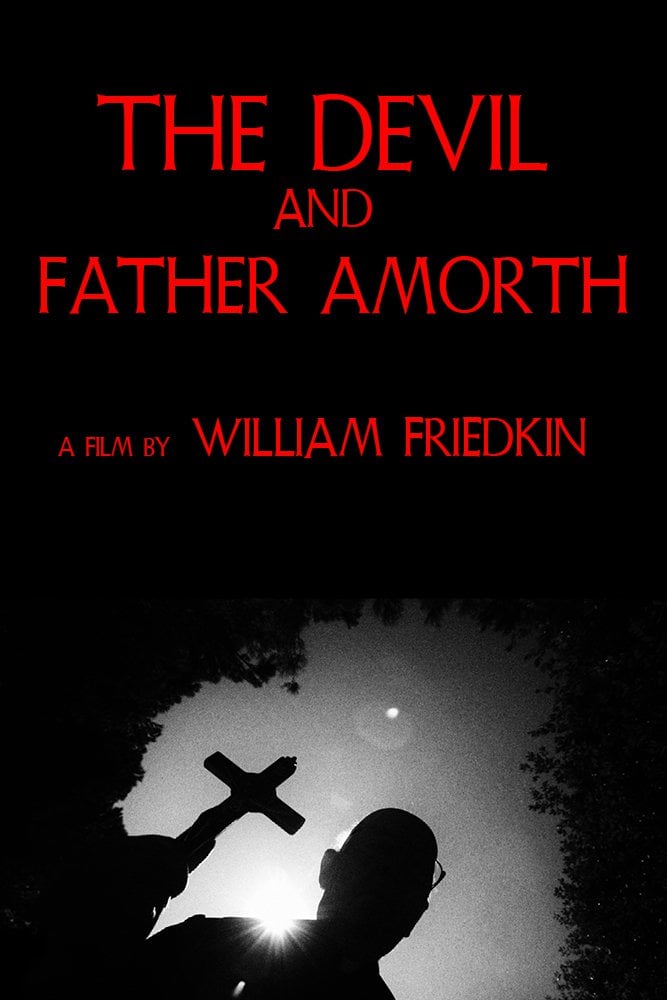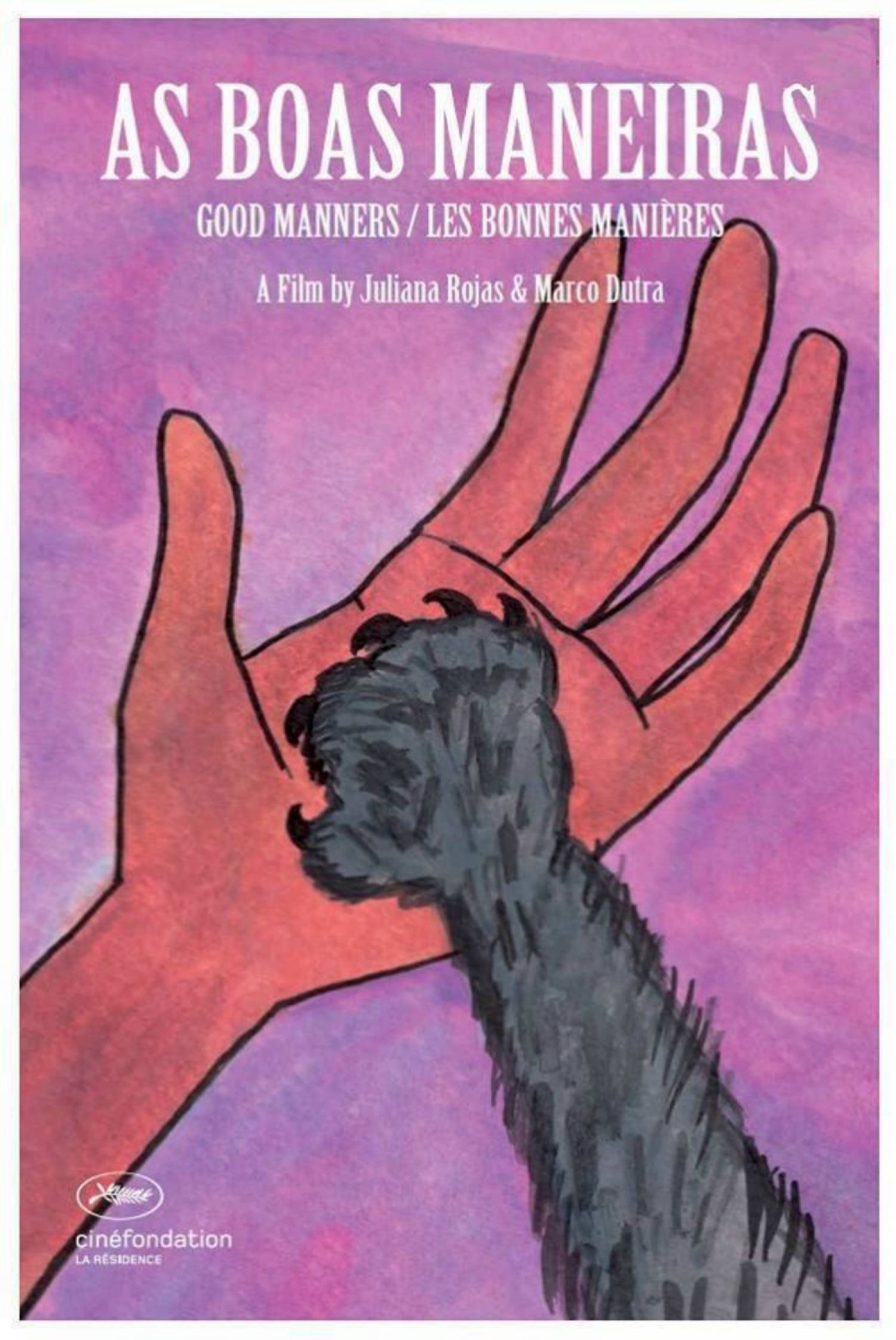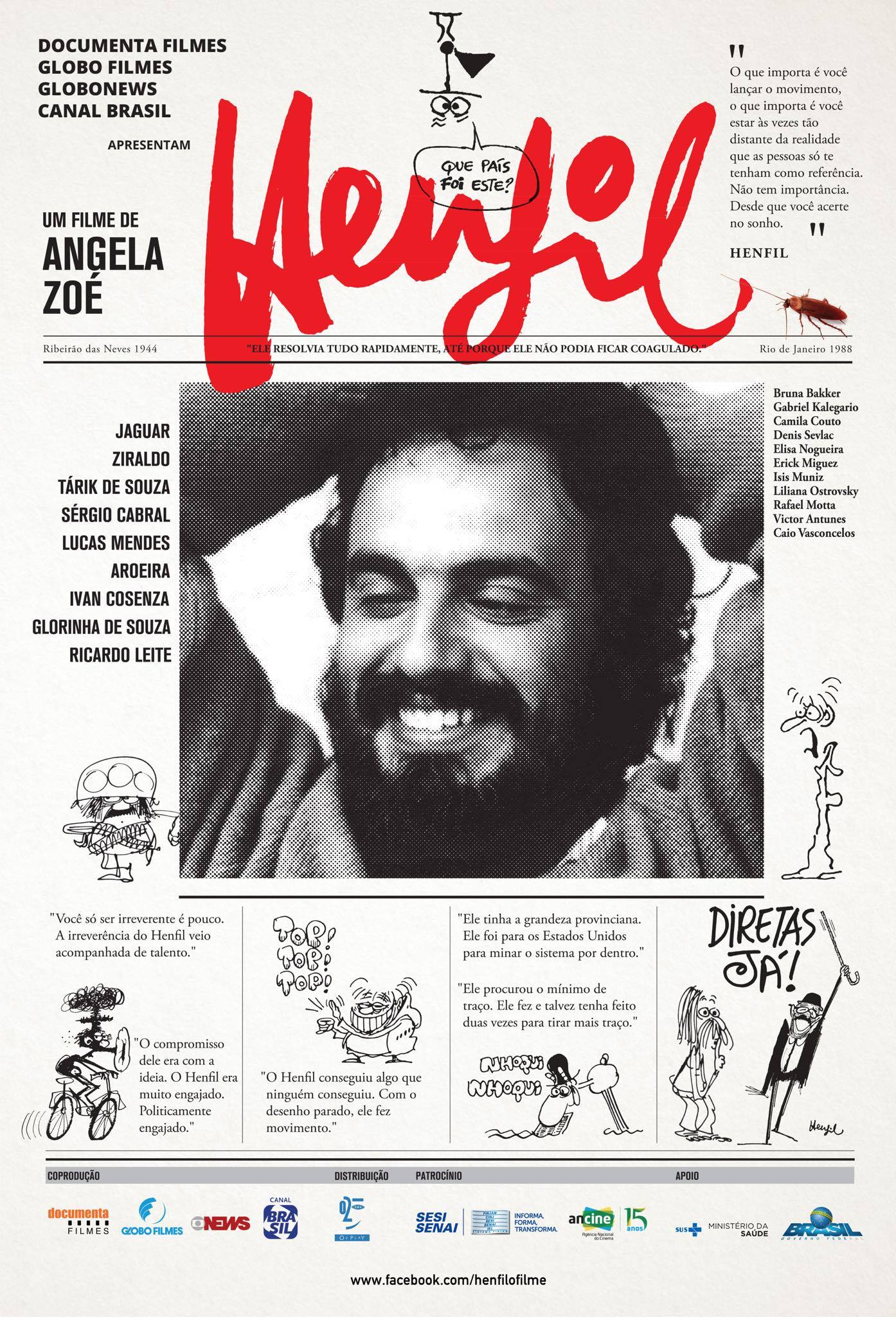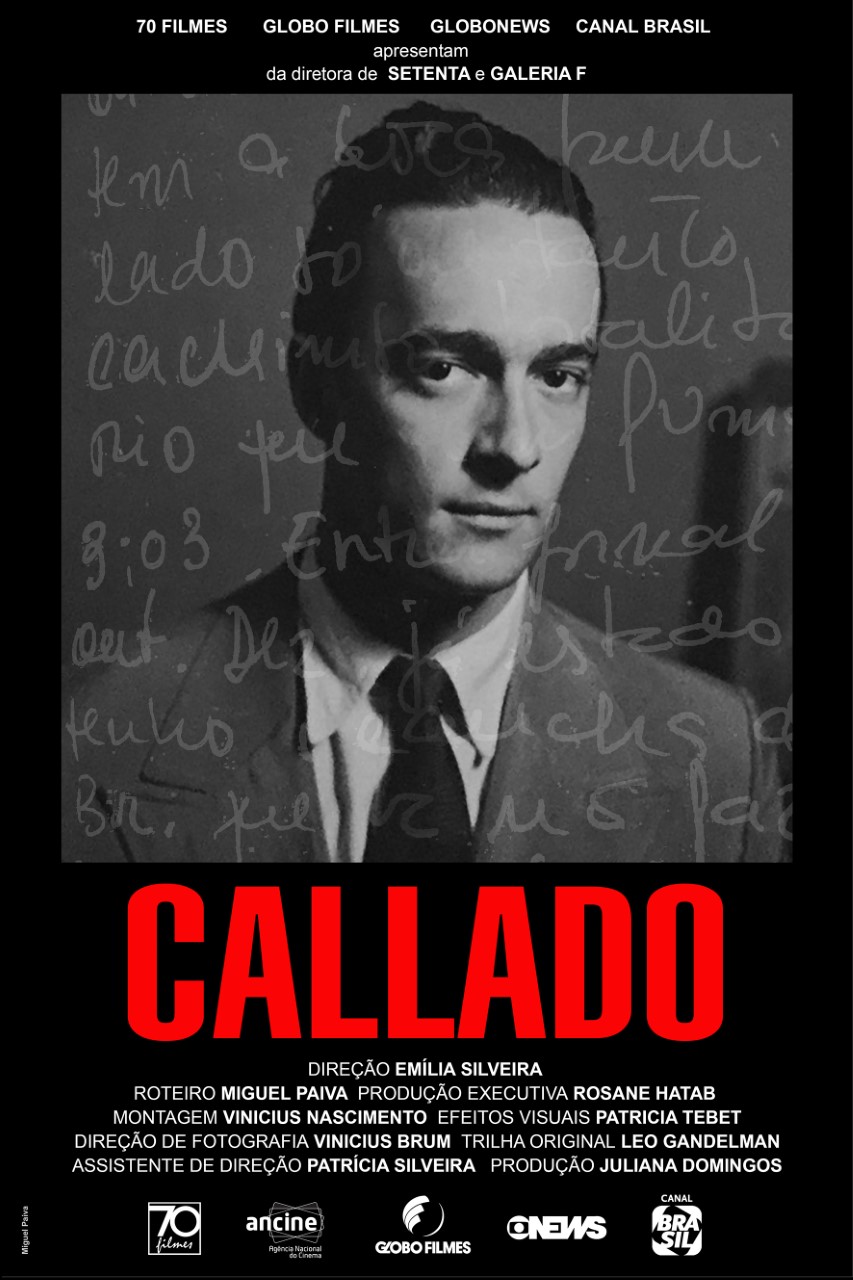Filme ensaio de Walter Carvalho, Iran acompanha o método do ator Irandhir Santos em mergulhar em seu papel, no caso, mostrando sua preparação para o filme de Luiz Villamarim exibido ano passado, Redemoinho. O documentário de aproximadamente 70 minutos é composto de uma narrativa visual que se vale de uma verborragia corporal, praticamente sem nenhuma fala de seu personagem.
Editado em preto e branco, o filme busca o naturalismo via balbucios. Os sons indistinguíveis de sentido pronunciados pelo ator revelam um método bastante peculiar, mas que certamente não justifica toda a repetição em volta deste ciclo. A sensação ao final da sessão é que há mais da metade da duração dedicada basicamente a revelar tais ruídos sem sequer mostrar a face do intérprete de Luzimar.
Talvez o aspecto que mais diferencia estes de outros ensaios cinematográficos sejam as anotações que o artista fez nos papéis dos roteiros, repletos de desenhos e indicações de performance. Ainda assim, é pouco. Deve haver um significado atroz para quem já trabalhou com Irandhir, mas para o público geral, não tanto.
Os sons das ondas batendo unido as cenas de aquecimento embalam o sono do espectador, que basicamente tem que tentar driblar a sensação de tédio. Em alguns momentos, parece que a intenção do documentarista é exatamente esse, o de ninar a platéia. As justificativas do diretor antes da sessão da Premiere Brasil mais pareciam um pedido de desculpas para o que o público assistiria adiante, fato absolutamente desnecessário, afinal a experiência ali poderia fazer sentido para alguns.
Iran parece muito os filmes experimentais de Paula Gaitán, como o recente Sutis Interferências que ainda é mais palatável para o público geral que este analisado. Carvalho traz cenas belíssimas e uma ideia poética que certamente seria melhor exposta em uma sessão especial de exibição, pois necessita de uma apreciação tão experimental quanto a sua feitoria.
Acompanhe-nos pelo Twitter e Instagram, curta a fanpage Vortex Cultural no Facebook, e participe das discussões no nosso grupo no Facebook.