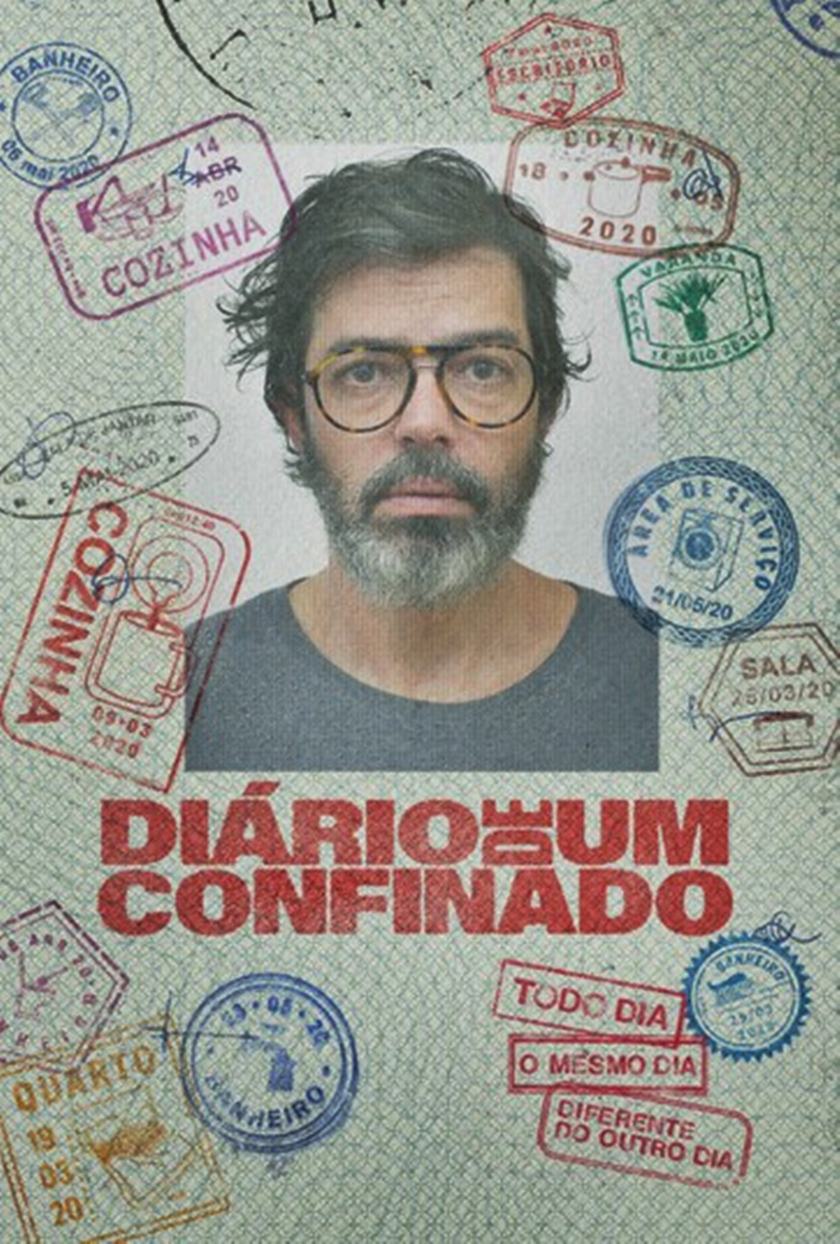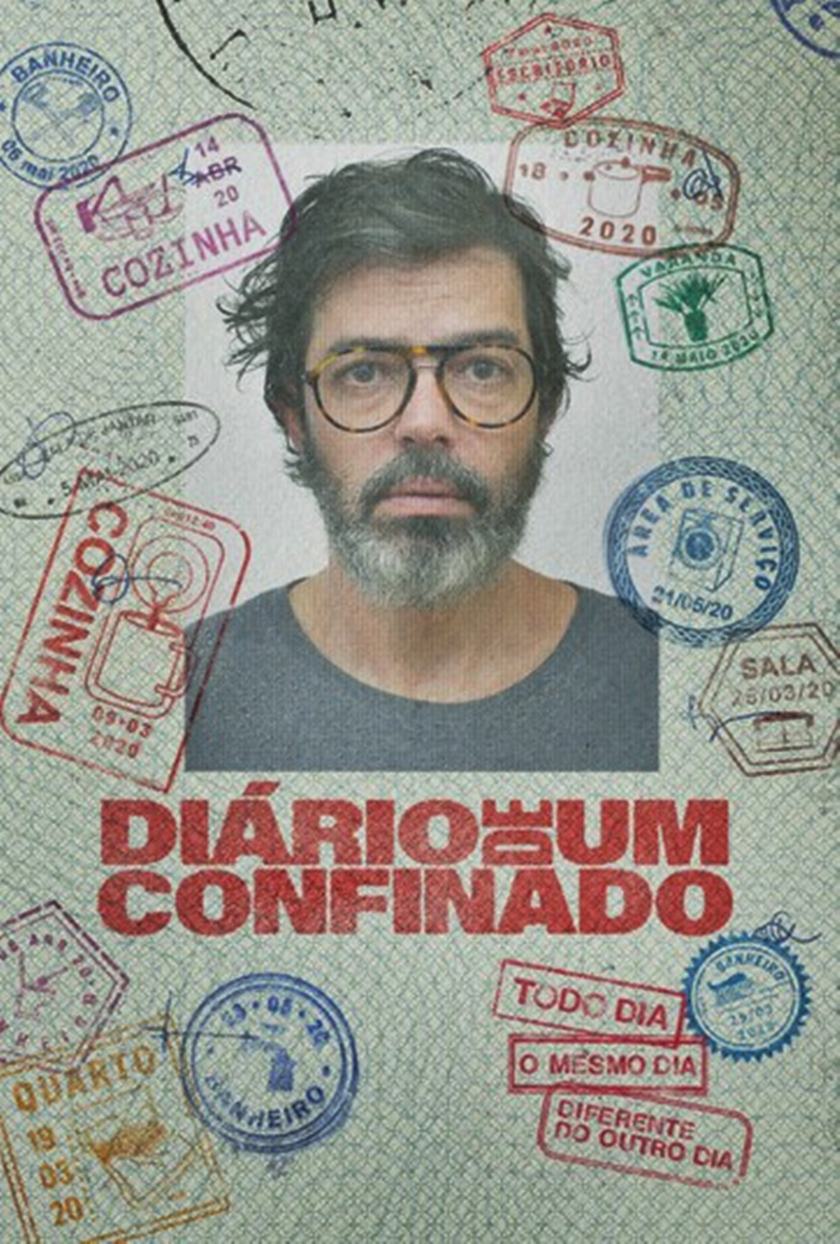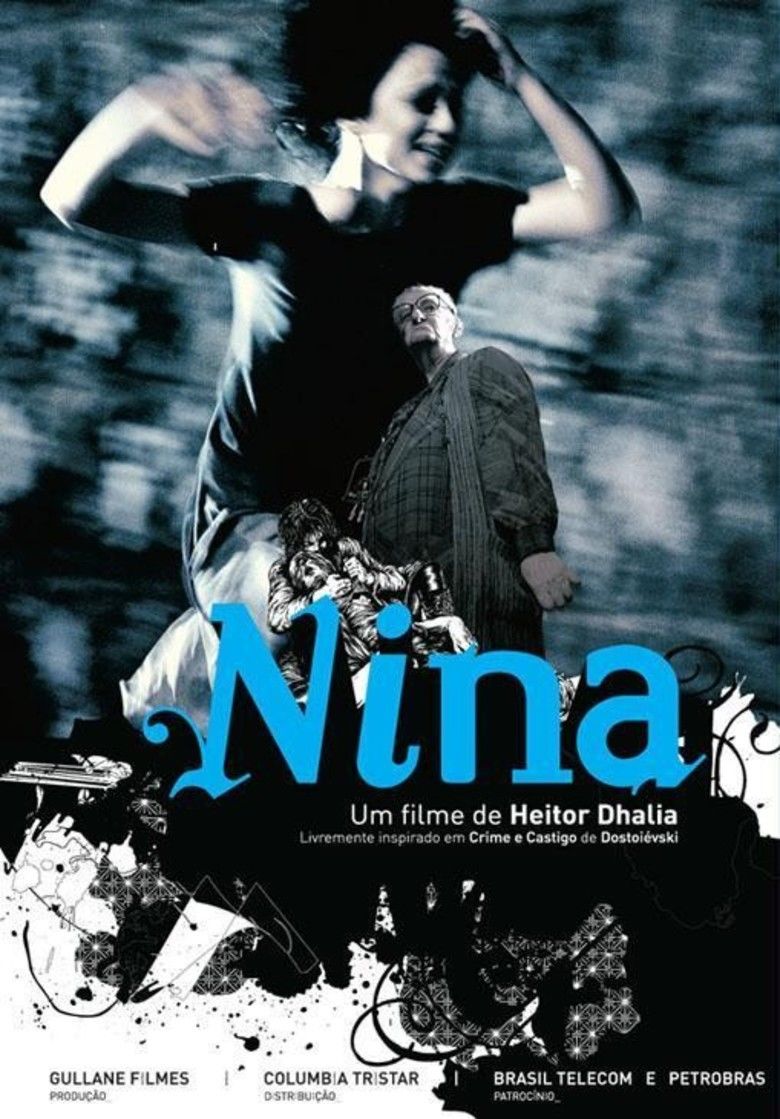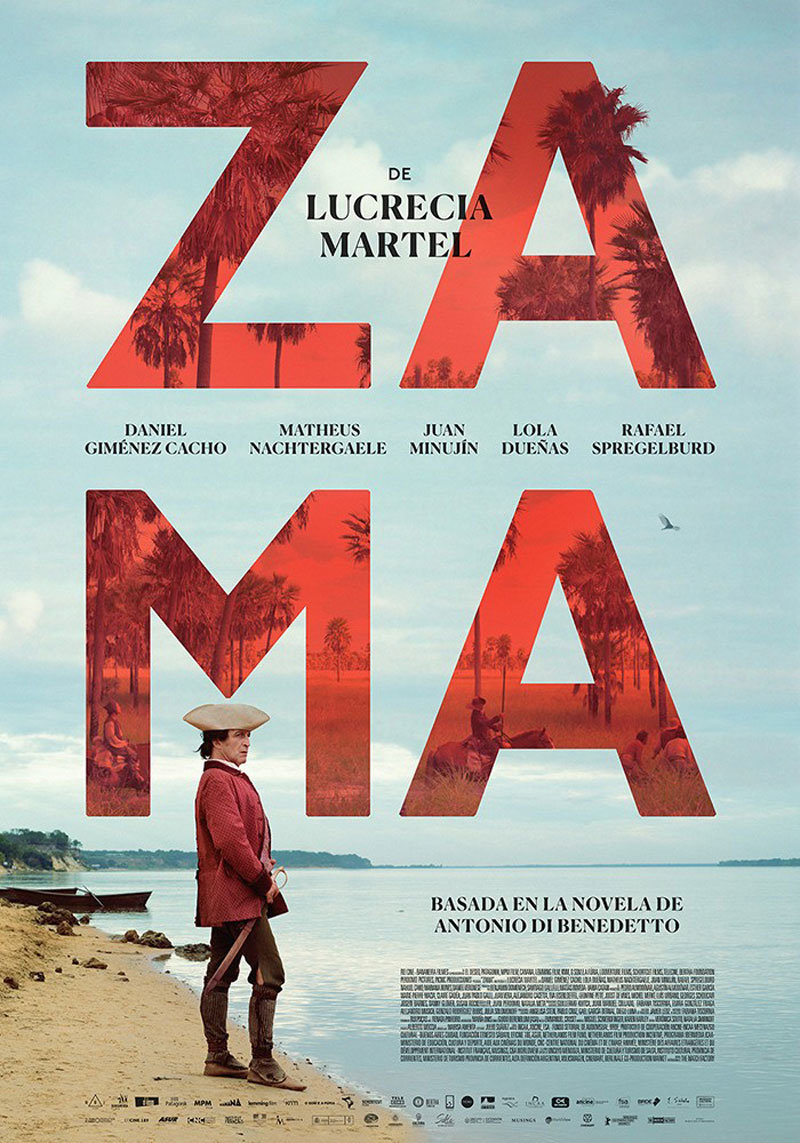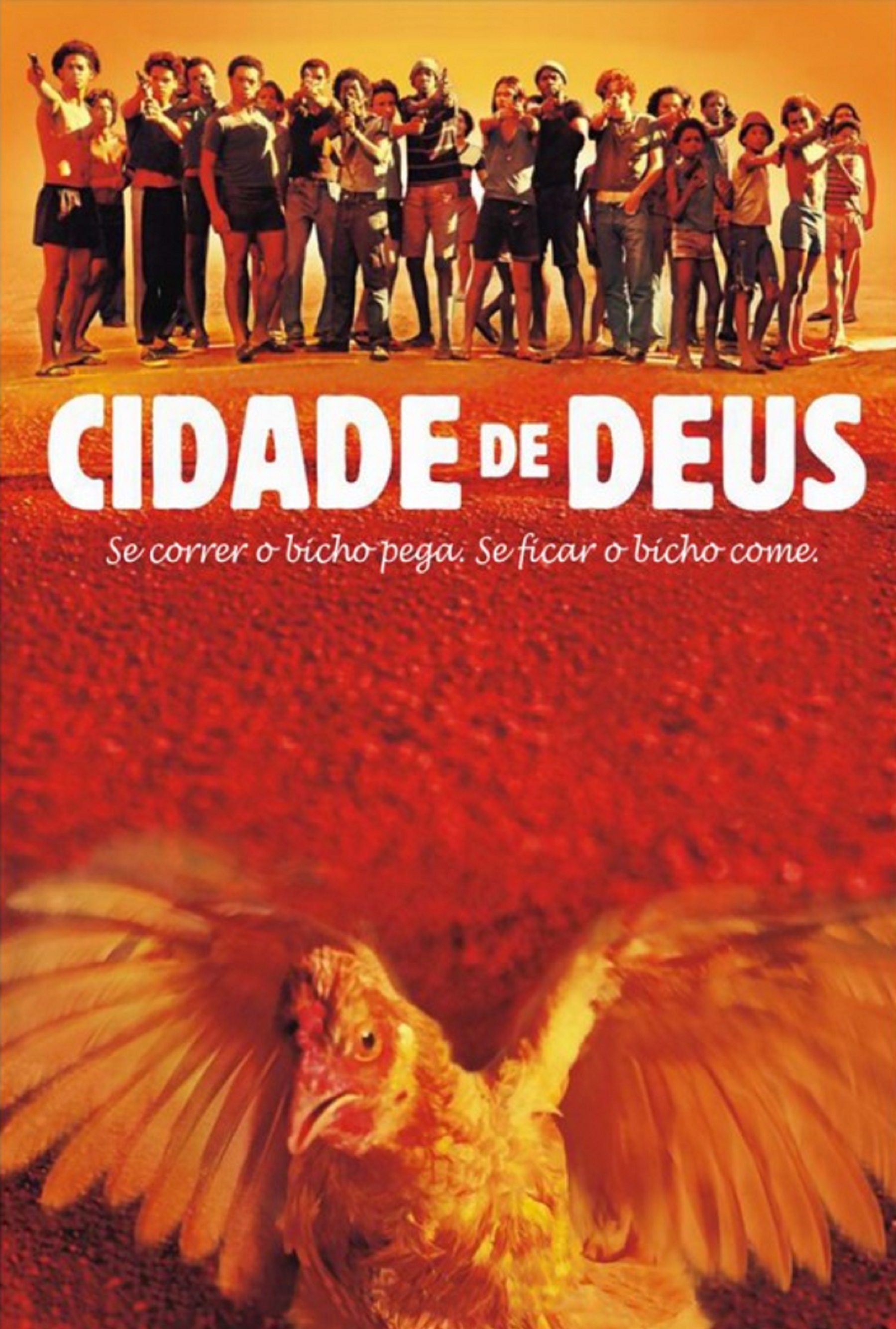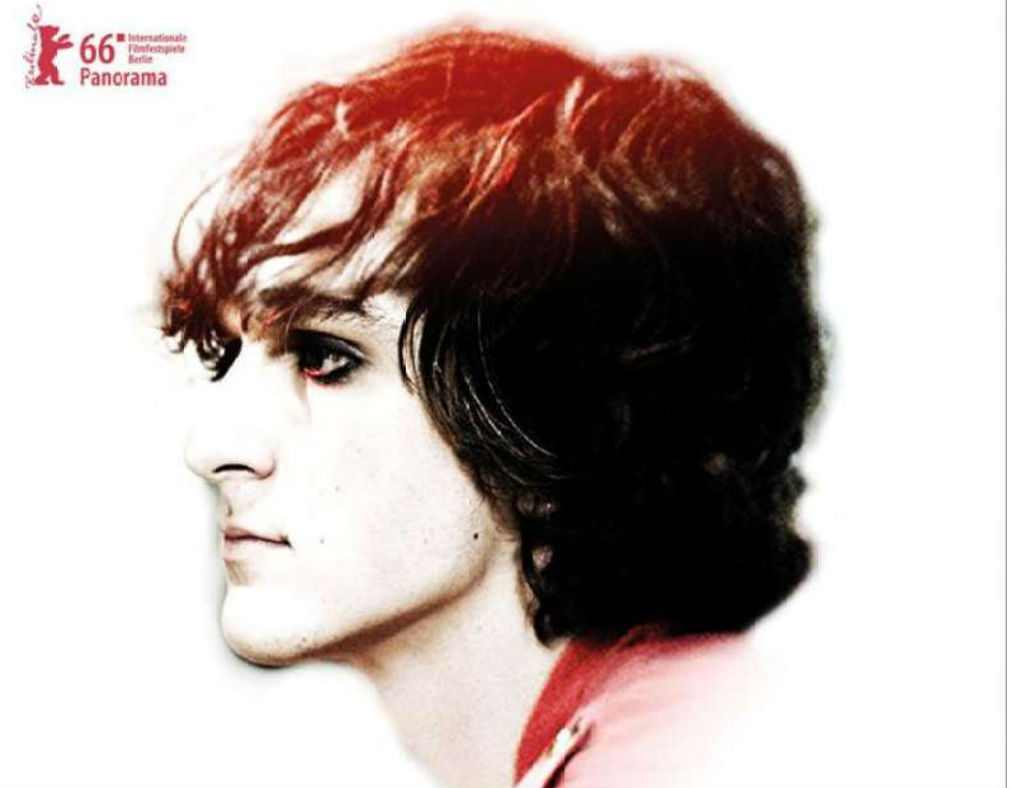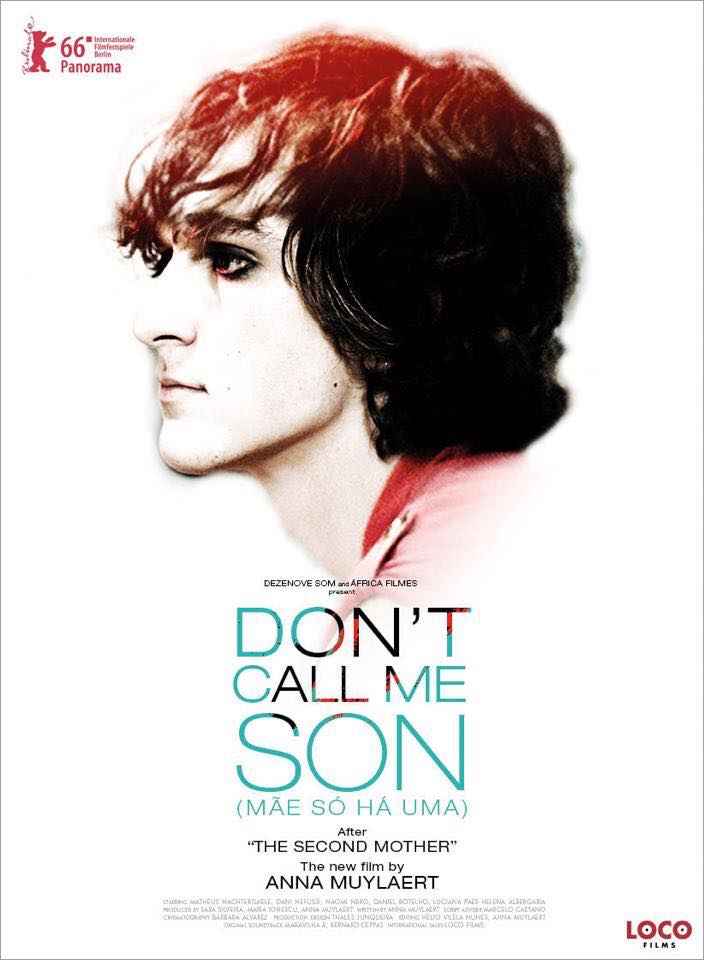Crítica | Cabras da Peste

Cabras da Peste é uma comédia policial brasileira que brinca com os estereótipos das antigas produções de ação que passavam nas sessões na tv aberta, as mesmas que colocavam policiais de estilos completamente diferente juntos, valendo-se de choques culturais ou raciais para gerar atrito em meio a uma missão de difícil solução. O filme conta a historia de dois policiais franzinos, um nordestino e outro do sudeste que por forças do destino são obrigados a trabalhar juntos.
Há dois cenários iniciais que o diretor Vitor Brandt (Copa de Elite e Historietas Assombradas: O Filme) apresenta: o primeiro é a cidade do interior nordestino Guaramobim, que tem em Edmilson Filho um policial voluntarioso e trapalhão chamado Bruceuillis Nonato, e outro local é na cidade, mostrando Trindade, um pacato burocrata, interpretado por Matheus Nachtergaele, obrigado a agir em campo contra sua vontade. Ambos são fracassados em suas missões e acabam unidos pelo desalento de não terem êxito como policiais sérios.
O humor do filme se assemelha ao visto nos filmes de Halder Gomes, como Cine Holliúdy e Shaolin do Sertão. Gomes dirigiria o filme a princípio, mas ao longo do projeto se decidiu que ele assinaria a produção executiva. Ainda assim não é difícil perceber as marcas de seu cinema, seja no fato de não ter receio em usar sotaques e dialetos próprios de sua localidade, ou no escracho do humor físico, que por mais que seja primário não trata o espectador como bobo.
O fator mais engraçado do filme é o excesso de informações desencontradas. As falas dos personagens são quase sempre incompletas, de modo que a percepção é sempre deturpada. O roteiro faz questão de deixar as situações ambíguas para provocar um humor de erros que, apesar de bem simples, é bem feito e combina bem com a abordagem proposta. Os diálogos lembram o nível de explicação das telenovelas populares, e esse fator resulta em uma boa mistura com os clichês de filmes e seriados policiais dos Estados Unidos.
Cabras da Peste é charmoso, engraçado, tem um elenco que funciona de maneira entrosada, com uma química exemplar entre Nachtergaele e Filho. Brandt um filme que conversa bem com a comédia tipicamente brasileira, com temperos e referências aos filmes humorístico de Ivan Reitman e John Landis. Seus personagens são erráticos, engraçados e muito humanos. O longa é engraçado, direto, brinca bem com os defeitos e incongruências dos filmes de ação antigos, e o faz com um charme e tempero próprio do cinema de Halder Gomes.