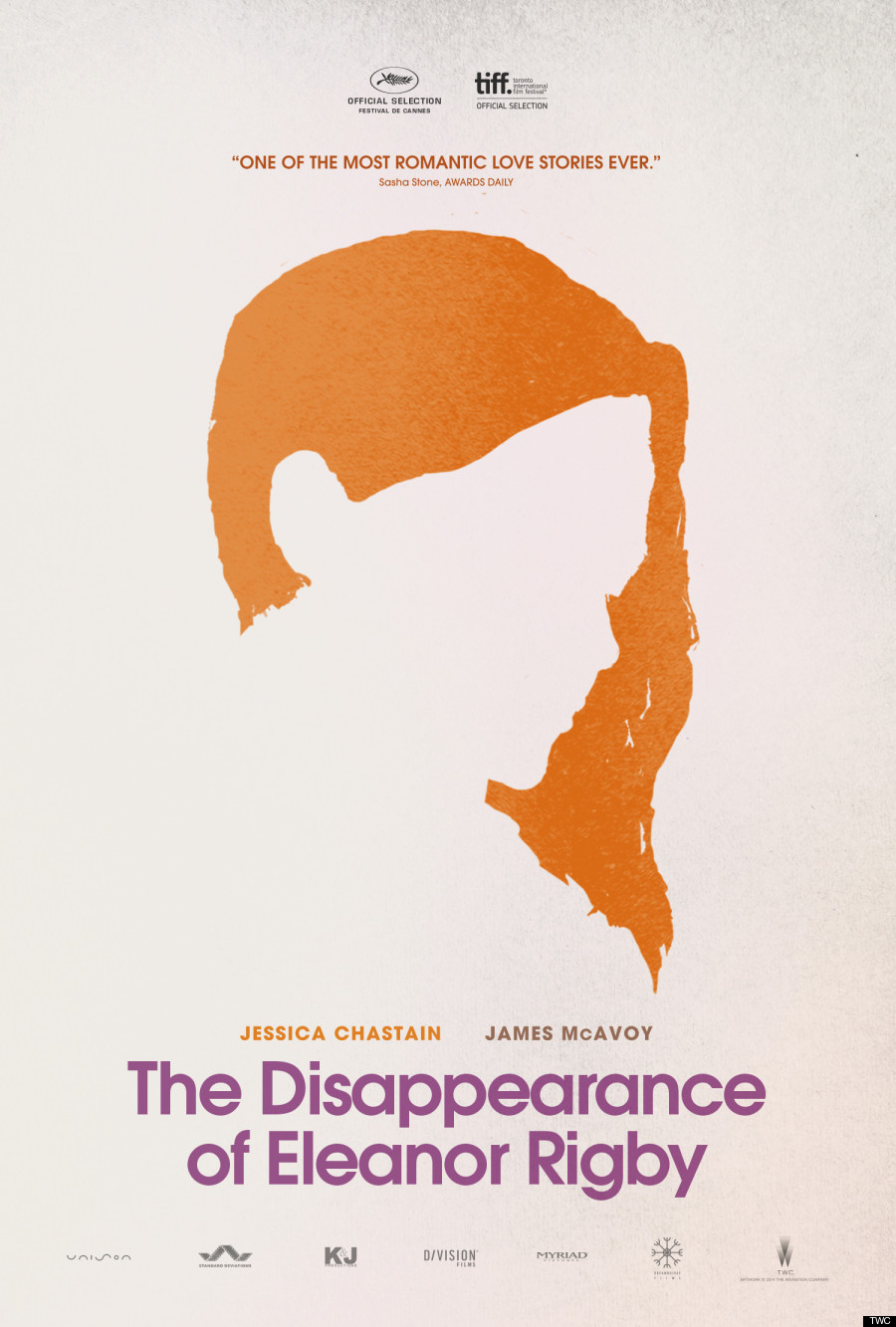Crítica | A Câmera de Claire

Filme terno como é típico do cinema recente de Hong Sang-soo, A Câmera de Claire, novamente em parceria com Kim Min-hee, acompanhada dessa vez por Isabelle Huppert.
O filme se passa nos bastidores do Festival de Cannes, onde uma equipe de produção de cinema da Coréia do Sul apresenta um filme que está em cartaz. As primeiras personagens apresentadas são Manhee (Min-hee), uma assistente de produção e Nam Yanghye (Mi-hee Chang), que por sua vez, acompanha o diretor e beberrão Soo Wansoo (Jin-young Jung). Manhee é demitida sem saber a razão, mas logo se revela o motivo. O ambiente escolhido por Hang-soo para mostrar as rupturas empregatícias são os cafés franceses, que normalmente servem de cenário para confraternizações.
Logo, a professora Claire (Huppert) aparece utilizando a sua câmera fotográfica instantânea para registrar os sentimentos e estados de espírito de praticamente todos os personagens já citados, além de outro periféricos. A partir desse ponto a linguagem idiomática do filme muda bastante, passando a se utilizar mais o inglês do que a língua mãe dos personagens, fato que evidencia a tentativa de Soo de soar comercial para a platéia dos Estados Unidos.
A câmera fotográfica que dá nome ao filme é um modelo antigo, semelhante às antigas polaroides. Seu equipamento parece também registrar cópias digitais, uma vez que ela guarda os registros mas sempre dá a foto tirada para o modelo. Essa troca de imagens tem um forte significado por trás, mais profundo do que o sorriso da francesa transparece. Seu discurso de que a pessoa muda sempre que é fotografada não se prova empiricamente, mas em teoria ela está a ponto de se comprovar verdadeira, já que após a sua interferência, todo o trio coreano tem suas jornadas radicalmente mudadas, ainda que não seja ela o catalisador dessas transformações .
O diretor consegue em apenas 68 minutos fazer um comentário sobre a futilidade que envolve a sétima arte, como também sobre as relações de trabalho decorrentes desta área. A Câmera de Claire traz retratos da intimidade de beleza considerável, mas que ainda assim evita trazer à tona momentos agridoces, repetindo boa parte dos clichês de sua filmografia, ainda que não perca a redundância.
Acompanhe-nos pelo Twitter e Instagram, curta a fanpage Vortex Cultural no Facebook, e participe das discussões no nosso grupo no Facebook.