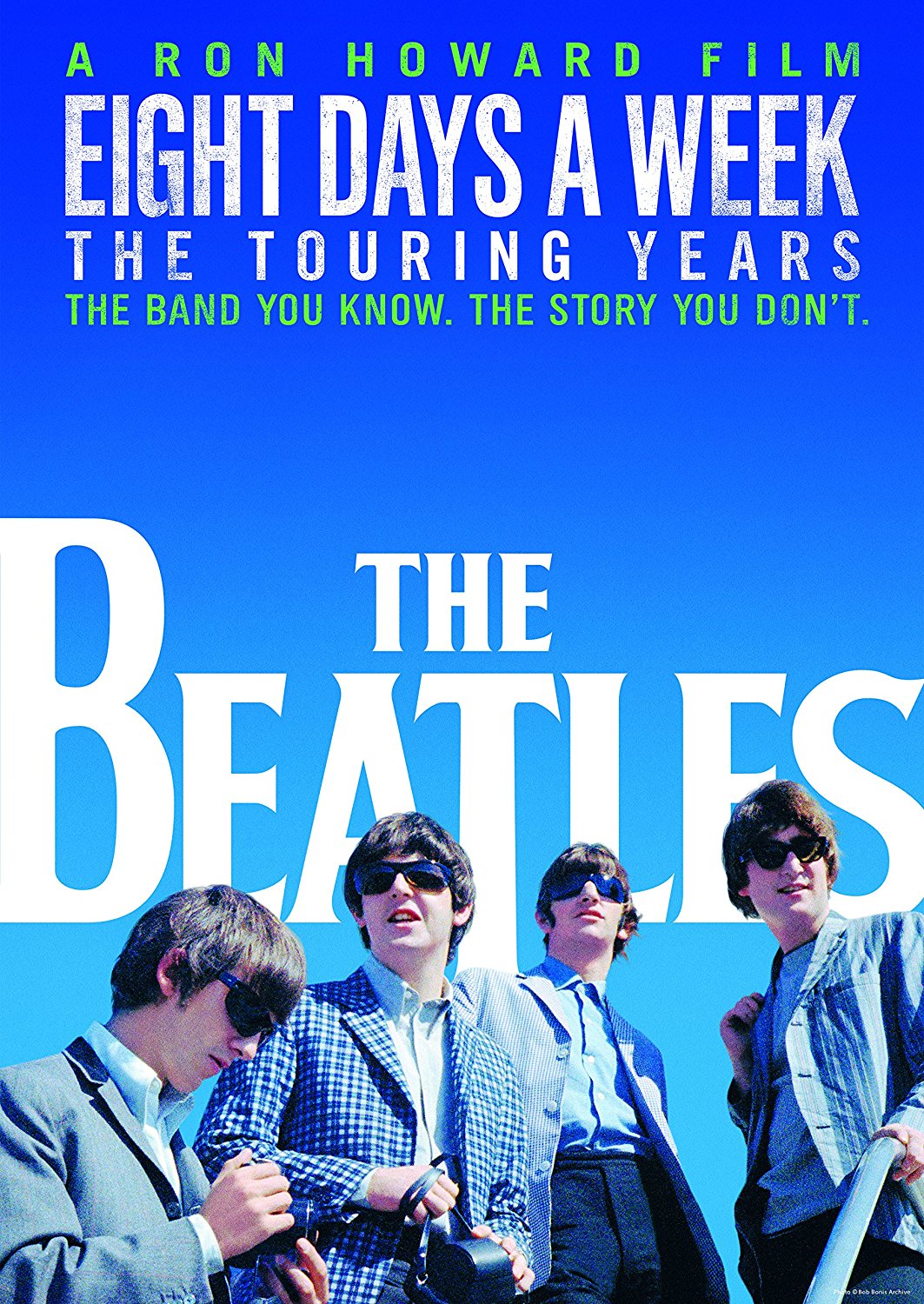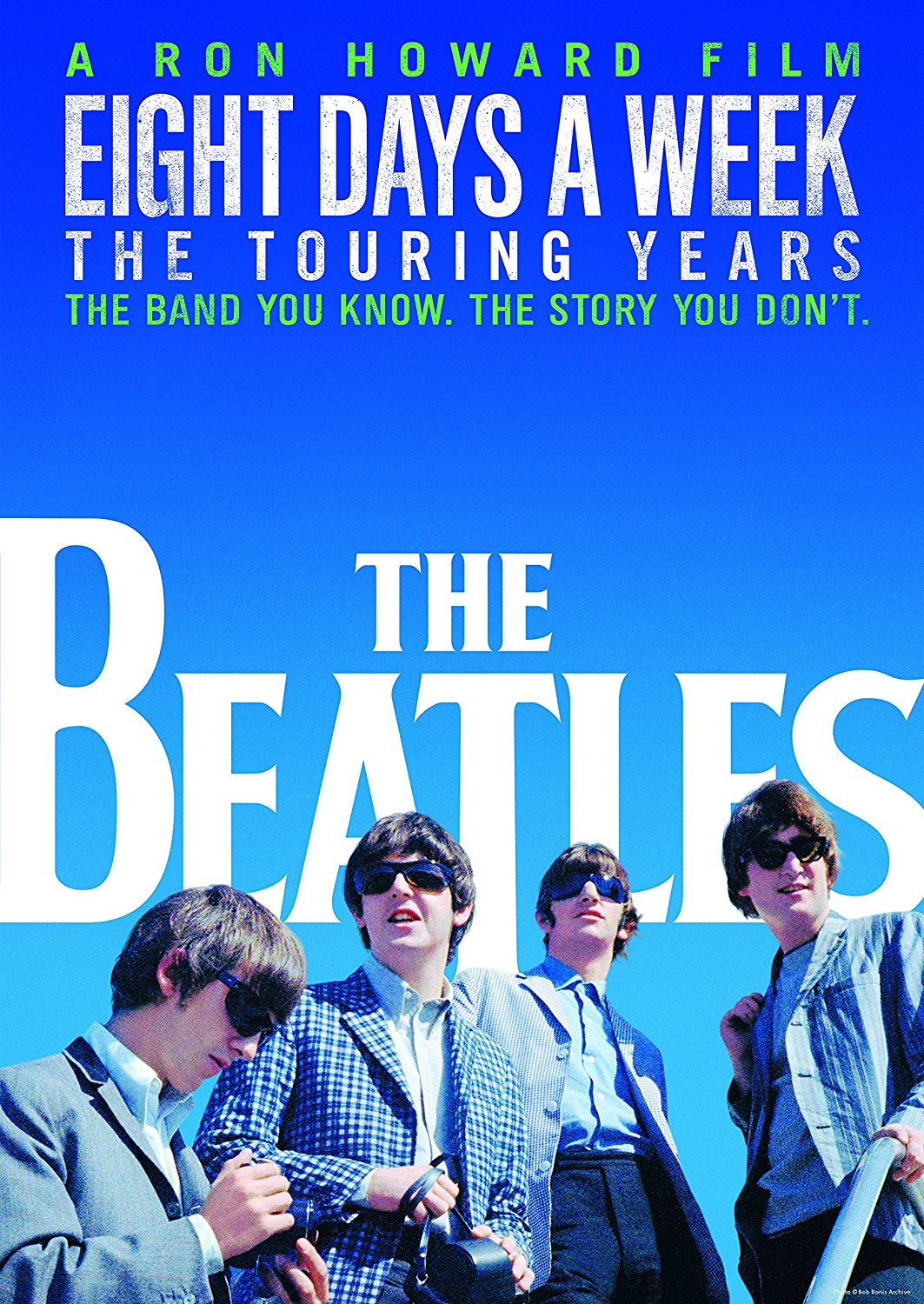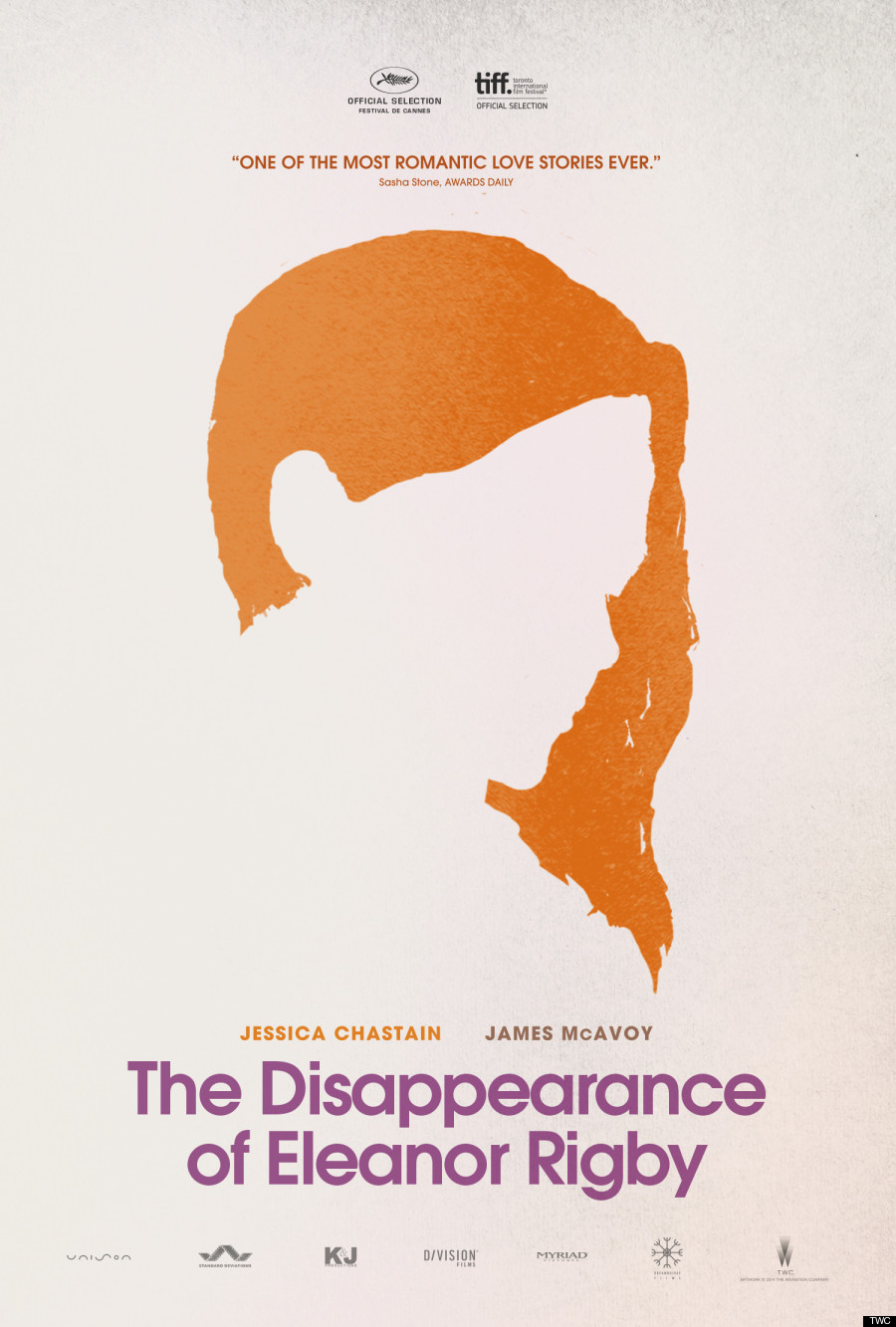Resenha | Paul Está Morto: Quando os Beatles Perderam McCartney

Teorias da conspiração invadem o imaginário do homem moderno desde sempre. Permeiam boatos, histórias populares e até governos, o que de fato é lamentável. Quando residem na cultura pop, dependendo da qualidade de sua narrativa, podem gerar situações bizarras. Uma das mais famosas delas envolve a suposta morte de Paul McCartney, vocalista e baixista dos Beatles, a maior banda de rock da historia.
Publicado nos Estados Unidos pela Image Comics, o quadrinho Paul Está Morto: Quando os Beatles Perderam McCartney de Paolo Baron e Ernesto Carbonetti, lançado pela Comix Zone, explora exatamente essa história. Situando-se entre a produção do disco Revolver e o posterior, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, a trama acompanha a teoria de que o baixista faleceu e foi substituído por um sósia.
Entre todos os elementos visuais, o que mais chama a atenção são as cores, gritantes e incomuns. Variam entre as tonalidades utilizadas na capa e material de divulgação do referido disco de 1967, dando vazão à lisergia das viagens de ácido que os músicos protagonizavam quando não estavam em estúdio, já que eram regrados quanto a isso. Abrir o gibi e passear os olhos sobre a arte é extremamente prazeroso. A arte compensa boa parte das outras fragilidades da obra.
A ambientação dos bastidores, da forma como a banda compõe e como se esmeram dentro do estúdio são fatores com alto grau de verossimilhança. Os desenhos de John, Paul, Ringo e George parecem caricaturais em alguns momentos, mas em outros se aproximam demais das facetas reais, demonstrando como houve um intenso trabalho de pesquisa da parte dos autores para retratar o quarteto de Liverpool em revista.
Há uma sinergia entre os artistas, Carbonetti e Baron, que são apresentados nos créditos como letrista e harmonista. Um comentário válido, pois a forma como texto e desenho se misturam é bastante afinada. A atmosfera da dupla transborda intimidade e isso se vê até nas conversas desesperadas dos Beatles remanescentes. Esse comentário poderia servir como metalinguagem para a própria banda, embora a história não se preocupe em fortalecer essa ideia.
Os momentos com o substituto William Campbell Shears tem um tom diferente em cores, como se fossem parte do mesmo universo mas em dimensões diferentes. Aqui se resgata uma sensação de dúvida, misturada à angústia e alívio pela sorte de acharem alguém tão parecido com o recém perdido baixista. Desse modo, o pesado fantasma da perda poderia ser driblado e a conspiração cresce.
O final de Paul Está Morto é um pouco inesperado e abrupto, quebra algumas das expectativas que o próprio gibi construiu em suas páginas anteriores. Apesar de referências a eventos reais como a bronca da banda Pink Floyd por conta de um estúdio destruído por Lennon, não há nesse desfecho a mesma força e poder do restante da trama. Para os fãs da banda certamente essa é uma obra que vale conferir para matar a curiosidade, e seus maiores acertos estão exatamente quando o drama tenta ser simples e direto.