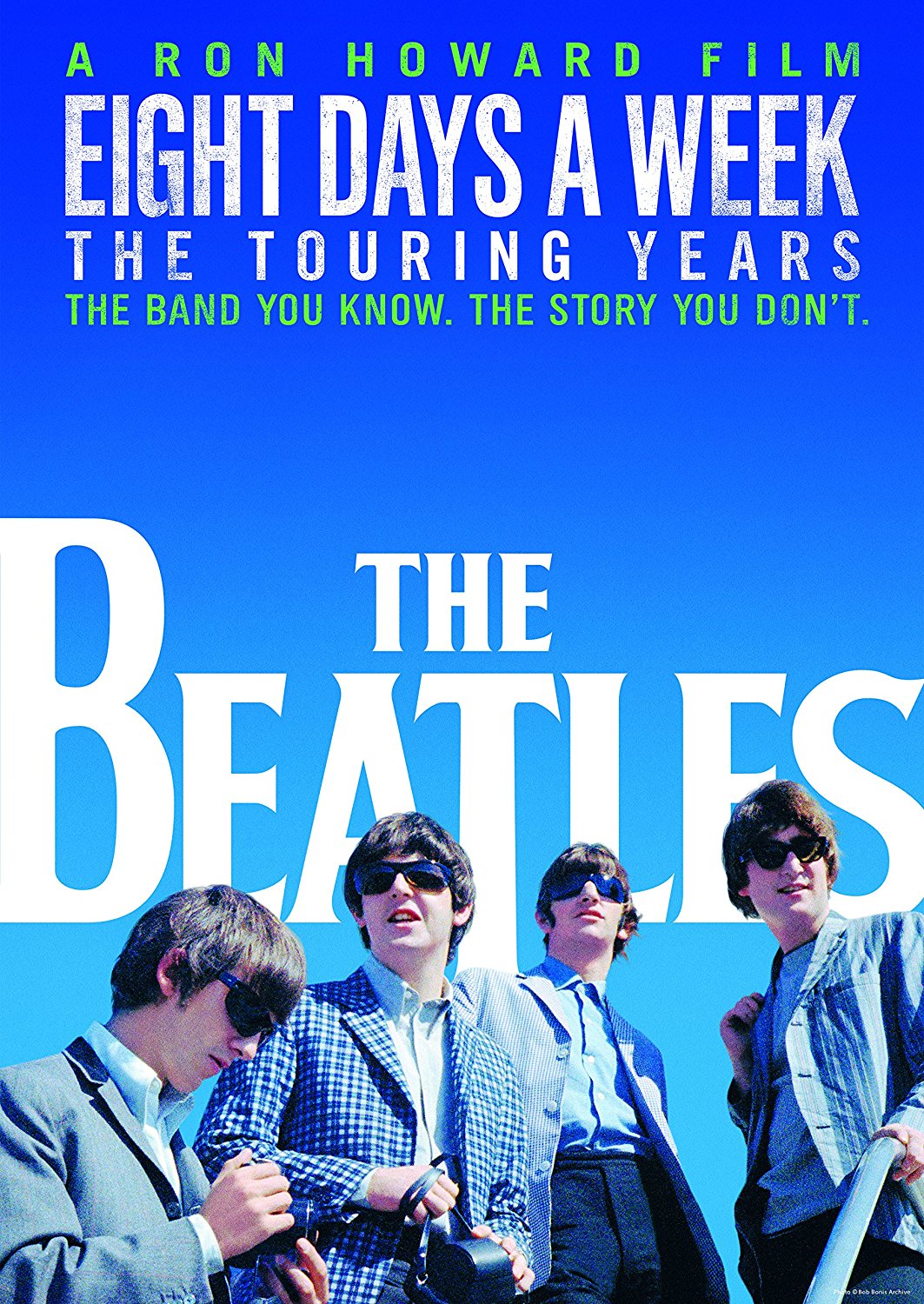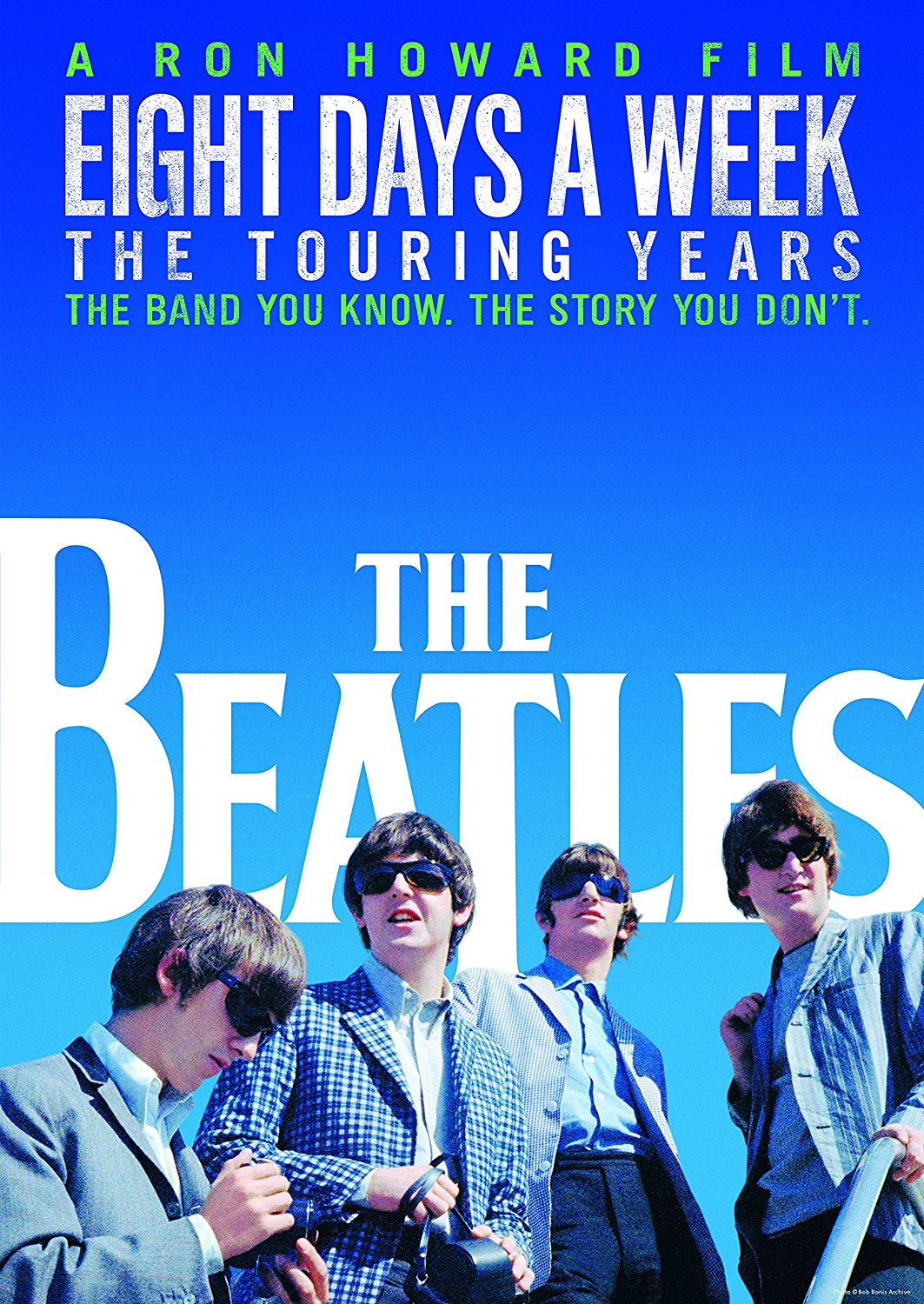Acompanhe-nos pelo Twitter e Instagram, curta a fanpage Vortex Cultural no Facebook e participe das discussões no nosso grupo no Facebook.

Crítica | O Grinch (2000)

O Grinch é um longa natalino dos anos 2000, protagonizado por Jim Carrey e dirigido pelo boa praça Ron Howard. A trama se desenrola mostrando passado e presente do famoso personagem que odeia o Natal, por um motivo que no original era um mistério, mas que seria descoberto pela pequena Cindy Lou (Taylor Momsen).
Lendo a sinopse, o longa parece mais uma história comum que retrata a data festiva, mas o roteiro trata de uma adaptação do escritor Dr. Seuss, famoso na literatura infantil por trazer histórias cínicas, que não tratam crianças como pessoas ingênuas e tolas. Suas mensagens divergem bastante do status quo e do conservadorismo de sua época.
A preocupação dos estúdios era apresentar uma história sobre como o consumismo arruína o sentimento natalino, quando a história é mais que isso, dado que mostra uma personagem cuja raiz de maldade é desconhecida, e esse é um dos charmes dele, diferente desta versão.
Mas nem tudo é negativo. Cindy representa uma variação da ideia de Seuss a respeito da perversão dos valores mais puros da sociedade. Ela questiona sua família e amigos do quanto eles se entregam para o consumismo e o quão supérfluo pode ser essa linha de pensamento, e perceber que existe outra figura que também não simpatiza com a data, no caso, o Grinch, faz ela seguir na direção dele.
Há uma dificuldade de Hollywood em lidar com a mitologia de Seuss, em O Gato, lançado em 2003, o resultado foi tão negativo que a viúva do escritor entrou na justiça para que não houvesse mais filmes live actions baseado nesses livros infantis. A Illumination atualmente tem os direitos das histórias, e dribla essa condição fazendo filmes animados baseados nos livros do escritor, todas vazias de significado feitas unicamente para vender brinquedos e afins.
Se o leitor estiver realmente curioso para ver obras sobre a carreira e personagens do autir, nos anos sessenta foi lançada uma série de animações para a televisão, entre elas Como o Grinch Roubou o Natal, comandada pelo mestre em animações Chuck Jones, o mesmo que ajudou a imortalizar a figura sacana de Pernalonga e outras personagens Looney Tunes na segunda metade do século XX.
A produção é peculiar especialmente pela caracterização dos Quem. Ao passo que a direção de arte acerta na figura do Grinch e no cenário de sua casa — suja, bagunçada e cavernosa, como o interior do “monstro” — toda a arquitetura da Quemlândia é caricata, parecendo mais um parque de diversões de baixo investimento do que o lar de uma raça humanoide estranha. Não há também um equilíbrio entre os momentos mais lúdicos e o humor mais físico. Há muitos piadas de flatulência, e elas parecem estranhas ao dividir espaço com a narração prosaica de Anthony Hopkins.
Ao menos a atmosfera da obra denuncia a falsa moralidade de autoridades políticas e do povo em geral, mas o preço para isso é uma abordagem que chega a irritar de tão doce que é a mentalidade dos Quem ou ao que eles pregam, já que praticamente todas as pessoas do vilarejo escondem algo. É fácil entender o Grinch, odiar essas pessoas é obrigação para qualquer sujeito honesto.
Dr. Seuss escrevia de maneira sucinta, então para ter uma história de mais de noventa minutos foi preciso inventar muita coisa. Aqui se dá um passado trágico ao personagem, que visa explicar sua rejeição ao natal. A motivação soa banal e piora quando divide tela com as desnecessárias referências a cultura pop. A ideia de transformar o vilão em alguém que se autoflagela não era ruim, e visto a qualidade das produções posteriores das adaptações do autor, essa é a mais bem sucedida nos cinemas, especialmente por não demonizar o incompreendido, embora o Grinch não necessite de redenção ou de explicação para a raiz de seus problemas. Se isso não fosse o bastante, infelizmente, o personagem ainda fica marcado demais pelo desempenho físico de Carrey, que mesmo estando bem, ajuda a descaracterizar o personagem clássico transformando-o em outra coisa.








 Os spin-offs de Star Wars têm (até agora pelo menos) algo nos bastidores que os fazem se tornarem dúvida quanto a sua qualidade. A respeito de
Os spin-offs de Star Wars têm (até agora pelo menos) algo nos bastidores que os fazem se tornarem dúvida quanto a sua qualidade. A respeito de