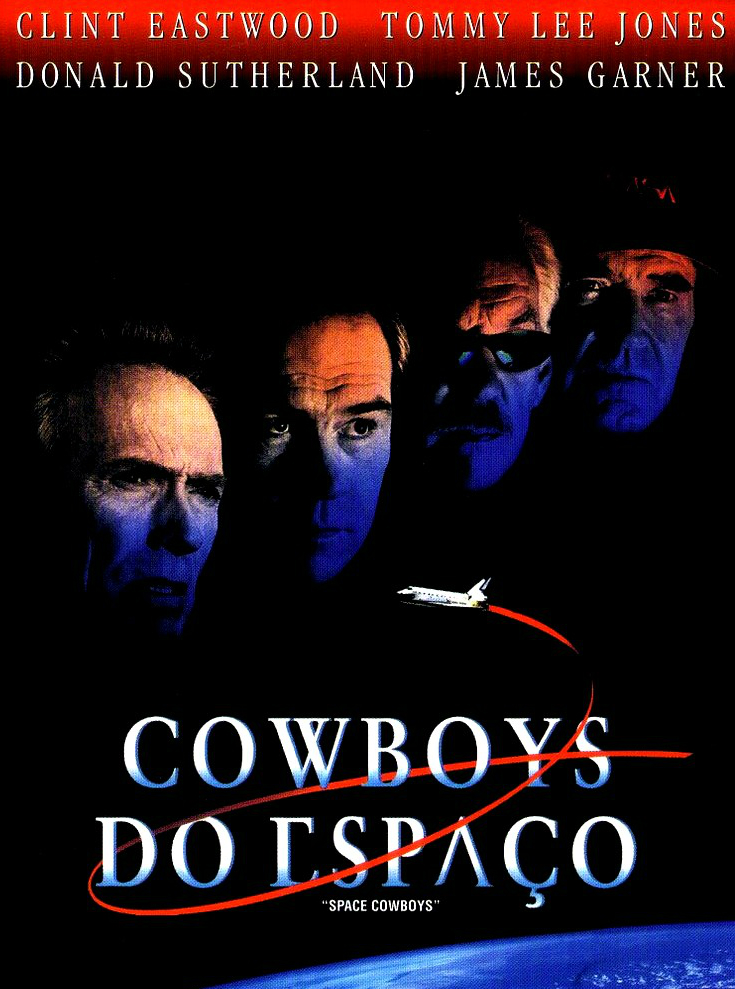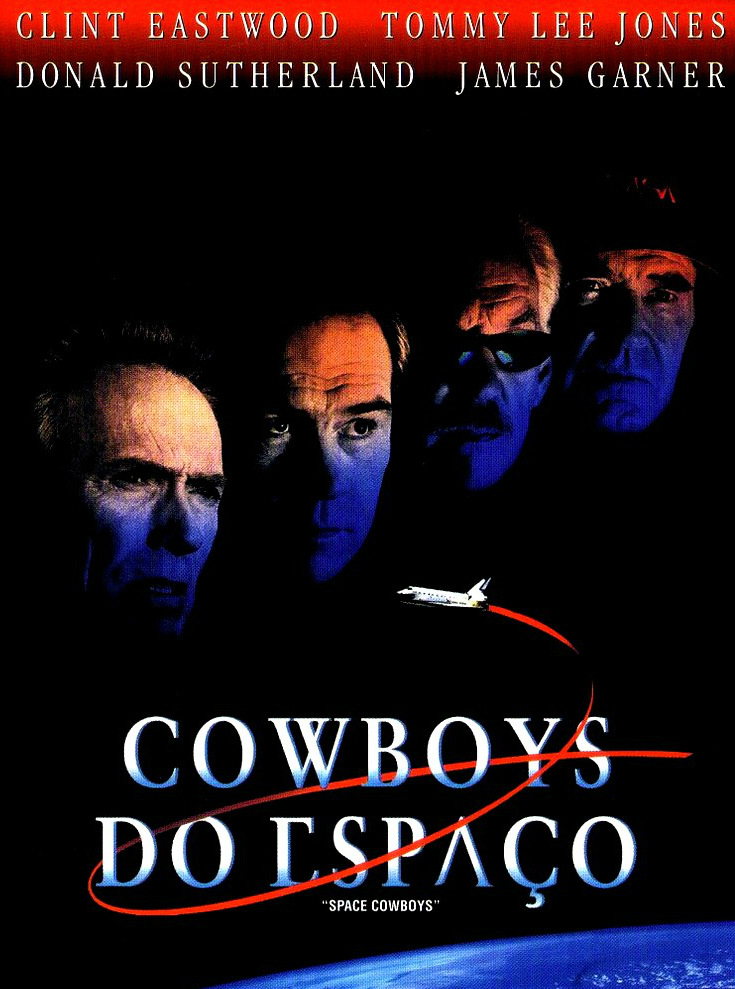Crítica | Sobre Meninos e Lobos
Nós somos a nossa infância, e Clint Eastwood quer discutir isso. Mestre em pegar histórias de força descomunal e subverter essa força com sensibilidade à flor da pele, mas diferente de Ang Lee e outros, sabe equilibrar as energias que podem surgir de tramas humanas, investigativas de algum modo, e coloridas por elementos típicos de seu cinema. A paixão por um ideal e o espírito incansável dos lutadores da vida real, no caso, aqui, o esforço imprevisível na neblina de uma morte sem explicação, num mundo de homens, descrença e intolerância, se mostram nesta produção de 2003, uma pérola sobre o que move a espiral no coração de quem faz deste mundo um mundo frio e sem volta nas nossas ações, onde nem a mais antiga e forte amizade sobrevive diante de uma tragédia de proporções gerais, tendo nos enigmas do passado a chave para um futuro mais simples. Há um futuro esperando lá fora ou é a gente que o faz? O dia é da caça, é verdade, mas o predador tem sua hora.
Quando um dos três amigos, num belo dia, entra num carro de desconhecidos, o estrago é feito. Para sempre. Os três jamais esquecem o momento, seguidos por ele, atormentados em lembranças revividas na prática, tal um carma constante que afeta muitos além do trio que fez assinar seus nomes na calçada de cimento fresco, na rua que nunca abandonaram. Sobre passado e reminiscências, sobre os pregos e acerca dos arames que nos atam e nos fazem ser quem somos, por fim, nas tangentes das relações que também nos constroem nas sarjetas por onde andamos, construímos nosso ser social, e escondemos quem realmente somos, abertos nesse nível apenas entre quatro paredes, nas confissões entre pessoas queridas que conhecem nossas páginas secretas. Um filme de detalhes, closes e olhares que quebram essas paredes e queimam essas páginas ao ar livre, culminando, ainda assim, em mistério traduzido na imagem de um rio, tamanha esperteza de um roteiro de gênero, no caso criminal. Rio escuro e profundo, feito a alma dos envolvidos no crime insondável de uma jovem moça, numa história de gato e rato impossível de desgrudar os olhos, e da suspeita de estar assistindo a um grande filme.
E de grandes envolvidos. É difícil destacar quem quer que seja e ser justo ao mesmo tempo, a partir de uma atuação coletiva que beira a perfeição, com atores e atrizes num esplendor de sintonia, emaranhados na teia de seus personagens. É incrível como o caldo começa a borbulhar só no olhar, novamente, de Tim Robbins, sentado num bar durante uma partida de beisebol, esporte adorado por boa parte dos americanos. A câmera se aproxima do rosto de quem entrou naquele carro há anos atrás, e na ausência de palavras conseguimos ler na face do homem o universo que este carrega nos ombros, a dar margem ao choque de mundos que se dará logo após os minutos iniciais. Quem matou? E por quê? Tudo parece brotar do nada, num vórtice de consequências onde as causas importam bem mais, na tradição dos suspenses forjados a ferro e fogo que prezam mais a razão do crime que o crime em si, como em Pacto de Sangue (1944), Alma no Lodo (1931), O Falcão Maltês (1941), Sangue de Pantera (1942), A Lei dos Marginais (1961), Fúria Sanguinária (1949) e O Homem Errado (1956), de Hitchcock. Clássicos em que a vibração e atmosfera são muito similares com as de Meninos e Lobos.
Nota-se, também, a maneira descompromissada e quase natural de como essa atmosfera é cozinhada: como se realizar um filme para Eastwood fosse cozinhar, juntando temperos para a receita ficar no ponto. Ponto de ebulição para a história explodir na tela e no rosto de Sean Penn, o pai da vítima cujo choque do presente releva o passado para construir o amanhã, por mais negro e desumano que hoje possa ser. Na expressão de desespero de Marcia Gay Harden, cúmplice de quem tem as mãos sujas de sangue, e na tensão de Kevin Bacon na busca pelo assassino: todos são interligados numa ciranda em torno da loucura e da lucidez num bairro de classe-média onde nada relevante poderia brotar, e por isso mesmo brota. A receita é simples, e para ser simples o mestre Eastwood traduz em suspense familiar, com suas típicas mãos de seda, a desconstrução de uma amizade, mas sem nos deixar desconfortáveis na remoção das peças do quebra-cabeça, exceto, é claro, quando chega a hora dessas cabeças começarem a rolar.