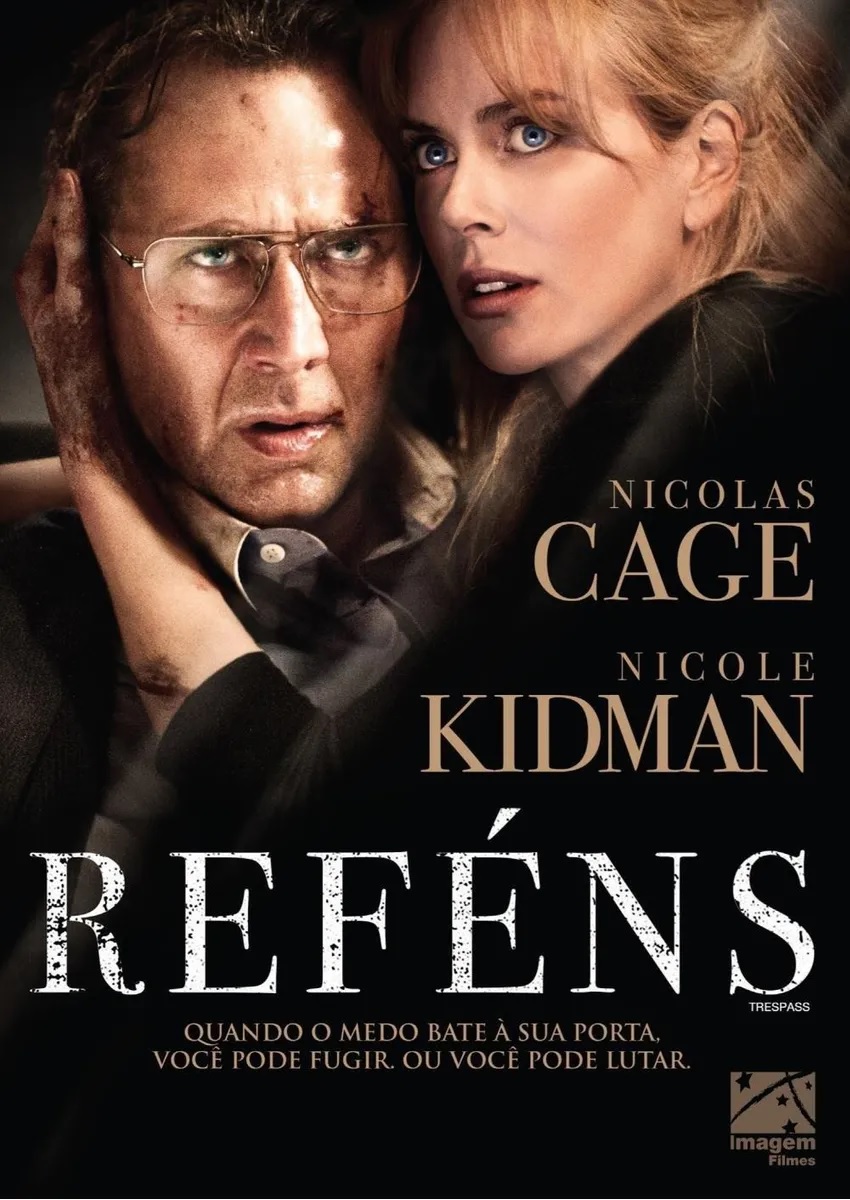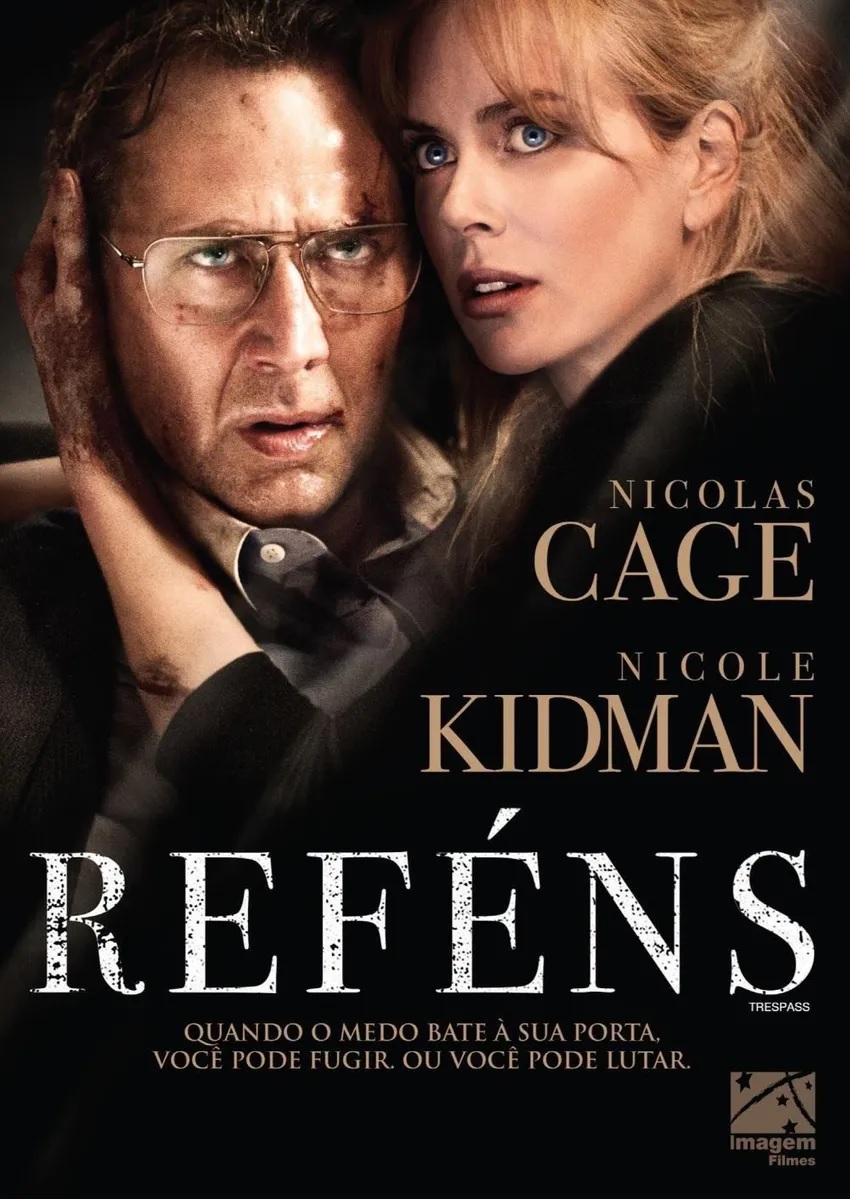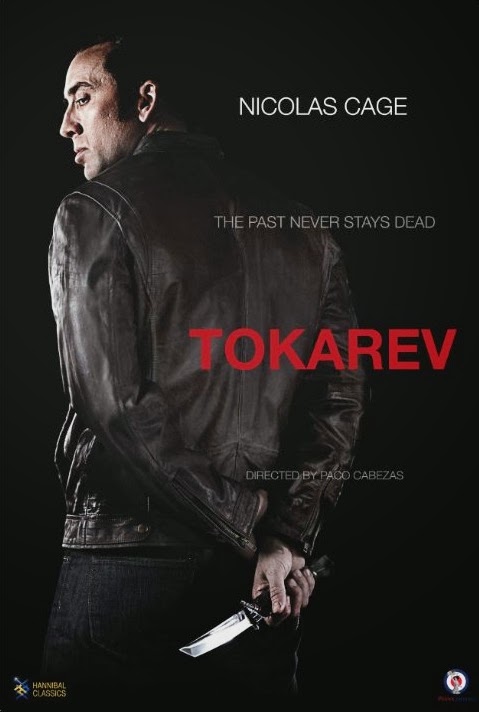VortCast 107 | Expectativas 2022

Bem-vindos a bordo. Filipe Pereira (@filipepereiral | @filipepereirareal), Bernardo Mazzei (@be_mazzei) e Jackson Good (@jacksgood) se reúnem para comentar sobre os principais lançamentos nos cinemas e TV para o ano de 2022 e as principais expectativas.
Duração: 89 min.
Edição: Flávio Vieira
Trilha Sonora: Flávio Vieira
Arte do Banner: Bruno Gaspar
Agregadores do Podcast
Contato
Elogios, Críticas ou Sugestões: [email protected].
Facebook — Página e Grupo | Twitter | Instagram
Links dos Sites e Podcasts
Agenda Cultural
Marxismo Cultural
Anotações na Agenda
Deviantart | Bruno Gaspar
Cine Alerta
—
Ouça e avalie-nos: iTunes Store | Spotify.
Podcast: Play in new window | Download (Duration: 1:29:39 — 89.4MB)
Subscribe: Apple Podcasts | RSS