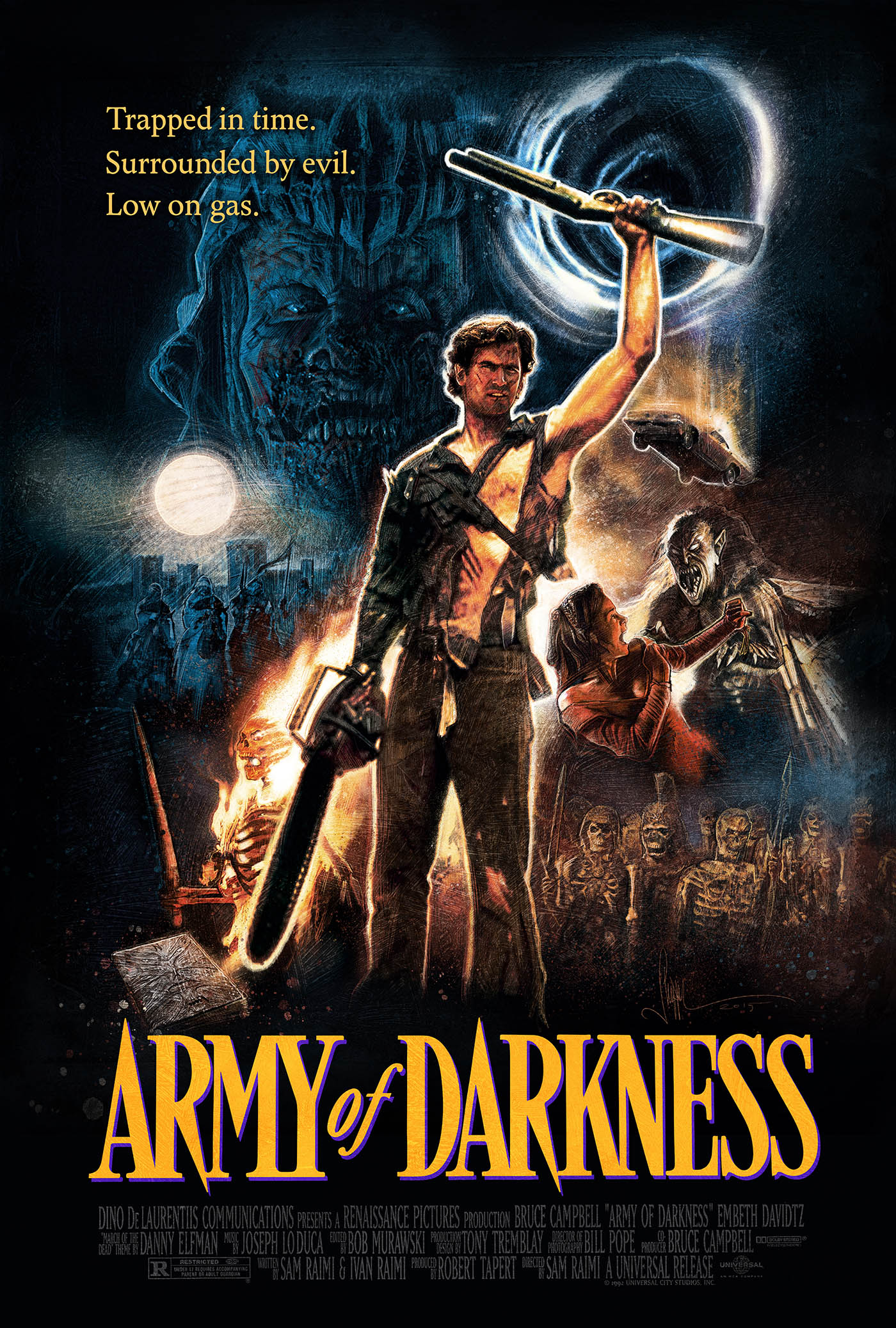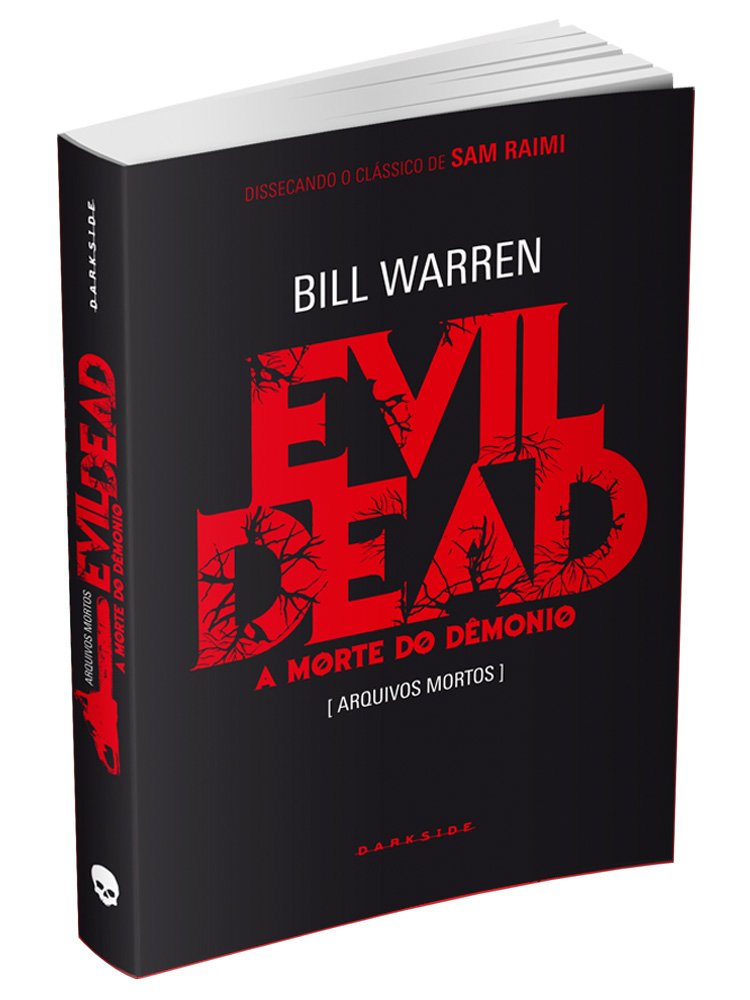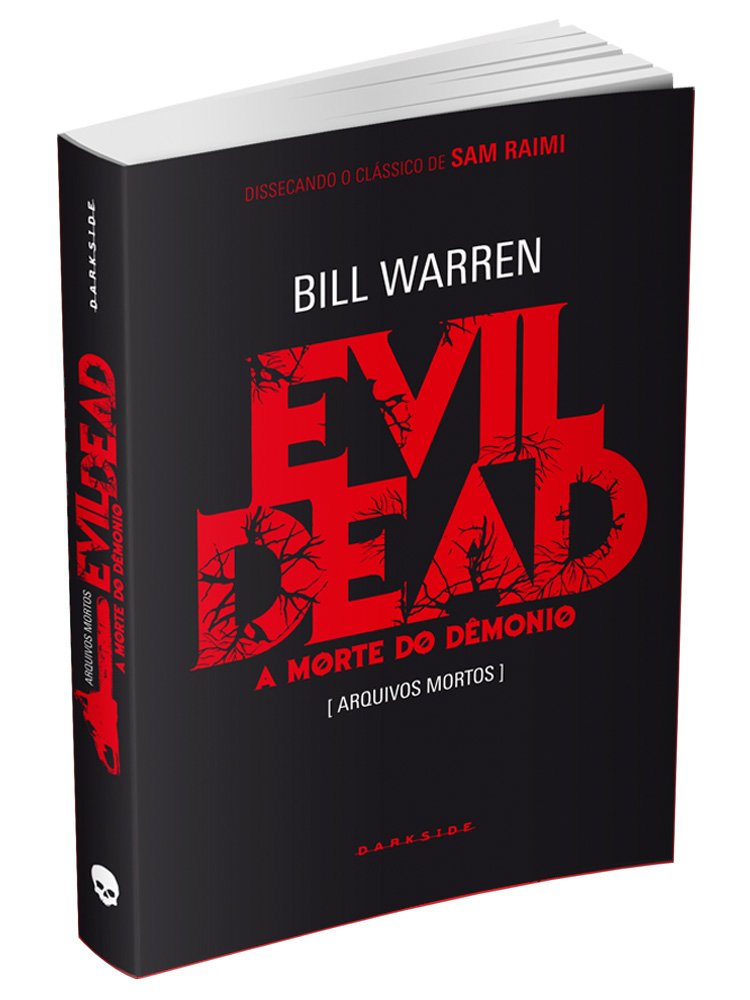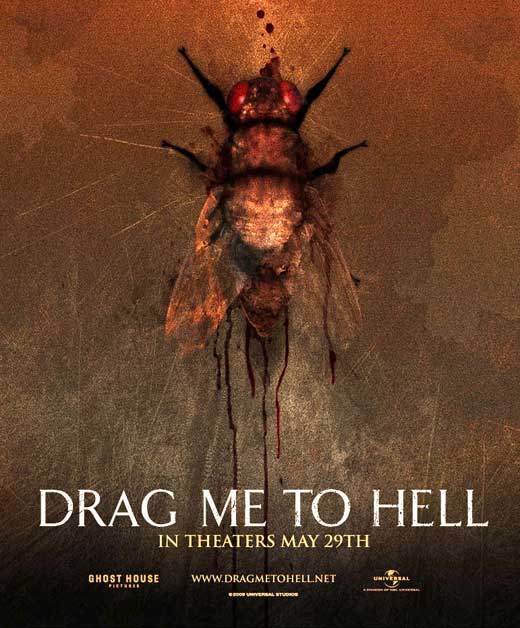Crítica | Homem-Aranha 3

Homem-Aranha 3 fecha a trilogia de Sam Raimi sobre o herói tangível e cheio de defeitos criado por Steve Ditko e Stan Lee, mas não sem trazer consigo uma infinidade de reclamações sobre os rumos que a franquia tomou. Na trama, Peter Parker (Tobey Maguire) tem de enfrentar uma crise na relação com Mary Jane (Kirsten Dunst), além de três vilões diferentes.
No início do filme há uma clara diferença desse para Homem-Aranha 2, o recapitular das aventuras anteriores se dá com arte de Alex Ross e aqui estão apenas as cenas conduzidas por Raimi, sem qualquer tratamento de imagem, como um resumo de capítulos anteriores de uma série barata, o cuidado com a cinessérie mudou e, além disso, se nota uma diferença no tema orquestrado, com tons e acordes diferentes, já que Danny Elfman dá lugar a Christopher Young na trilha sonora. Esse tom obscuro deveria passar para a abordagem da personalidade de Peter, mas isso não ocorre, necessariamente.
Homem-Aranha 3 é muitas vezes injustamente criticado, no entanto, uma reclamação justa é o comportamento que o personagem de Maguire tem no início do filme, antes mesmo de ter contato com o “alienígena” que daria origem a Venom. Ele é impulsivo, se deslumbra com a aceitação que o povo lhe confere finalmente, após dois filmes com histórias conturbadas, e age de maneira brutalmente insensível, em especial com MJ. A vida pessoal de Peter finalmente se ajeita, ele está feliz, tanto como Aranha quanto Peter Parker, mas como se trata de um personagem trágico (aos menos aos olhos do diretor), não há como seguir assim por tanto tempo.
Raimi é um cineasta muito fiel às suas raízes, mesmo quando faz obras mais voltadas para o público mainstream. Desse modo, é natural que existam cenas que remetam ao cinema de horror. E aqui a manifestação se dá no entorno do Homem Areia, tanto na transformação que Flint Marko (Thomas Haden Church) sofre, quanto nos momentos finais. Além de ter um visual arrebatador em ambos momentos, há significados que remetem aos monstros clássicos, em especial na sua gênese. Marko tem características da criatura de Frankenstein de Boris Karloff, e certamente essa referência seria melhor encaixada caso o roteiro fosse mais sólido, pois o evento que transforma o personagem é completamente avulso à trama, sem repercussão antes ou depois do ocorrido.
As tramas secundárias também variam de qualidade. James Franco está bastante canastrão, não consegue dar camadas ao seu personagem, sua motivação não faz sentido por não ter tempo de tela, sem falar que expõe um dos defeitos do filme, os efeitos visuais primários. Dunst está muito bem, consegue trabalhar bem com o que é lhe dado, mesmo sendo pouco. Já a introdução dos personagens novos, como Gwen (Bryce Dallas Howard), Eddie Brock (Topher Grace) e o Capitão Stacy (James Cromwell) é gratuita ao extremo. Não há desenvolvimento mínimo de nenhum deles, e até os coadjuvantes do Clarim Diário parecem mais sólidos e profundos que o trio, fato que gera até incongruências, já que o J.J. Jameson de J.K. Simmons não sabe quem é Brock, mesmo com uma citação a ele em Homem-Aranha. O personagem é tão irrelevante para Raimi que a direção deliberadamente não o leva a sério.
Entre as reclamações mais comuns ao filme está a personalidade de Peter modificada pelo simbionte, que muitos atribuíam ao comportamento dos fãs de emocore. Ora, na época, os meninos comuns que usavam esse visual diferia de Peter. Eram introspectivos, gostavam de parecer sombrios, já Parker é o oposto disso, espalhafatoso, inconsequente e age até como um bully em alguns momentos, com uma personalidade tão baixa quanto a do seu nêmese escolar Flash Thompson. Ele claramente não era Emo, só pegou emprestado desse estilo o cabelo e a maquiagem um pouco mais forte, comparar o Andrew Garfield em O Espetacular Homem-Aranha com o estereótipo do hipster até faz algum sentido, mas o Peter de Tobey de emo tinha apenas o visual.
Parker parece governado unicamente pelo id (parte da mente que quer gratificação imediata de todos os seus desejos e necessidades, segundo o conceito freudiano), e dito assim, esses momentos não parecem tão erráticos, especialmente a cena “musical”, já que é o símbolo maior da breguice que Raimi sempre impôs a sua versão do Cabeça de Teia.
A reunião dos antagonistas não tem nenhuma força, é um pretexto pobre que está lá para justificar uma ação entre amigos com Harry e Peter juntando as forças, que só não é mais vergonhosa do que o momento de retorno do uniforme clássico, ao lado de uma bandeira dos EUA tremulando, que faz automaticamente o povo esquecer dos maus atos do Aranha. Além dessas questões, boa parte da imaturidade de Peter também não cabe, já que ele aprendeu ou deveria ter aprendido com seus erros do passado, e justificar esses atos pelo simbionte também não faz sentido, visto que sua personalidade já havia se transformado antes mesmo dele utiliza-lo.
Raimi saiu reclamando de interferência dos estúdios, seu desejo seria explorar personagens como o Abutre e a Gata Negra, mas por influência de Avi Arad, teve que fazer o filme com Venom. Desse modo, Homem-Aranha 4 previsto para 2011 foi abortado, assim como uma segunda trilogia. Ainda assim Homem-Aranha 3 parece mais com o ideal de Ditko e Lee, por ser senhor de sua própria história e seguir dando camadas trágicas, mas humanas ao personagem. Peter segue falho, tolo, mas capaz de se sacrificar e tentar evoluir, mesmo que a mão invisível do roteiro o faça agir como alguém que não digeriu bem seus problemas.