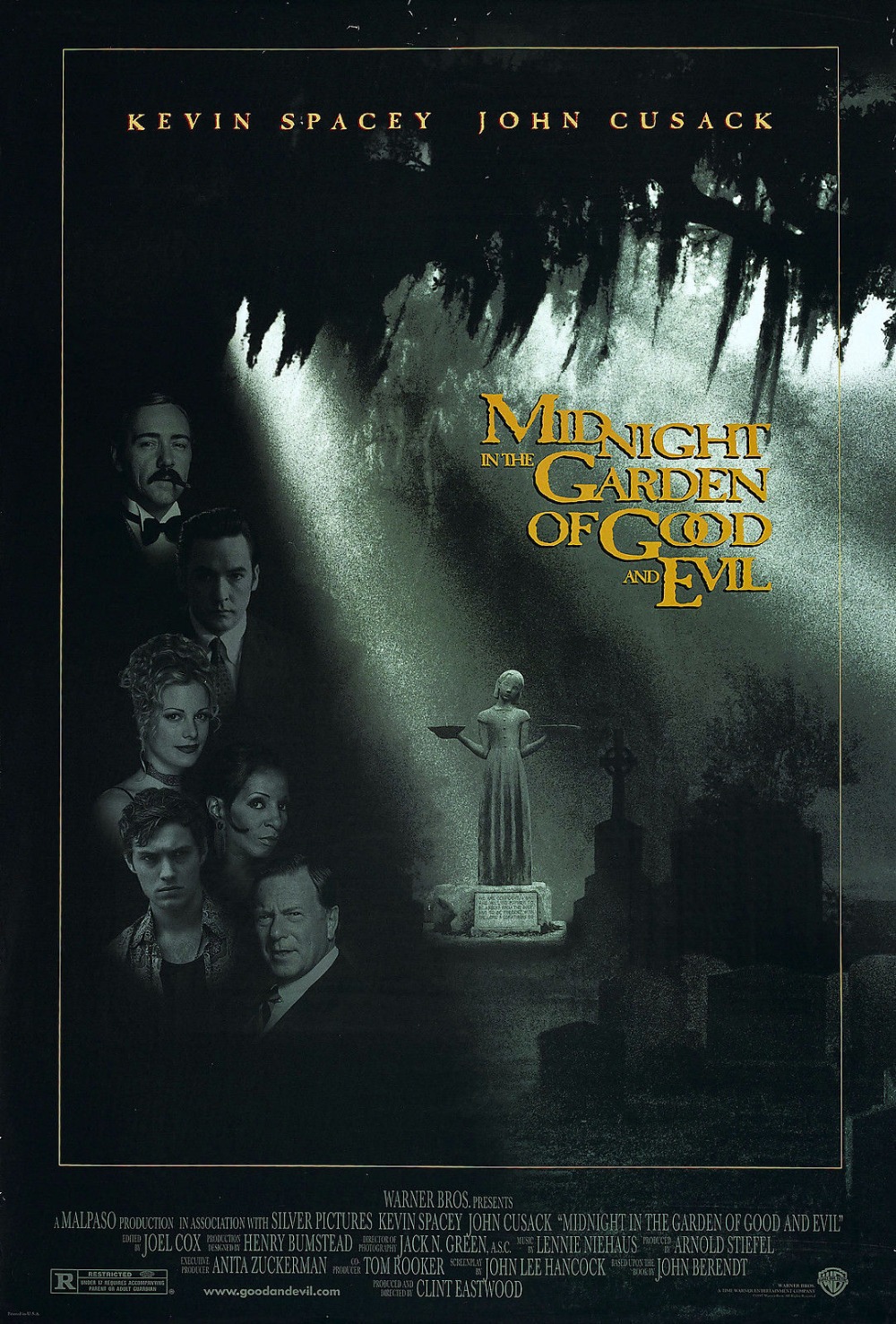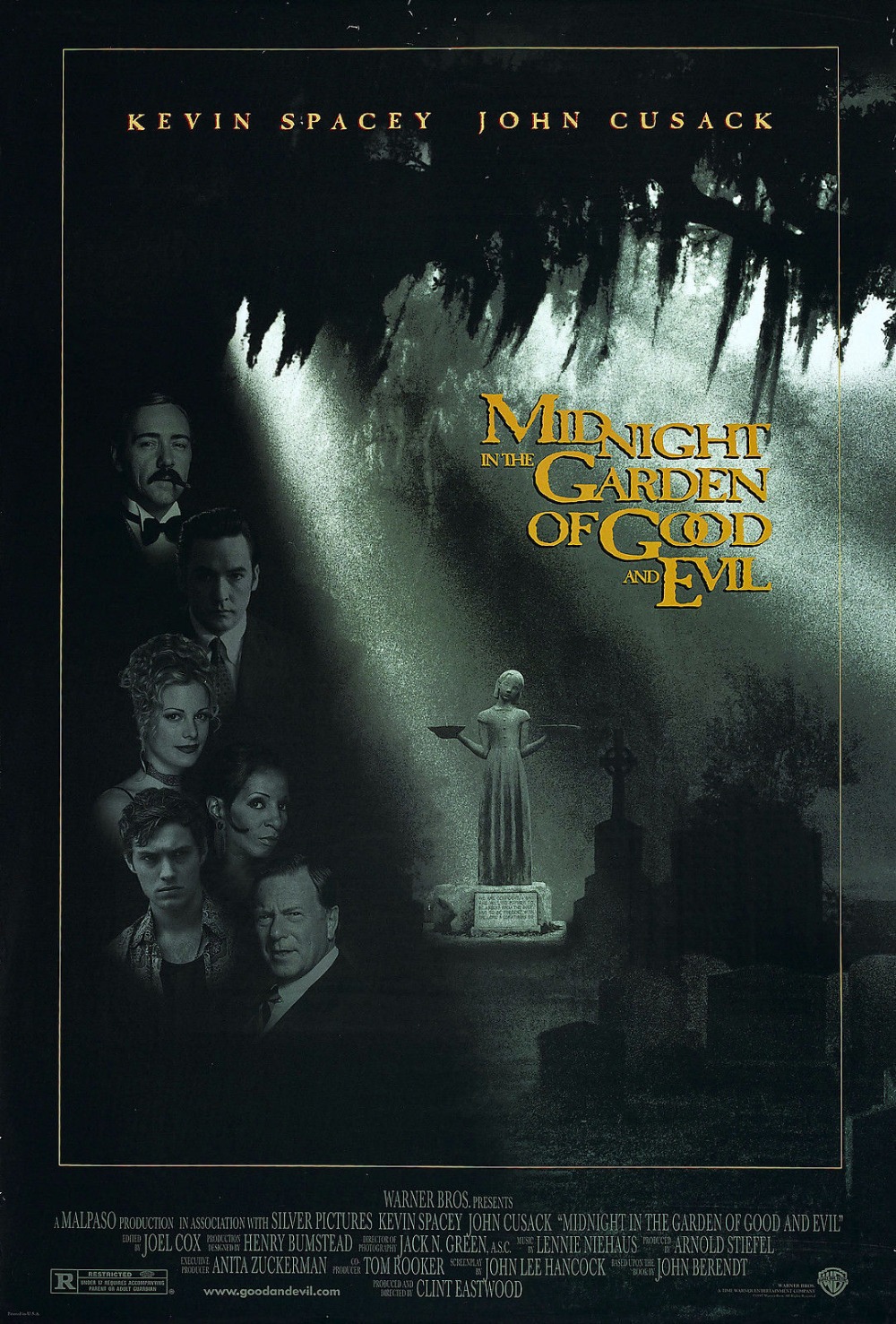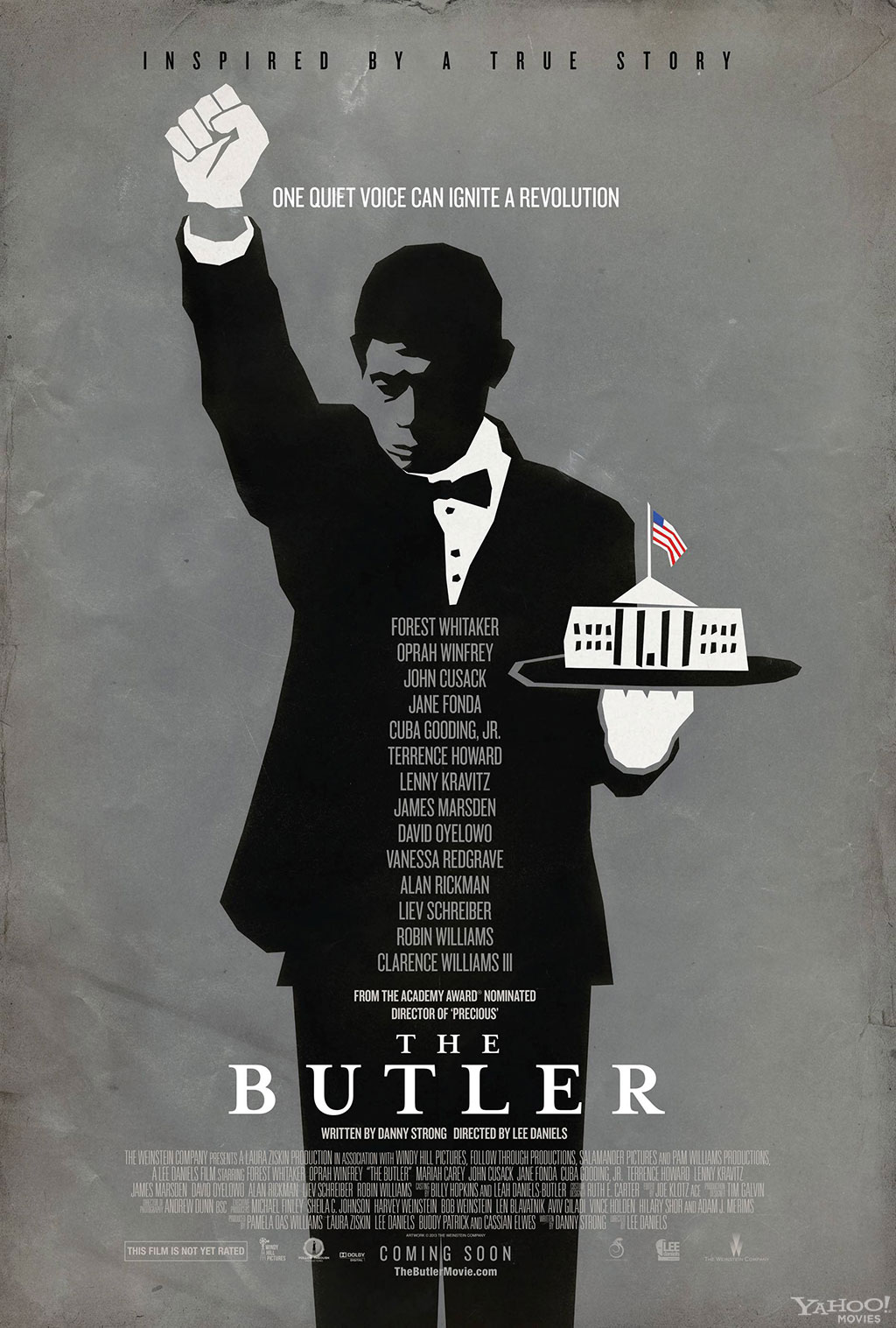Crítica | Celular
Baseado em um romance homônimo de Stephen King, lançado em 2006, Celular reprisa a parceria de John Cusack e Samuel L. Jackson que contracenaram juntos em 1607, outra produção baseada na obra do mestre do horror. O filme teria, inicialmente, Eli Roth como diretor. Um nome que possibilitaria maior sucesso a esta produção. Porém, valendo-se das tradicionais diferenças criativas, o diretor saiu do projeto sendo substituído por Tod Williams de Atividade Paranormal 2.
A trama deste terror reflete um tema comum ao público atual tanto na vertente realista, que estabelece uma crítica a um movimento contemporâneo, como na fictícia em que desenvolve a história. A real apresenta o uso exagerado da tecnologia como um malefício para a sociedade contemporânea, fator que possibilita que um pulso eletromagnético, transmitido via celular, transforme os usuário em zumbis, o enfoque fictício explorando o combalido tema dos zumbis. Dessa forma, a tecnologia se torna um vilão enquanto um pequeno grupo de pessoas tenta sobreviver a procura de um meio para derrota-los. Ou seja, um argumento nada inédito mas que, devido a grife de Mr. King, potencializa-se como possível obra rentável.
Porém, mesmo que formatado em uma vertente diferente, partindo de uma crítica de um mundo conectado e escravizado pela tecnologia, os zumbis são matéria saturada para o público e nem a história, nem os personagens, são carismáticos suficiente para irem além de uma narrativa sem força. Em cena, Cusack e Johnson formam a tradicional equipe improvável, unida pela necessidade da sobrevivência. Porém, sem nenhuma urgência, embora relembrem, a todo momento, a necessidade de procurar seus familiares.
O fato é que grande parte do horror desenvolvido por King se pauta em seu vigoroso estilo literário, algo que sempre se perde em uma adaptação, motivo pelo qual muitas obras cinematográficas oriundas de seus livros sejam fracas ou medianas. Mesmo que o roteiro seja assinado pelo próprio autor, trata-se de um campo novo a ser explorado e, por consequência, irregular. Como o desfecho do original do livro sofreu reclamações dos leitores, King compôs outro final para a versão cinematográfica. Um desfecho sem impacto, sinalizando a afirmativa de que, muitas vezes, suas histórias falham em uma conclusão insossa.
Celular resultou em um fracasso de bilheteria, conivente com a qualidade da produção, um horror sem sustos e sem nenhuma urgência, repetido pela temática de zumbis e conduzido de maneira apática.