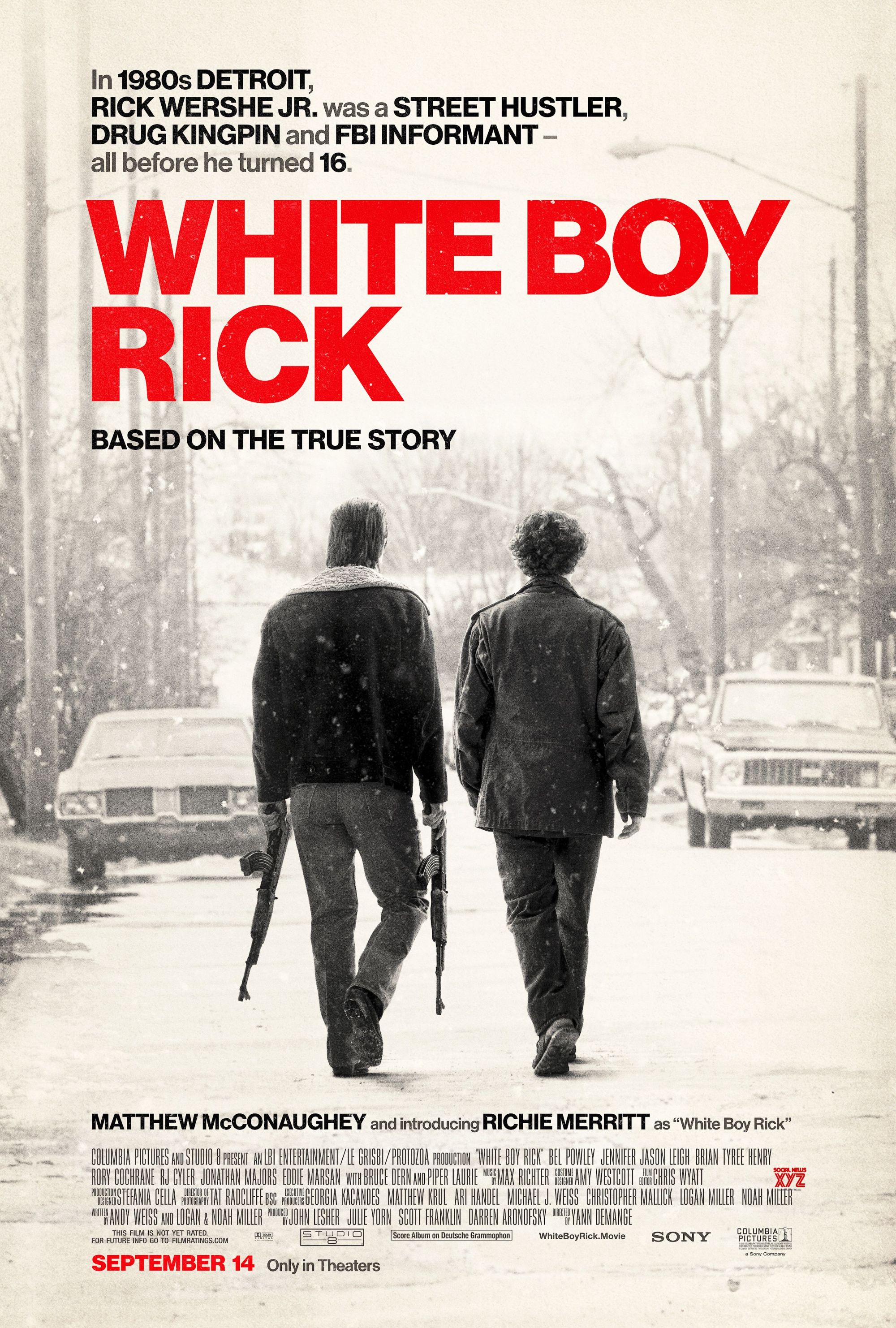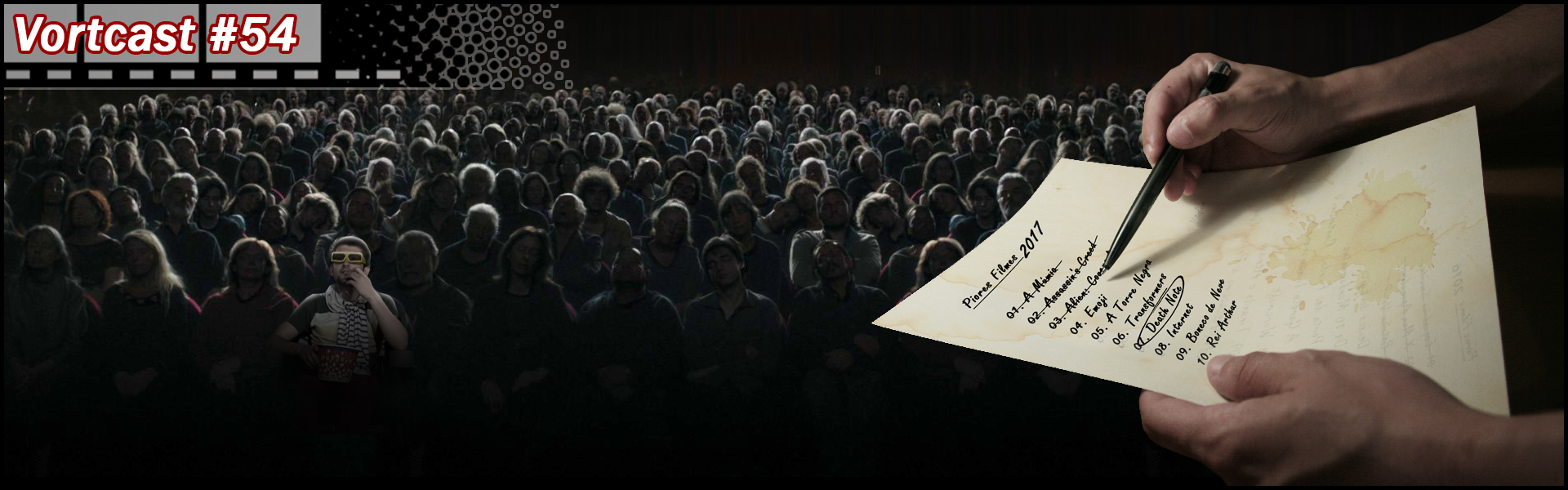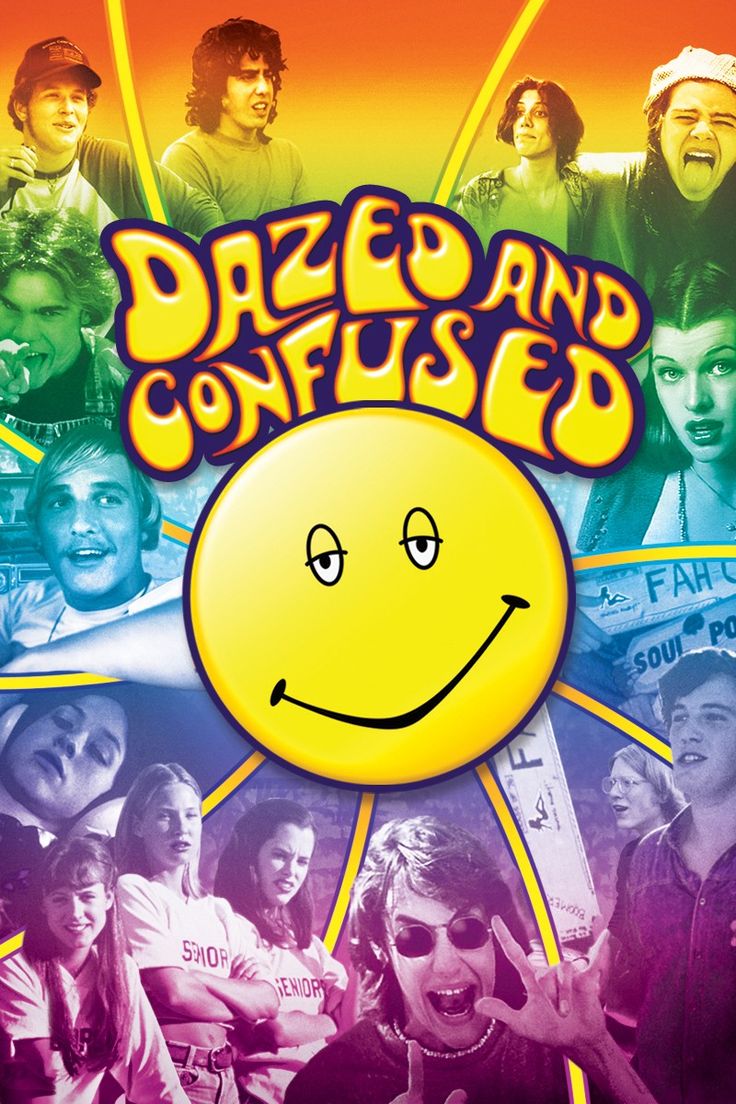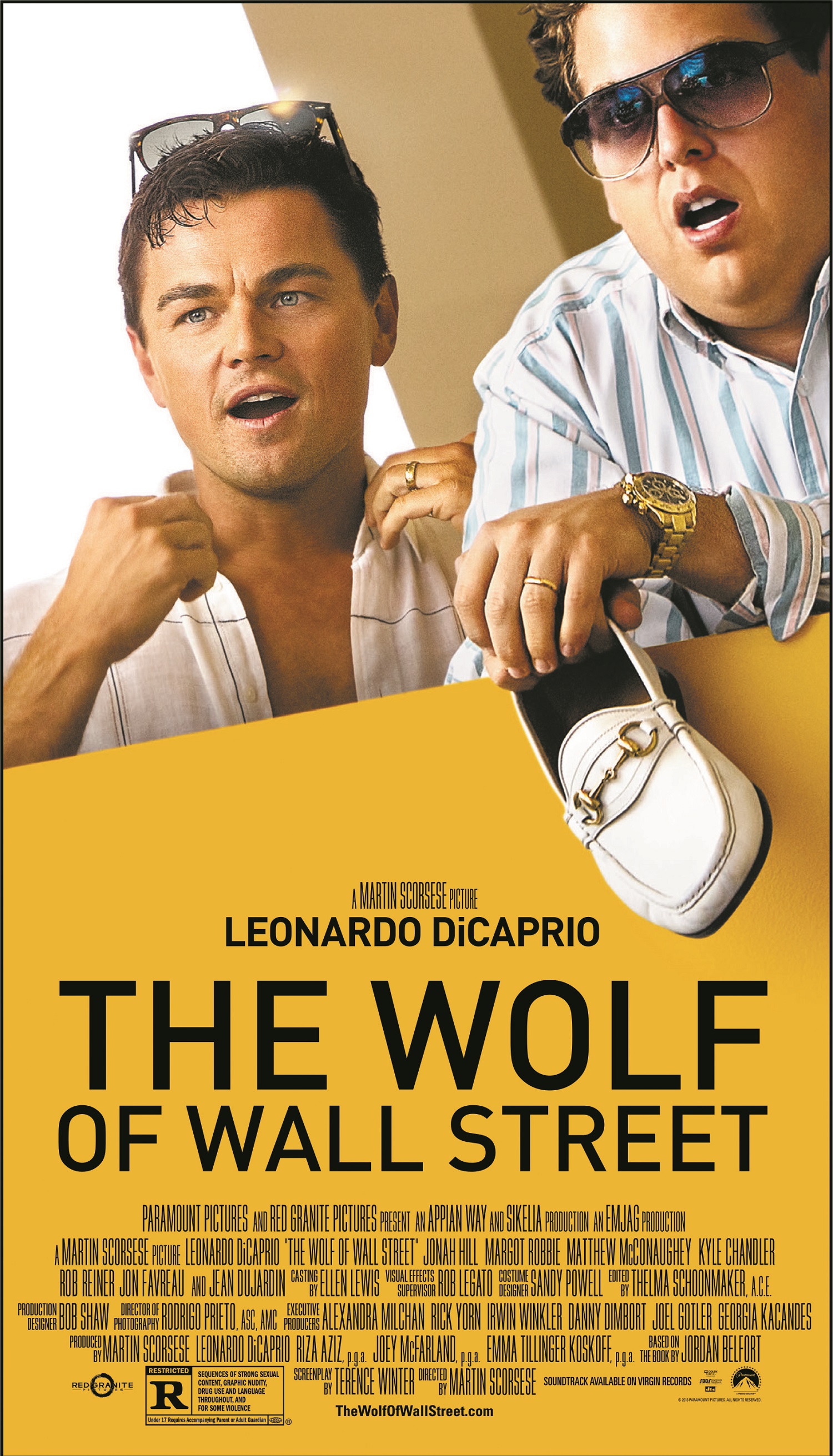Crítica | Tempo de Matar

Após um considerável sucesso adaptando John Grisham em 1994, com O Cliente, o diretor Joel Schumacher se volta novamente para outro livro do autor, dessa vez, trazendo Tempo de Matar, uma história sobre justiça, vingança e intolerância racial. A trama tem início com dois rapazes brancos passeando de carro pelas ruas de Canton, Mississipi, causando terror entre pessoas de minorias étnicas. Dentro de seu veículo há signos e símbolos neonazistas, além da bandeira dos Estados Confederados da América. Ao passo que mostra os dois sujeitos, a trama também apresenta o advogado idealista Jack Tyler Brigance, de Matthew McConaughey (em um dos seus primeiros papéis sérios e de destaque), além de membros da família Lee Hailey, que estão entre os negros atacados pela primeira dupla.
O roteiro de Akiva Goldsman não demora quase a estabelecer sua ação, mostrando uma criança sendo vitimada pelos personagens da maneira mais baixa e cruel possível, além é claro da repercussão com os familiares da pequena Tonya (Rae’Ven Kelly), em especial, seu pai, Carl Lee Hailey (Samuel L. Jackson), que se sente indignado e impotente diante do que ocorreu com um dos membros de sua família que, a priori, deveria ser protegido por ele.
A virada no roteiro acontece com pouco mais de vinte minutos, com o revide de Carl aos homens que violaram sua vida e família, e é seguida de uma tomada sentimental, onde os personagens da força policial se vêem obrigados a executar uma ordem que não queriam. O filme lida com questões espinhosas e bem caras nos tempos atuais, especialmente, no tocante a volta de manifestações de supremacistas brancos nos EUA.
Schumacher não tem receio em apresentar uma história crua, não tem receio em mostrar um conflito aberto em clima de guerra civil, como era comum décadas antes de 1996. O roteiro trata a história de forma cíclica, aparentemente a humanidade tende a repetir alguns conflitos, de tempos em tempos, e isso faz sentido, tanto que movimentos de afirmação dos direitos da população negra precisam retornar como no ano de 2020, após mais um de muitos atos por parte de forças do Estado punirem a população por conta única e exclusivamente do tom da pele. Embora a realidade não tenha tantas licenças poéticas quanto o que ocorre no longa de Schumacher.
Tempo de Matar tem uma crítica voraz ao modo como uma parte dos Estados Unidos têm lidado com a segregação racial e as diferenças culturais entre os povos, e ainda que apele para a fantasia em alguns pontos, Schumacher consegue tirar ótimos momentos de seu elenco. Jackson, McConaughey, Kevin Spacey e até Sandra Bullock têm boas participações e que ajudam a entender o filme como uma fábula jurídica e de entraves raciais, ainda que infelizmente o quadro político atual recoloque o filme numa posição de mais pragmatismo que uma obra escapista sobre preconceito.