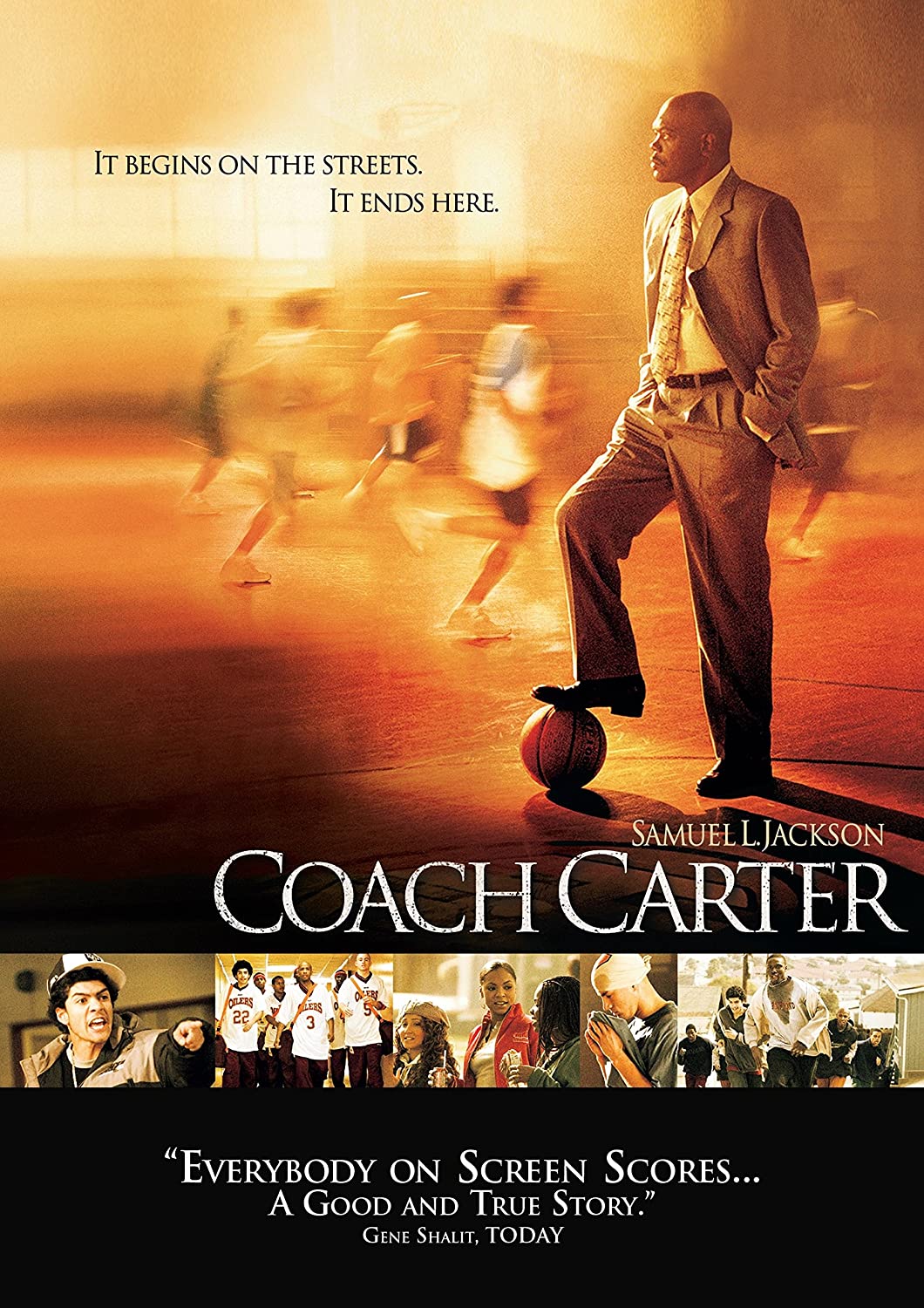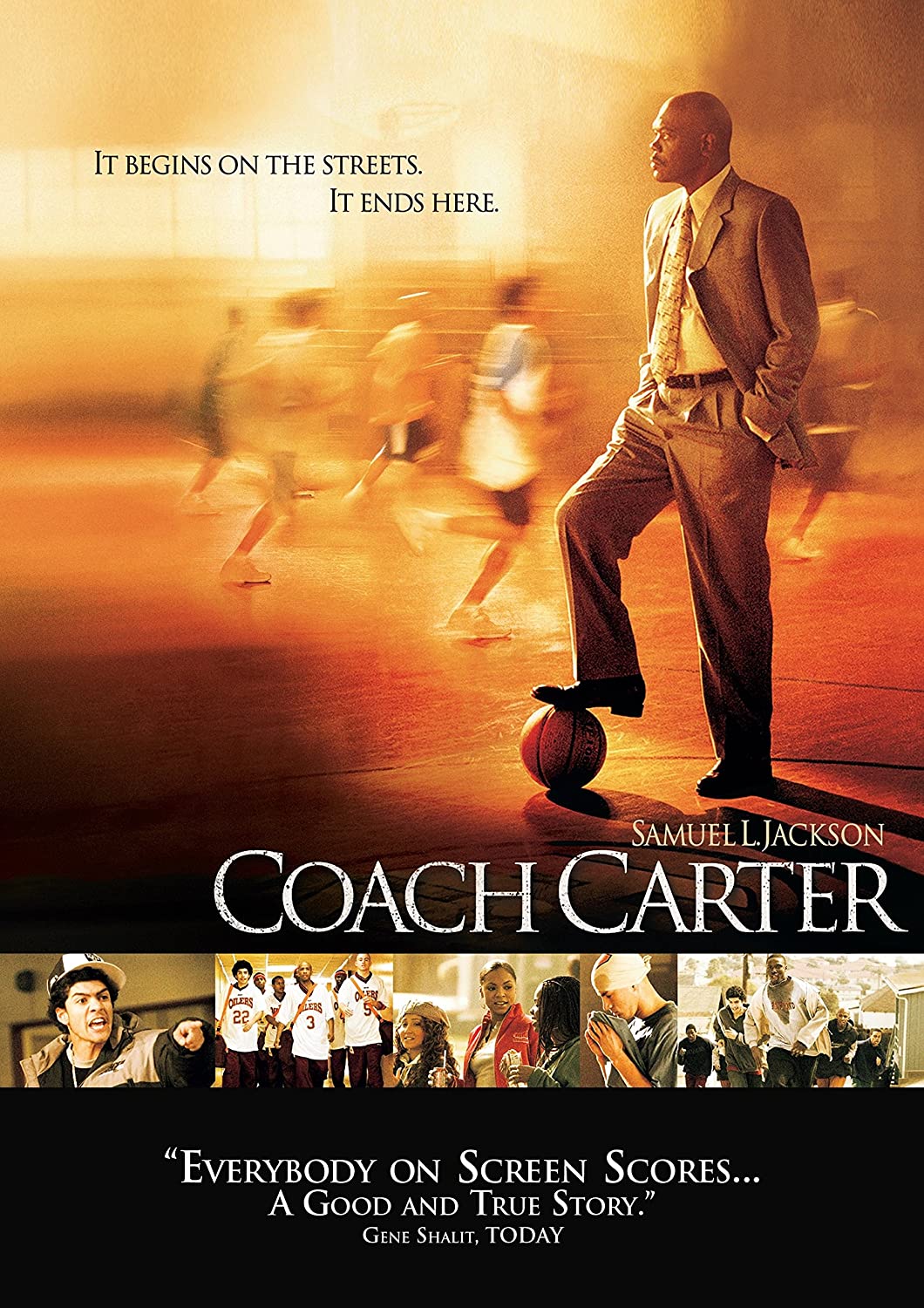Crítica | Free Guy: Assumindo o Controle

Free Guy: Assumindo o Controle estava programado para lançamento em julho de 2020. Adiado por duas vezes desde o início da pandemia, a película finalmente chegou aos cinemas em agosto de 2021. Os trailers já geravam uma grande expectativa, mas o timing do lançamento foi quase perfeito.
Do início de 2020 para cá, tivemos vários escândalos envolvendo a indústria dos games: o lançamento de Cyberpunk 2077 entupido de bugs e defeitos pela CD Projekt Red, seu descaso com os consumidores, as denúncias de empregados da produtora de assédio moral, horas extras em demasia sem a mínima remuneração, o escândalo de assédio moral e sexual envolvendo a Activision Blizzard e Ubisoft que foi totalmente ignorado pelos chefões das empresas, além do racismo e sexismo por parte de grandes expoentes da comunidade gamer, para ficar somente nos mais notórios. Tudo bem que Free Guy é uma comédia feita para a família, mas o longa dirigido por Shawn Levy aborda de maneira interessante e leve esses problemas que há bastante tempo vêm assolando o mundo dos videogames.
No filme, Ryan Reynolds vive Guy, um NPC (personagem não jogável) de um jogo de mundo aberto no estilo de GTA. Guy repete diariamente a sua rotina até que ganha consciência própria e resolve quebrar a sua programação, passando a agir por conta própria. Em um desses momentos, ele encontra uma personagem que age de maneira peculiar dentro daquele mundo. Ao conseguir estabelecer contato, a jogadora mostra para Guy que ele vive em um mundo virtual de um jogo de ação, mas que em breve esse mundo irá ser desligado. É quando o protagonista toma a decisão de ajudar a jogadora a manter esse mundo vivo, plano esse que trará serias repercussões no mundo virtual e no mundo real.
Roteirizado por Matt Lieberman e Zak Penn se equilibra muito bem com sua narrativa dividida entre os eventos do mundo virtual e real. Enquanto no mundo virtual vemos uma inspirada paródia de jogos como Grand Theft Auto, Fortnite e outros jogos no estilo sandbox, no mundo real a narrativa traz críticas à práticas tóxicas da comunidade gamer, ao consumismo desvairado e à atuação predatória das grandes empresas de videogame. Tudo isso é feito de maneira muito bem acertada, com um deslize mínimo aqui e ali, o que não compromete em nada a narrativa. As piadas visuais são muito bem sacadas e existem diálogos espertíssimos durante todo o filme. Talvez o único ponto capaz de gerar controvérsia é a interpretação extremamente caricata de Taika Waititi. Ainda que a intenção seja mostrar alguém inescrupuloso que não aceita ser contrariado, em muitos momentos o ator/diretor infantiliza demais o personagem.
A narrativa central em torno de Guy denota uma inspiração em O Show de Truman. Seu despertar e sua jornada de autoconhecimento vai ganhando contornos de reality show à medida que a comunidade começa a observar com atenção suas ações e seu desenvolvimento no mundo virtual. Em paralelo, a subtrama envolvendo Jodie Comer, a programadora que invadia o jogo como Molotov Girl, seu avatar em Free World que desperta o amor de Guy, é feita com bastante sensibilidade, mas sem cair no sentimentalismo barato, já que ela batalha para que sua propriedade intelectual que pode revolucionar todo o mundo dos games não se torne somente uma ferramenta para arrancar dinheiro dos usuários. Dentro disso tudo, são amarradas as críticas mencionadas no parágrafo anterior, que apesar de não serem escancaradas, são evidentes o suficiente para gerar questionamentos internos nos espectadores.
É muito interessante observar como Ryan Reynolds rende quando tem um diretor que sabe conduzi-lo da forma correta. Nos últimos tempos, o ator vinha sempre interpretando variações de Deadpool e de seu próprio comportamento em redes sociais, o que vem o tornando extremamente repetitivo. Porém, o diretor consegue arrancar uma boa atuação de seu protagonista, com ótimas nuances de comédia e drama quando o momento se faz necessário. Jodie Comer mostra porque vem se destacando em Hollywood, a protagonista de Killing Eve entrega uma atuação comprometida e cativante tanto quando está no mundo real, como quando está no virtual. Já Waititi, como já dito, entrega uma atuação vacilante em certos momentos, mas nada que seja comprometedor. Entretanto, o grande destaque é Lil Rel Howery, o ator que já foi muitíssimo bem como o amigo de Daniel Kaluuya em Corra!, faz uma atuação sensível e divertida, roubando todas as cenas em que aparece, além de ser responsável pelos grandes momentos emocionais do filme. Os demais atores não comprometem e o longa ainda consegue espaço para diversas participações especiais.
Em resumo, Free Guy é um divertidíssimo filme que vale demais a pena ser assistido. Não posso esquecer de dizer que o filme é um roteiro original, ou seja, não é baseado em nenhum livro, história em quadrinhos ou outra produção. Tomara que no meio da enxurrada de adaptações, remakes e reboots continuem a aparecer ideias originais boas assim.