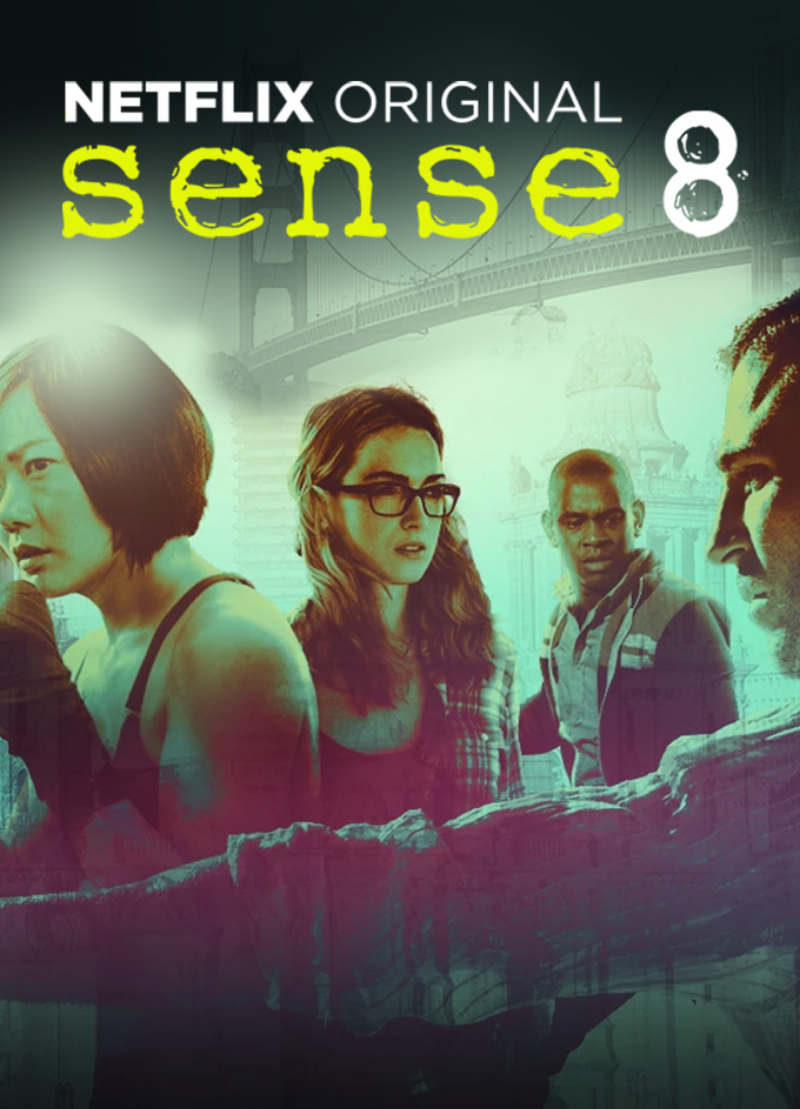Review | Sense8 – 1ª Temporada
A Netflix revolucionou a forma de consumo de entretenimento doméstico ao dar à luz um serviço de stream barato e com a garantia de certa qualidade em títulos e serviço. A televisão estava perdendo seu status de janela para o mundo desde o advento do Youtube, porém a Netflix, e sua apresentação de uma nova forma de consumir e produzir conteúdo, veio para jogar a última pá de cal na TV comum, que deverá reinventar-se caso queira reverter esta situação.
Uma das grandes amostras deste poder da empresa e de suas produções originais foi a disputa pelos prêmios de TV no Globo de Ouro, desde suas primeiras indicações em 2013 até vitórias em 2015 com a pioneira House of Cards.
Com o intuito de não ser uma TV no computador, a Netflix amplia o poder que o espectador tinha com o uso do controle remoto e garante em suas séries a experiência do formato antes informal de maratonas. Temporadas mais curtas, em geral com 12 ou 13 episódios, recursos humanos de altíssima qualidade — contando com nomes como David Fincher, Joel Schumacher, Kevin Spacey, entre outros —, assim estabeleceu-se que mais do que séries, o público estava diante de “um filme de 13 horas”, como ficaram conhecidas. Tal título é real ao menos em intenções, mas nem sempre em formato. Em diversas de suas séries originais não foi possível reconhecer este tipo de formato, pois a edição e direção não foram capazes de instigar a audiência a manter-se por horas em frente ao computador. Neste ponto, a nova série original da Netflix criada pelos Irmãos Wachowski (Matrix, O Destino de Júpiter) é, junto com a primeira temporada de House of Cards, o melhor representante deste novo formato.
Com dificuldades de agradar a público e crítica desde seu segundo filme, Matrix, os Irmãos Andy e Lana Wachowski trazem consigo para esta série alguns dos temas mais recorrentes de seus argumentos para um montagem de conceitos de ficção científica e religiosidade, bem como uma crítica a corporações que já faz parte da filmografia do casal de irmãos.
Na trama, oito pessoas estão mentalmente ligadas e têm a capacidade de acessar lembranças, sentidos e habilidades de seus companheiros de trajetória, orientados pelo personagem Jonas (Naveen Andrews) contra os chamados “Sussurros”, membros de uma organização secreta incumbida de caçar os sensitivos ao redor do mundo. Embora possua um plot bastante parecido com o terrível Cloud Atlas – A Viagem, a equipe aproveitou-se das 12 horas de exibição para produzir uma série baseada na celebração da diversidade e na quebra de fronteiras, dedicando boa parte de seus episódios ao simples desenvolvimento de personagens, mesmo que em detrimento do pano de fundo.
A coisa não é nova e reflete ligeiramente Avatar e as ideias ficcionais sobre o planeta e uma consciência coletiva, mas aqui o que realmente conta é o nível apurado da narrativa a partir de técnicas simples como fade outs e montagem para confundir o espectador com relação a qual cenário está frequentando, bem como sobre a união destes cenários. Mas é com o acesso dos personagens aos seus companheiros, e assim a intersecção de todos os elementos narrativos e imagéticos que leva a diversos momentos de catarse, simples e extremamente emocionais.
Com os três primeiros episódios dirigidos pelos criadores da série, estes soam um tanto quanto arrastados, pois dedicam-se de maneira nada sutil a estabelecer a mitologia da série, bem como seu posicionamento político. Para tanto, lançam mão de diálogos demasiadamente expositivos capazes de causar uma certa estranheza aos espectadores mais atentos. Porém, a partir do quarto episódio, o foco é no desenvolvimento dos personagens como seres de sensibilidade única, que apesar de suscetíveis às conspirações e agruras comuns da vida, tornavam-se mais fortes diante da ação coletiva. O intuito político disso é quebrar as fronteiras geográficas e humanas, e insinuar que mais importante do que o acidente geológico, ao qual chamamos de lar, é necessário olhar para o mundo com mais sensibilidade e empatia, e que esta empatia seria a chave para a resolução dos conflitos.
E a empatia permeia toda a série, mas especialmente em seu quarto episódio, que se encerra com uma das mais belas cenas musicais da TV, não só pelo contexto bem elaborado, mas também por contar que a essa altura os personagens já eram queridos em todas suas nuances. Outra característica da série é não se prender a pudores, exibindo cenas de sexo tão ousadas quanto bonitas.
Extremamente humanista e diverso, o coração de Capheus; a força de Sun; a liderança de Will; a inteligência de Nomi; a compaixão de Kala; as dúvidas de Lito; a explosão a partir da dor de Wolfgang e a fragilidade de Riley formam, como um todo, um grande ser humano a ser celebrado.
–
Texto de autoria de Marcos Paulo Oliveira.