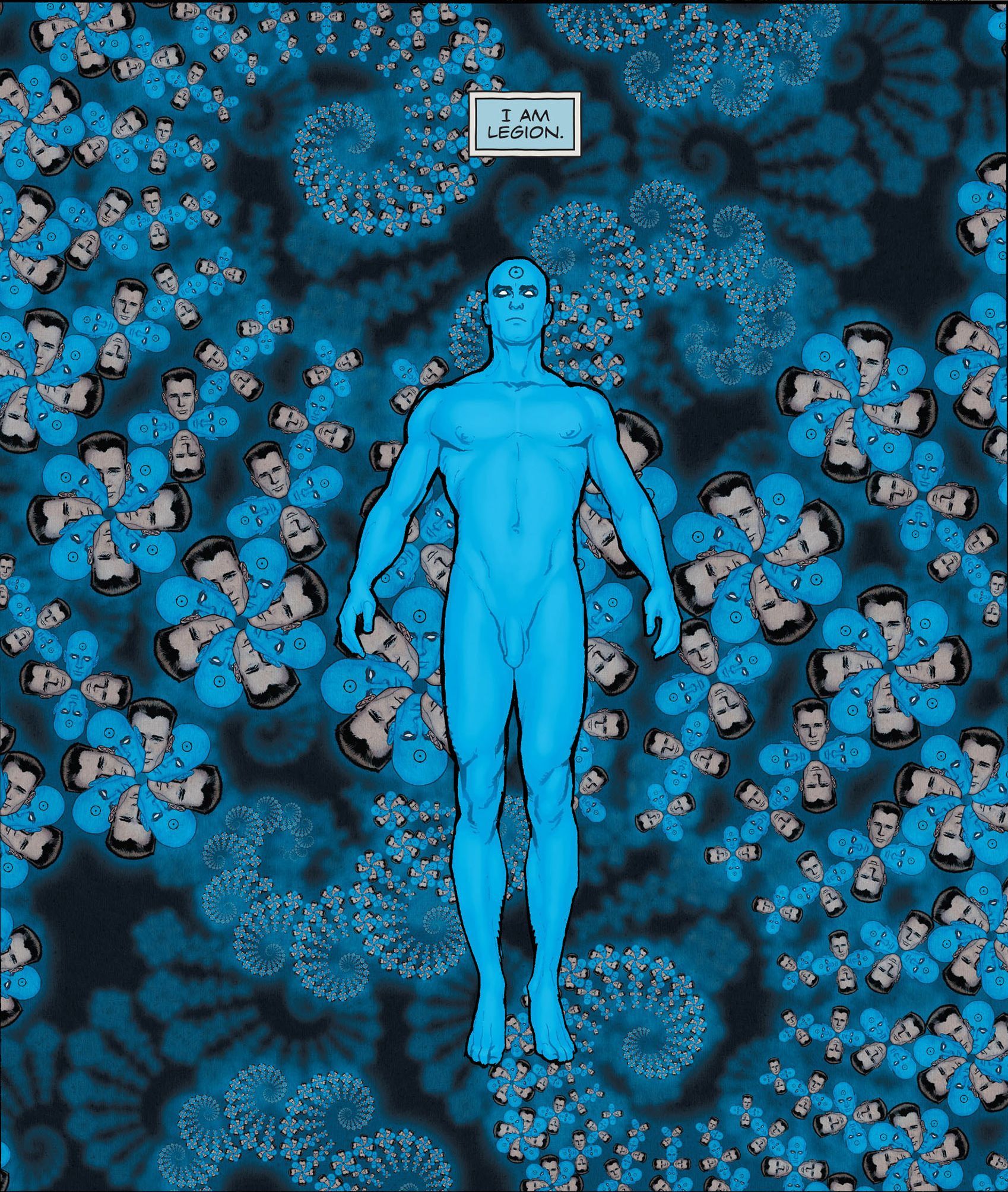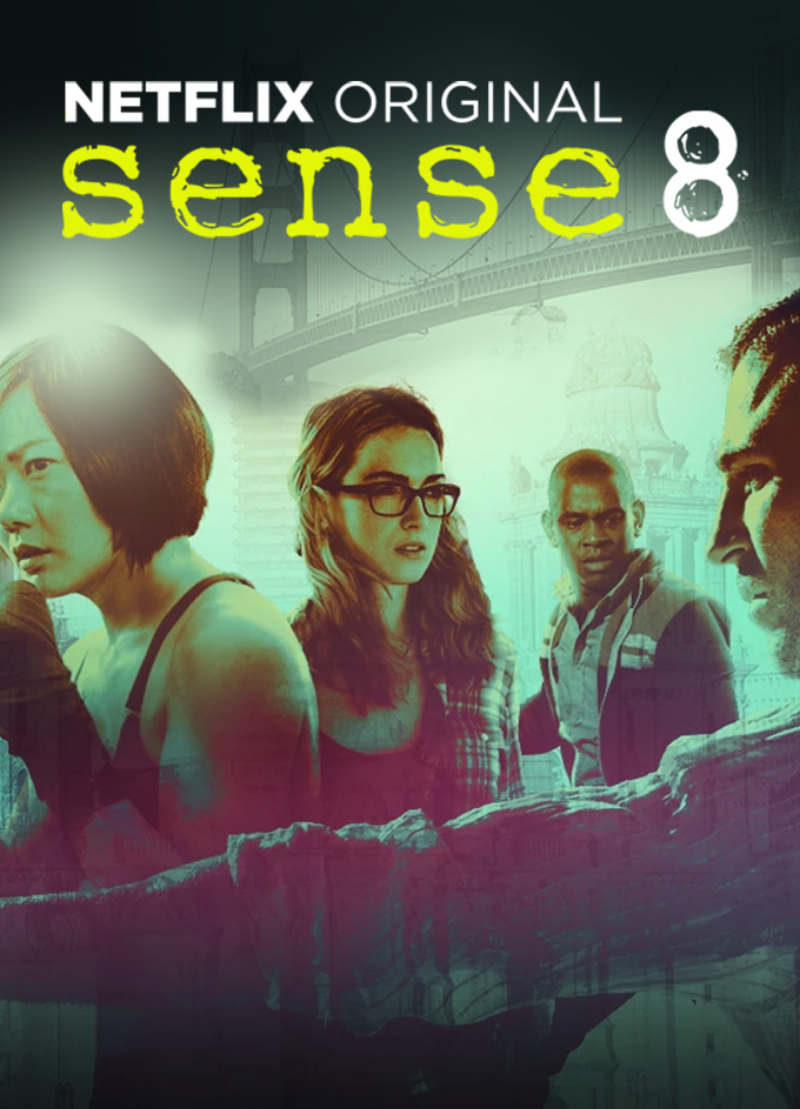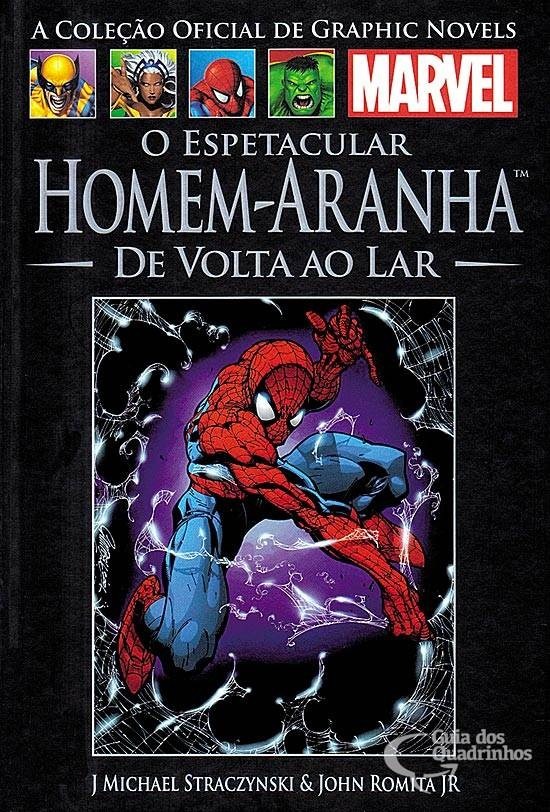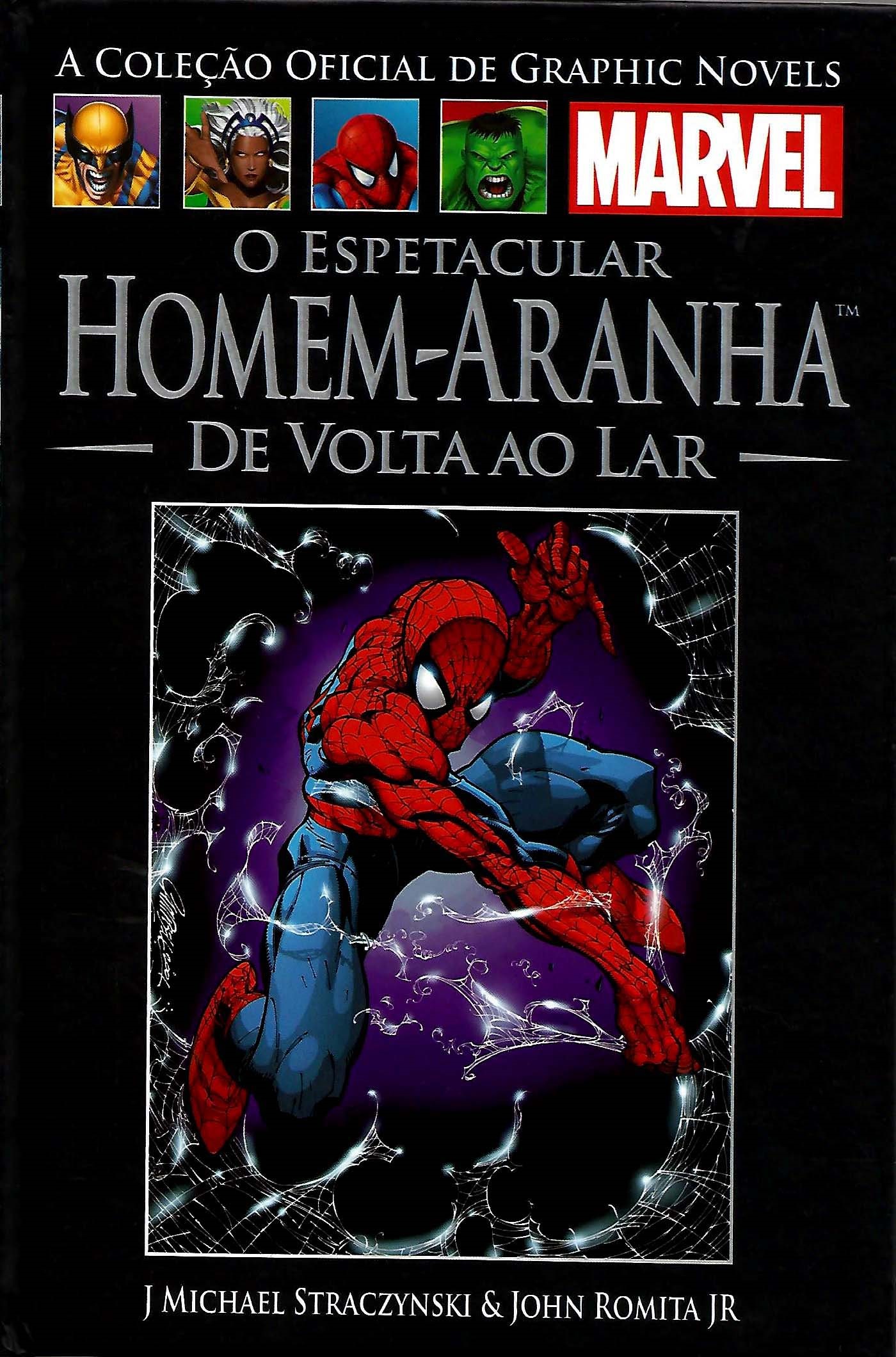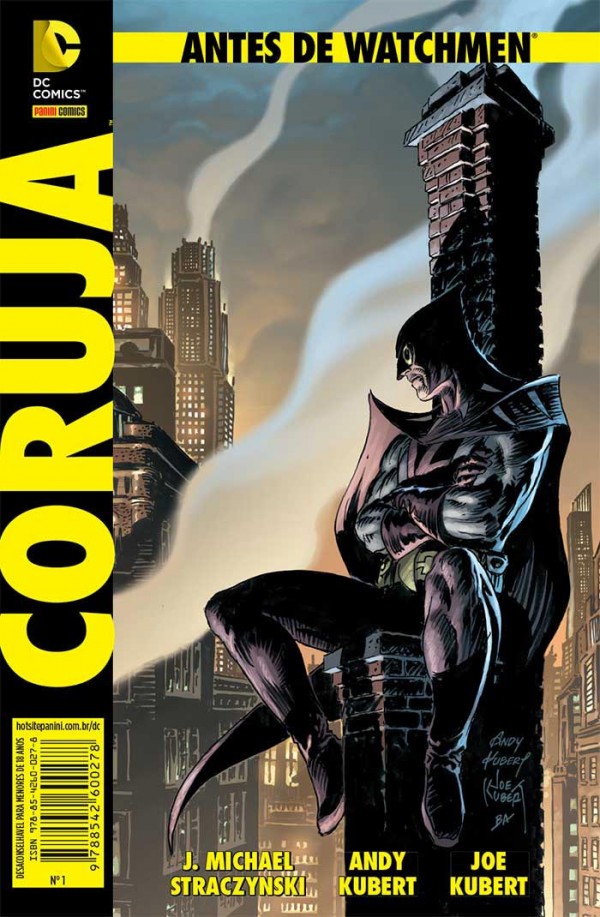VortCast 75 | Diários de Quarentena V

Bem-vindos a bordo. Flávio Vieira (@flaviopvieira), Filipe Pereira, Jackson Good (@jacksgood) e Rafael Moreira (@_rmc) retornam em mais uma edição para bater um papo sobre quadrinhos, cinema e muito mais.
Duração: 115 min.
Edição: Rafael Moreira e Flávio Vieira
Trilha Sonora: Rafael Moreira e Flávio Vieira
Arte do Banner: Bruno Gaspar
Agregadores do Podcast
Contato
Elogios, Críticas ou Sugestões: [email protected].
Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram
Acessem
Brisa de Cultura
Cine Alerta
PQPCast
Conheça nossos outros Podcasts
Agenda Cultural
Marxismo Cultural
Anotações na Agenda
Podcasts Relacionados
VortCast 71 | Diários de Quarentena I
VortCast 72 | Diários de Quarentena II
VortCast 73 | Diários de Quarentena III
VortCast 74 | Diários de Quarentena IV
–
Avalie-nos na iTunes Store | Ouça-nos no Spotify.
Podcast: Play in new window | Download (Duration: 1:55:02 — 135.8MB)
Subscribe: Apple Podcasts | RSS