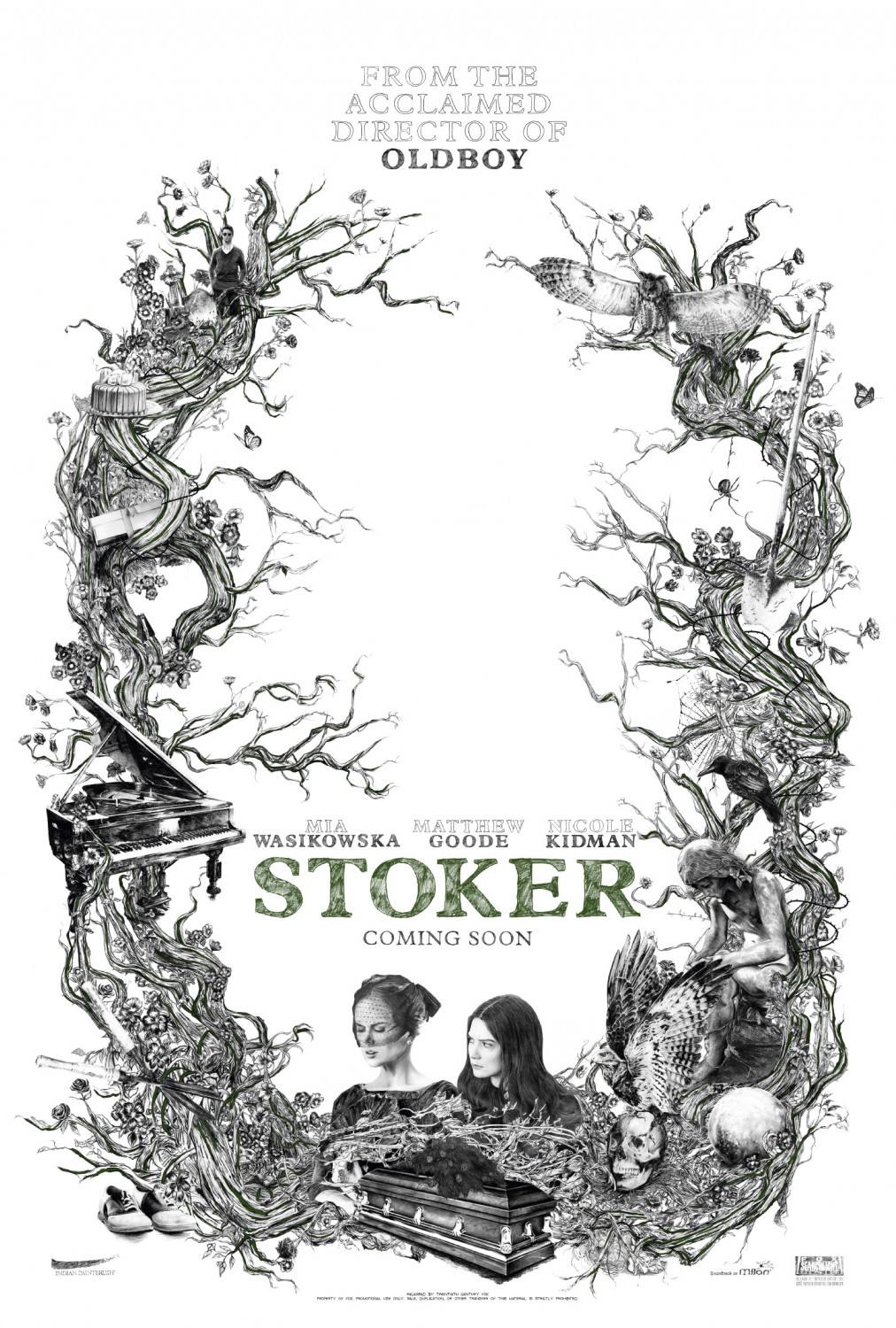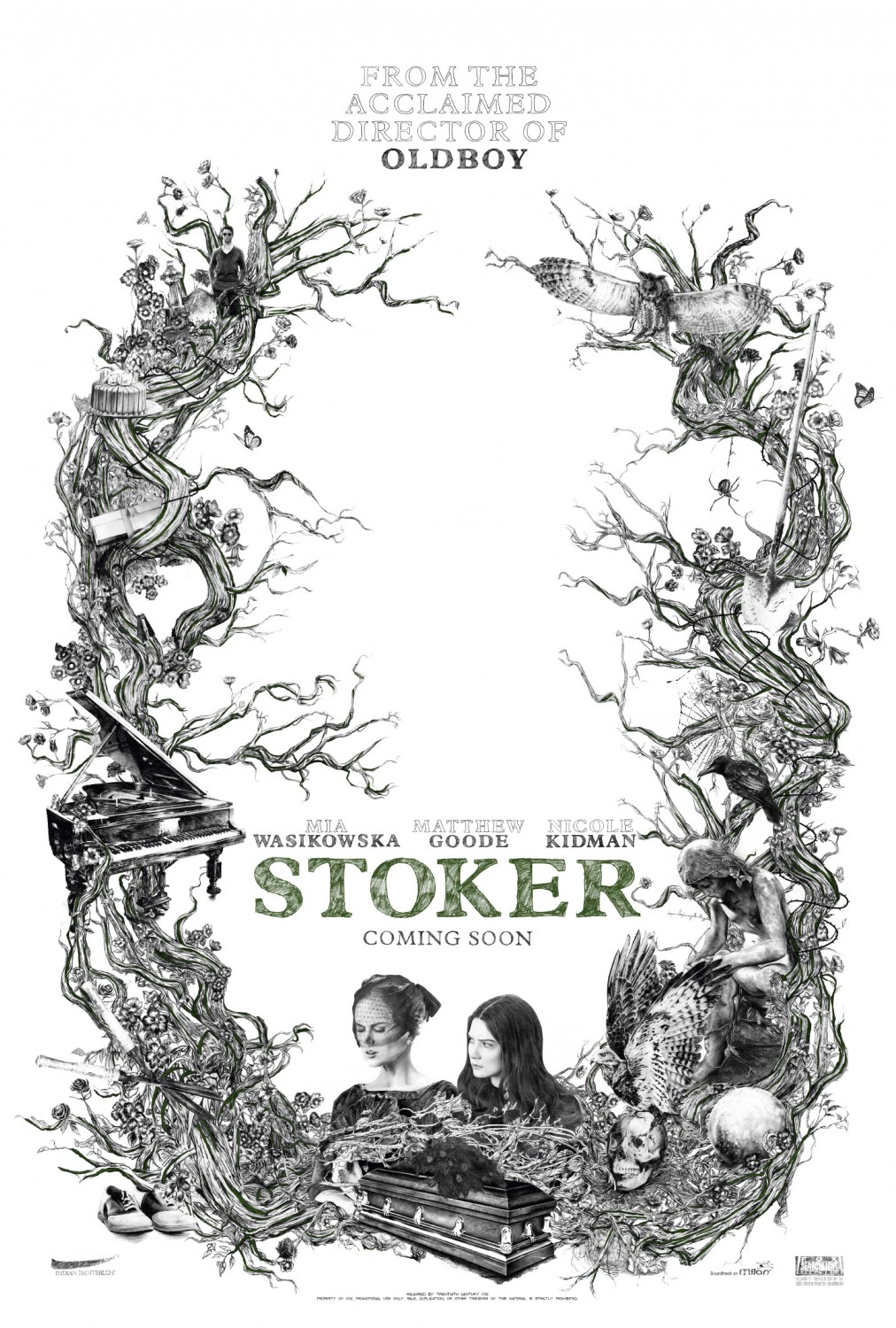Crítica | Alice Através do Espelho
 “Se você não sabe onde quer chegar, então qualquer caminho serve”, disse o Gato Que Ri à Alice, que conta suas aventuras pelo País das Maravilhas no livro de Lewis Caroll. E é exatamente esse conselho que a direção de Alice Através do Espelho, de James Bobin, parece seguir no longa. A obra original, Através do Espelho e o que Alice Encontrou por Lá, é uma espécie de sequência que simplesmente ignora a fonte, e embora possa ser “mais do mesmo” acaba por ser uma leitura agradável no fim das contas. Já o filme está bem longe disso. Do material original, apenas o título e a passagem pelo espelho se mantiveram. De resto, nada tem a ver com o livro, ignorando passagens memoráveis como o conto da Morsa e o Carpinteiro, ou a conversa com as flores no jardim.
“Se você não sabe onde quer chegar, então qualquer caminho serve”, disse o Gato Que Ri à Alice, que conta suas aventuras pelo País das Maravilhas no livro de Lewis Caroll. E é exatamente esse conselho que a direção de Alice Através do Espelho, de James Bobin, parece seguir no longa. A obra original, Através do Espelho e o que Alice Encontrou por Lá, é uma espécie de sequência que simplesmente ignora a fonte, e embora possa ser “mais do mesmo” acaba por ser uma leitura agradável no fim das contas. Já o filme está bem longe disso. Do material original, apenas o título e a passagem pelo espelho se mantiveram. De resto, nada tem a ver com o livro, ignorando passagens memoráveis como o conto da Morsa e o Carpinteiro, ou a conversa com as flores no jardim.
A maioria das adaptações da obra não seguem-na ao pé da letra, é verdade, e muitos filmes misturam o primeiro livro com o segundo – como os próprios estúdios da Disney fizeram nas duas versões anteriores a essa – mas sempre guardam alguma semelhança. Dessa vez, apenas o título mesmo foi usado. Fica claro desde o começo que não passa de uma forma de ganhar dinheiro com um produto já conhecido do público, com um esforço mínimo de trazer personagens memoráveis ou sequer significantes para a trama. Revemos velhos conhecidos, como o Coelho Branco ou a Lebre de Março, que apenas desfilam pela tela sem qualquer relevância.
Logo no início, como de costume, vemos Alice (Mia Wasikowska) no “mundo real”, como capitã de um navio enfrentando perigos, e em seguida, resolvendo negócios de família e sendo ridicularizada por ser mulher. Se tivéssemos mais tempo com a Alice do mundo real, talvez poderíamos até mesmo ver uma história interessante. Infelizmente, esses problemas são tratados de forma superficiais e sequer arranham a superfície das questões que poderiam ser levantadas, mesmo que de forma anacrônica, por uma personagem feminina forte. Isso não ocorre, talvez pela falta de carisma da protagonista ou do raso desenvolvimento de sua personalidade. Temos que ser informados por sua mãe de que ela é “teimosa”, quebrando uma das regras fundamentais das artes cênicas de mostrar, não contar.
Alice ouve a voz da Lagarta, agora transformada em Borboleta, que a guia até um espelho. Ao atravessá-lo, Alice volta para o Mundo Subterrâneo (Underland no original, fazendo um trocadilho com Wonderland). Se algo se salva nessa cena é a voz da Borboleta, interpretada pelo finado Alan Rickman, o eterno Professor Snape de Harry Potter, em seu último papel. Essa cena, que deveria ser de extrema importância por estar no título do filme, é totalmente banalizada. Alice simplesmente atravessa o espelho e pronto! Não existe encantamento, deslumbre, motivação… nada! Talvez por puro fan service, vemos um tabuleiro de xadrez senciente e Humpty Dumpty (o homem-ovo da rima infantil inglesa), em uma breve aparição, fazendo a única coisa que ele sabe fazer.
Alice se encontra então com a “turma antiga” (seus amigos de Alice no País das Maravilhas), que estão todos tomando chá e se mostram felizes por vê-la. Assim, ela fica sabendo que o Chapeleiro Louco caiu em desgraça e precisa muito de sua ajuda. Ao conversar com o conturbado Chapeleiro (Johnny Depp, que parece querer reprisar mais uma vez o papel de Jack Sparrow) descobre que ele está abatido devido a um drama familiar. Alice, para ajudá-lo, vai até o Senhor do Tempo (Sacha Baron Cohen, ainda mais caricato que seu famoso personagem Borat) atrás de um artefato que a permita voltar no tempo. E é aí que a trama se torna genérica de uma vez!
A Rainha de Copas interpretada por Helena Bonhan Carter é a vilã novamente – e novamente é mesclada com a Rainha Vermelha do livro – e também quer o mesmo artefato, chamado cronosfera, e para isso isso envolve-se em um relacionamento com o Senhor do Tempo. O desenrolar da história é tão mal-feito que descobrimos que tudo que acontece é por causa de uma… torta! Sim, a torta que faz parte do julgamento no primeiro livro e é apenas um recurso narrativo para parodiar os absurdos e arbitrariedades do sistema de Justiça, aqui é um elemento principal da história. E mais uma vez vemos o recurso narrativo da “escolhida” sendo usado, pois Alice é a única que pode salvar o mundo e por aí vai…
O filme carece de uma lógica interna, o que torna seu desenvolvimento ainda mais sem sentido. Durante as viagens no tempo, ficou estabelecido que não se pode mudar o passado, mas mesmo assim, o passado é mudado! Os personagens são simplesmente desperdiçados e as piadas até tentam fazer rir, mas não funcionam. A melhor parte do filme é quando Alice volta ao mundo real pela primeira vez e quase temos um plot twist – bastante sombrio e que levantaria muitas questões a serem discutidas sobre a veracidade das viagens da personagem – mas que sequer é comentado no fim, quando ela volta de vez e resolve os problemas que havia deixado pra trás.
No fim das contas, o filme não parece ir para lugar nenhum. Além da parte estética e fotografia, que emulam muito bem o estilo que Tim Burton imprimiu no também sofrível primeiro filme, não há nada que justifique o tempo perdido com essa película. Se a ideia era realmente não ir a lugar nenhum, então todos os envolvidos na produção estão de parabéns por atingir o objetivo.