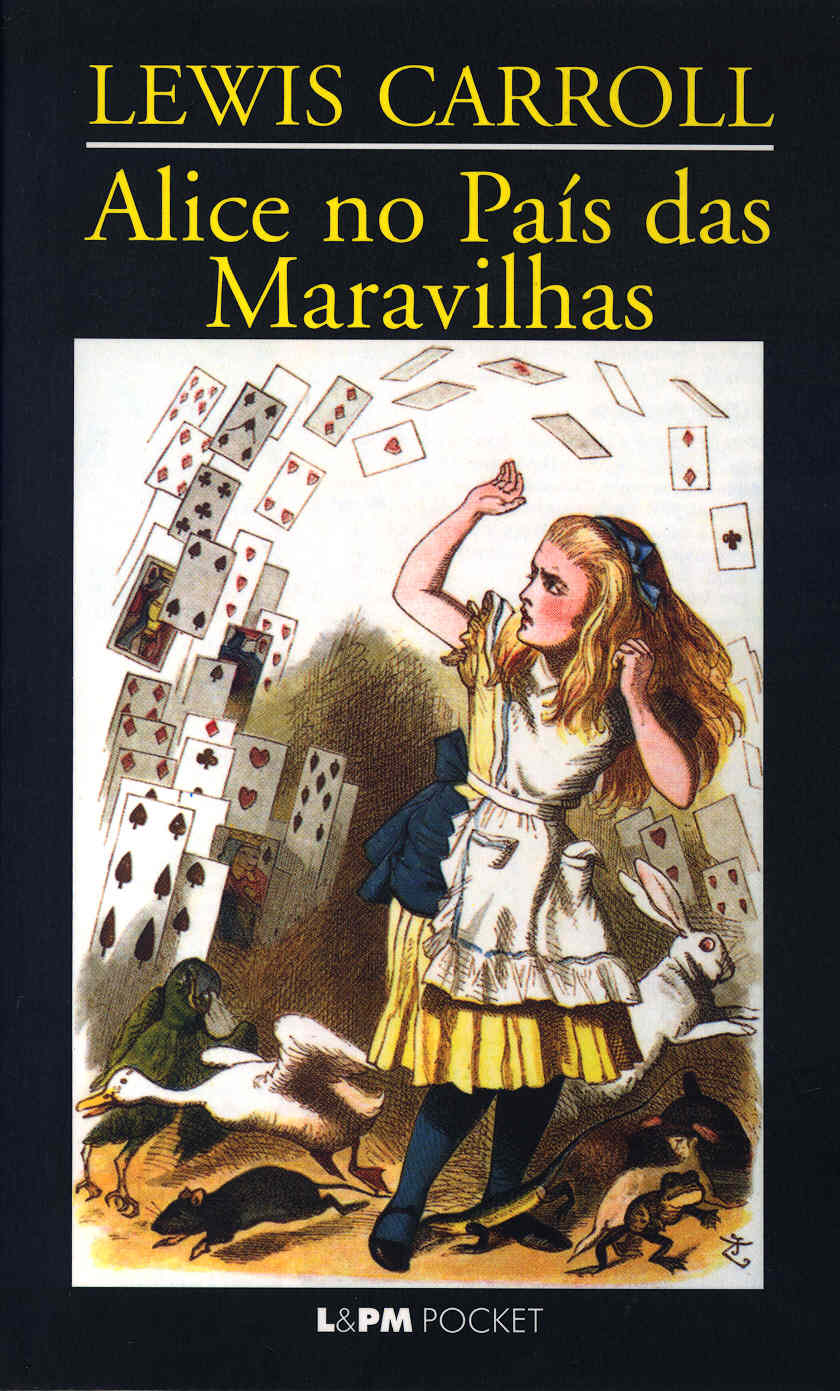Review | Alice in Borderland – 1ª Temporada

Três amigos entram num banheiro público, na mesma cabine, ficam ali dentro até que, de repente, todas as luzes se apagam e um silêncio absoluto começa a reinar. Eles saem do banheiro: tudo deserto. Não há uma alma viva sequer. O que aconteceu? Talvez a sua maior dúvida seja: porque diabos três amigos entraram na mesma cabine de um banheiro? Bem, é mais interessante do que parece.
Os fatos narrados acima ocorrem nos minutos iniciais do primeiro episódio de Alice in Borderland, onde esses personagens são apresentados. Arisu é o típico nerd que joga videogame o dia inteiro e não arruma emprego porque sua família – a contragosto – o sustenta. E sabemos que, no Japão, o trabalho é levado a sério (até demais), por isso a sua família tem um grande descontentamento em relação a ele. Mas não sejamos injustos, Arisu também faz outras coisas além de ficar em casa jogando videogame. Ele sai com seus dois amigos, Karube e Chota. E num desses passeios eles acabam fazendo uma pequena baderna no meio da rua e chamam a atenção da polícia. Nisso eles correm, se escondem no banheiro público e todo mundo desaparece.
Todos sumiram, sabe-se lá o porquê. Eles perambulam pela rua por horas até que uma placa luminosa aponta uma direção. Eles chegam em um prédio onde tem, em uma sala, vários celulares com uma placa dizendo “UM POR PESSOA”. Eles pegam, ligam os celulares e neles aparecem um aplicativo falando de um jogo que irá começar. Pouco antes de terminar o tempo da inscrição (sim, os personagens estão tão perdidos quanto você, leitor), chegam duas meninas para participar. Aparentemente elas já participaram de outro jogo. E assim começa o primeiro desafio de Alice in Borderland: passar por várias salas, cada uma com duas portas. Abrir a porta errada te mata. A porta correta te leva à sala seguinte. Aparentemente, é um jogo de sorte, mas estamos em uma série baseada em um mangá (homônimo), então há uma lógica por trás daquilo.
O título da obra é curioso, pois remete ao clássico da literatura Alice no País das Maravilhas (Alice in Wonderland, no original), que se passa em um mundo de fantasia bem peculiar. Aqui, o “mundo de fantasia” é idêntico ao real, mas parece ser uma dimensão alternativa, ou algo na fronteira entre o real e o fantástico, pois há tecnologias bem avançadas. Talvez seja essa a ideia do autor ao usar o termo borderland, que significa “lugar na fronteira” ou simplesmente “o ponto que divide duas coisas”, sendo que essas coisas não precisam necessariamente ser locais ou algo físico; poderia ser, por exemplo, o ponto entre a realidade e a fantasia, entre o mundo real e o mundo alternativo etc.
O nome de alguns personagens são referências diretas à obra de Lewis Carroll. O protagonista se chama Arisu, que é a forma com que um japonês pronuncia Alice (eles trocam o R pelo L e vice versa, dentre outras peculiaridades fonéticas). Outra personagem se chama Usagi, que significa Coelho, além de outras referências.
O grande mistério da série é saber por que esses jogos acontecem, quem os organiza e que diabos de mundo é esse. A tensão é constante, pois não basta essas pessoas estarem meio que perdidas. Elas se veem obrigadas a participarem dos jogos, pois cada uma tem “dias de visto”, como se estivessem em um país estrangeiro. A diferença é que, se o seu visto expirar, você é deportado para o mundo dos pés juntos (ou seja, você morre, e por um laser que vem do céu diretamente na sua cabeça). Os jogos sempre mudam e ocorrem em locais diferentes. Ao longo dos dias, os três amigos vão encontrando outras pessoas, e as dúvidas vão sendo respondidas aos poucos.
Não há muita enrolação. Os oito episódios desta primeira temporada são bem intensos, com muita violência e que já responde boa parte de nossos questionamentos, deixando um bom gancho para a continuação. Podemos dizer que há uma mistura de Jogos Mortais com uma carga de tensão do Battle Royale.
Apesar de todas as loucuras, podemos tirar algumas críticas e reflexões interessantes. Por exemplo, a falta de sentido na vida de Arisu, ou a tentativa de um lunático criar uma utopia que beneficiará apenas ele mesmo (e mesmo assim dezenas de pessoas aderem a isso, se deixando levar pelo carisma do líder e pelo hedonismo por ele proporcionado). Neste último caso estou falando do já mencionado Chapeleiro, que aparentemente descobriu uma forma de sair dessa “Borderland”. Ele criou o plano perfeito: dar um fiapo de esperança para seus seguidores e deixá-los imersos no hedonismo para que aproveitem suas vidas ao máximo, afinal podem morrer no próximo jogo. E claro, todo traidor será carinhosamente eliminado. Mas preciso admitir: o cara é bem carismático, por isso ele é tão perigoso.
Alice in Borderland é uma série muito divertida, mas possui momentos bem impactantes e impiedosos. Além disso, este é praticamente um anime em live action, então tudo segue o estilo. Quem não gosta de anime vai se incomodar muito com o estilo da série. Quem gosta de uma bizarrice japonesa, seja bem vindo a Borderland!