
Crítica | Como Eu Era Antes de Você
“Desmaiar-se, atrever-se, estar furioso, áspero, terno, liberal, esquivo, alentado, mortal, defunto, vivo, isto é amor; quem o provou bem sabe.” Foi através desses diversos adjetivos que o poeta espanhol Lope de Vega tentou definir, em um poema, o que seria o amor; assim como em nossos cotidianos estamos sempre nos questionando as verdadeiras raízes desse sentimento. Portanto, nada mais natural imaginar que tais idealizações estão implícitas ou explicitamente presentes no mais novo trabalho de Thea Sharrock, Como Eu Era Antes de Você, baseado no romance de Jojo Moyes (a qual também assina o roteiro).
Na obra, acompanhamos a jovem Lou Clark (Emilia Clarke), uma sonhadora que na busca de um emprego se apaixona pelo encantador Will Traynor (Sam Claflin) – que ficou tetraplégico após um acidente. O que Sam ou Lou não sabem é que, em um átimo, essa paixão mudará para sempre seus caminhos.
Tendo o interior da Inglaterra como pano de fundo, o filme utiliza bem tudo aquilo que lhe favorece: belas paisagens, figurinos que por vezes assumem um signo incandescente dentro da narrativa, uma trilha extremamente competente e radiante, ótimas locações captadas por uma fotografia abrasada. Elementos que, somados, dão à película um tom lírico, emulando com isso uma atmosfera de “contos de fadas”.
A obra como um todo é competente justamente por não se esconder, não almejar ser o que não é, e justamente por essa coragem consegue expor tudo aquilo que o próprio expectador almejou encontrar, quando decidiu comprar seu ingresso e tirar um tempo livre para embarcar junto nessa história.
Guiado por uma série de protocolos do gênero, o filme consegue nos lançar sutilmente nos dilemas das personagens principais – seja através da personalidade sonhadora e desbravadora de Lou, seja perante o evidente conflito de Will que, por sua vez, busca o instante do presente, mas não consegue desvencilhar-se de seu passado. Ambos magneticamente se completam justamente por suas personalidades distintas. Lou, otimista e cativante, floresce e se transforma em um farol para Will em seus momentos mais evanescentes.
Entre um final amargo ou uma amargura sem fim, a trama consegue ser bem equilibrada, sendo leve e ao mesmo tempo precisa e incisiva quando necessária. Demostrando o quanto amores são surpreendentes e imprevisíveis, a história contrabalanceia o mágico e o racional do dia a dia. Por fim, fica bastante marcada a força do título e sua universalidade, afinal quantos de nós em algum momento, diante de um relacionamento (real ou platônico), já não nos perguntamos como éramos antes de conhecer a pessoa amada?
Como eu Era Antes de Você, apesar de não negar sua essência, foge de muitos clichês do gênero e prioriza uma realidade mágica tão inerentemente humana, assumindo com isso que a vida não deve, e nem pode, ser regida unicamente pela razão.
–
Texto de autoria de Tiago Lopes.











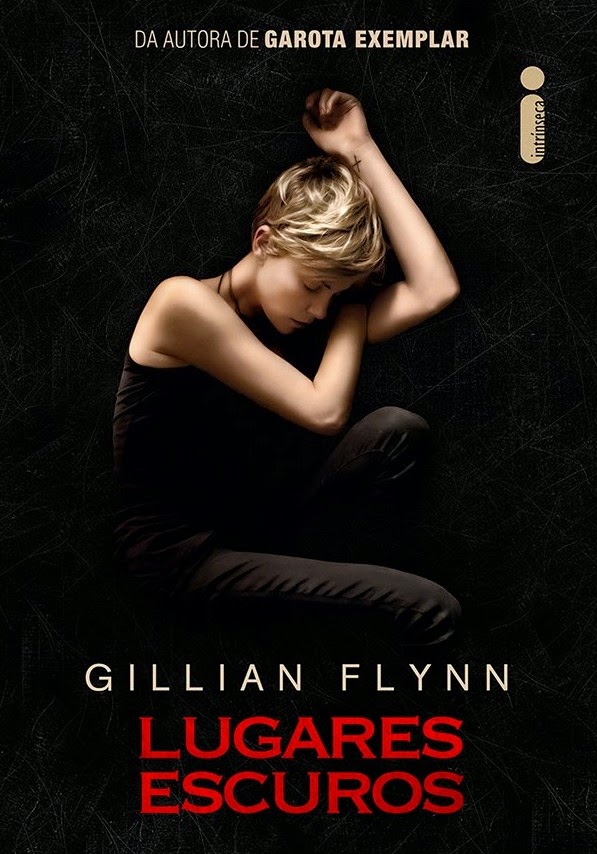






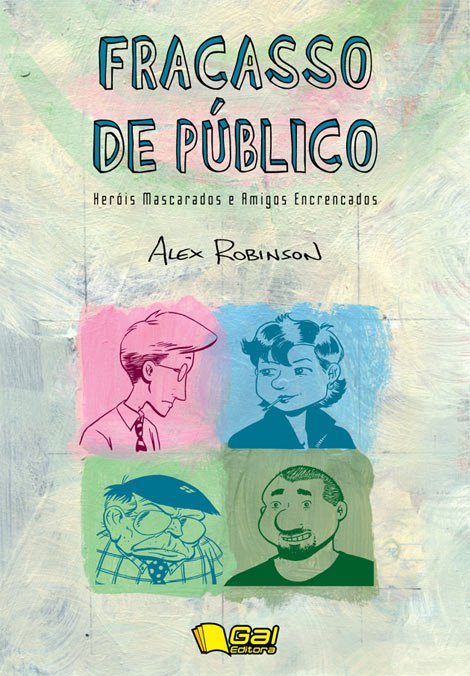


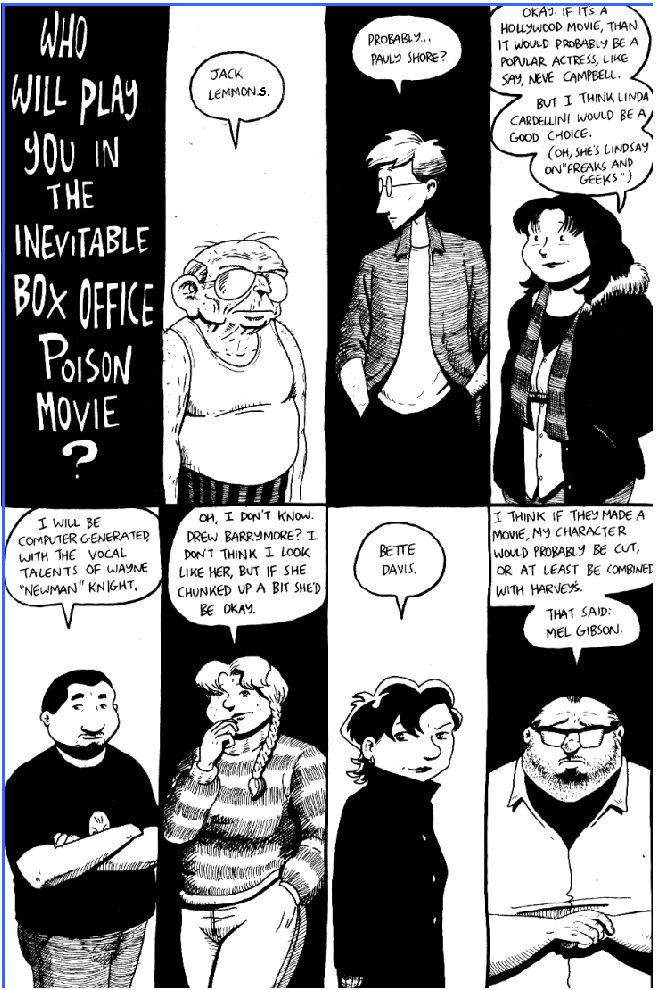
 Outro ponto a se ressaltar é que a HQ te leva em vários momentos para uma montanha russa emocional. Passando de sequencias hilárias, para um ou dois quadros depois sofrermos um baque de tristeza ou agonia. O autor trabalha isso muito bem, tanto a dramaticidade sem nunca forçar o tom. Como na comédia que chegam a render crises de riso. Há de se notar que é mais um dos casos em que a HQ é inspirada em nossa própria vida. Em que as situações mudam sem aviso, sem enrolação, os bons ou maus momentos podem ser iniciados ou interrompidos de maneira estanque sem nem bem percebemos o que de fato aconteceu.
Outro ponto a se ressaltar é que a HQ te leva em vários momentos para uma montanha russa emocional. Passando de sequencias hilárias, para um ou dois quadros depois sofrermos um baque de tristeza ou agonia. O autor trabalha isso muito bem, tanto a dramaticidade sem nunca forçar o tom. Como na comédia que chegam a render crises de riso. Há de se notar que é mais um dos casos em que a HQ é inspirada em nossa própria vida. Em que as situações mudam sem aviso, sem enrolação, os bons ou maus momentos podem ser iniciados ou interrompidos de maneira estanque sem nem bem percebemos o que de fato aconteceu.