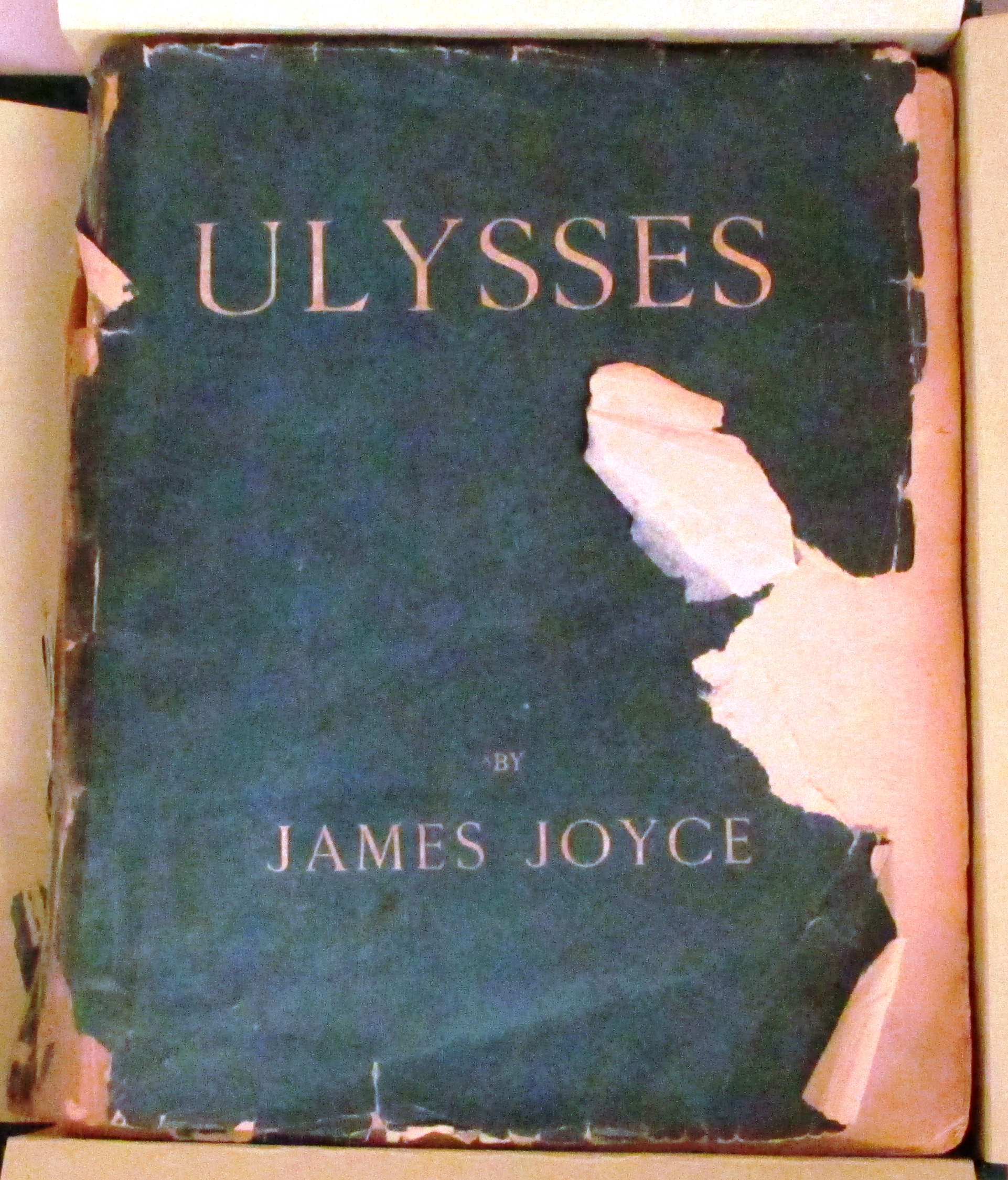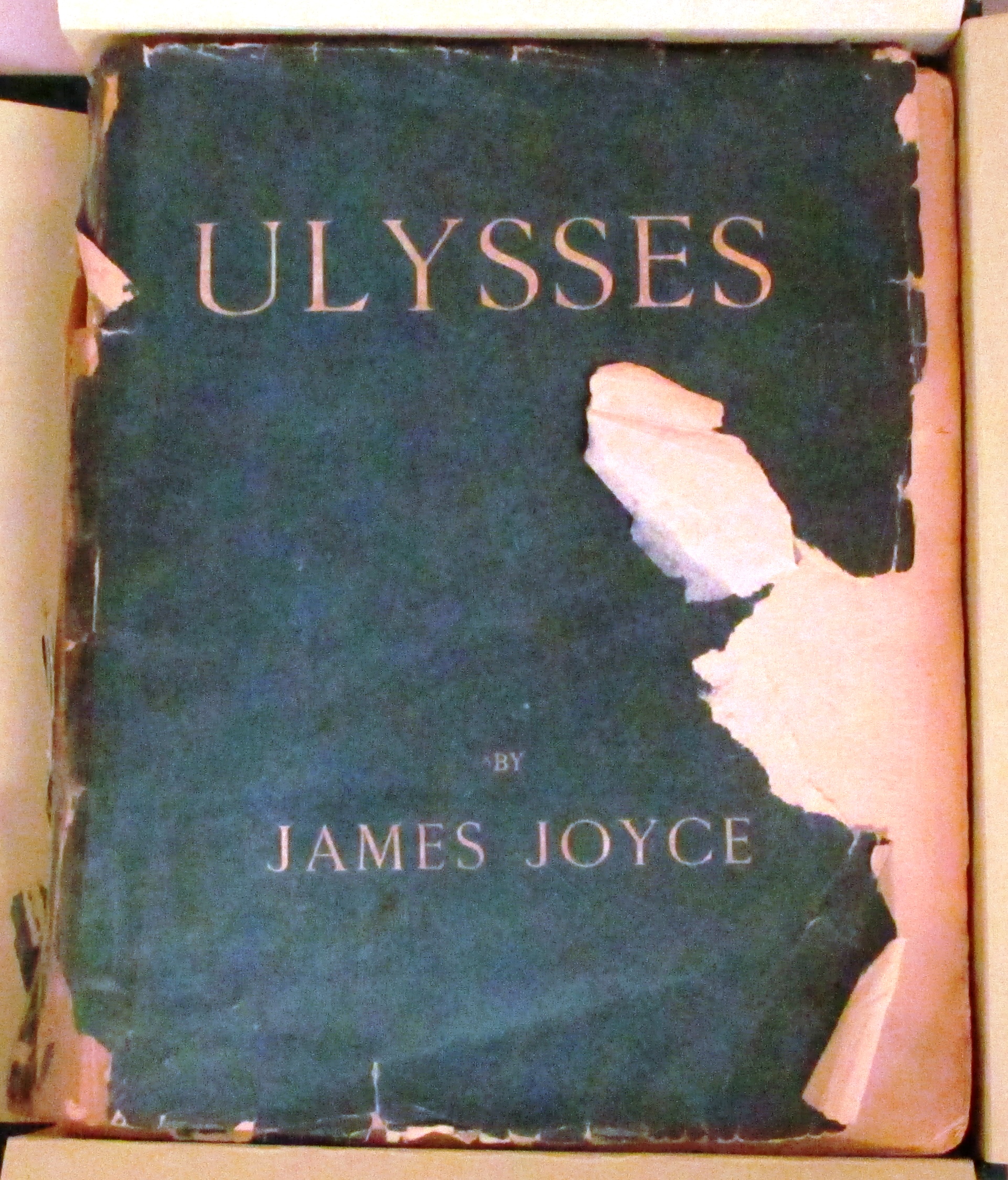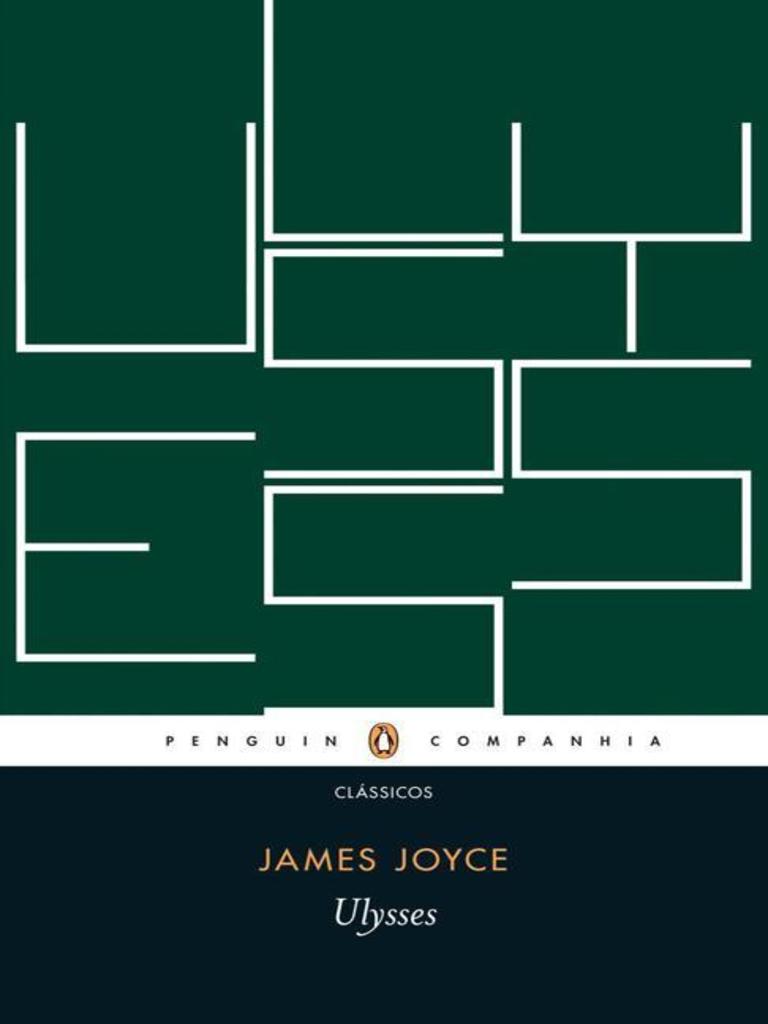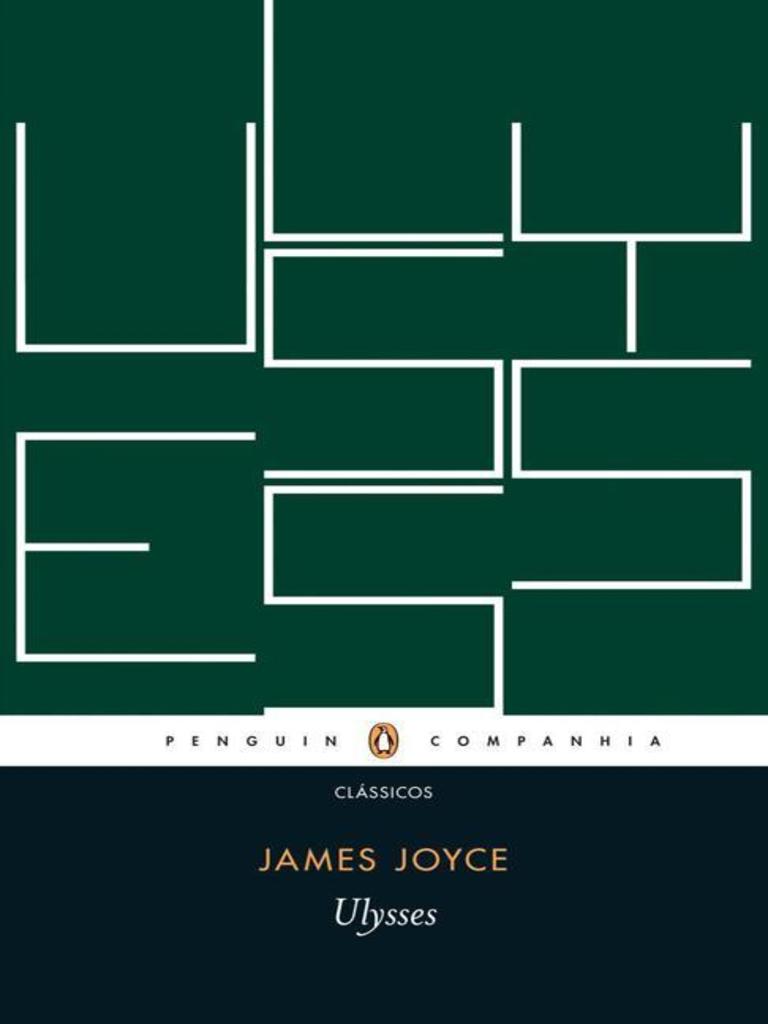Crítica | Indiana Jones e a Última Cruzada

Estreando em 1989, Indiana Jones e a Última Cruzada não decepcionou e conseguiu criar outra grande aventura de sucesso para o arqueólogo mais famoso do cinema, no mesmo nível que Caçadores da Arca Perdida e Indiana Jones no Templo da Perdição.
Quando Henry Jones é dado como desaparecido em uma expedição na busca pelo Santo Graal, Indiana Jones tenta encontrar seu pai enquanto procura escapar dos nazistas.
O bom roteiro de Jeffrey Boam, baseado na história de George Lucas e Menno Meyjes, estrutura-se no primeiro filme da série. Se antes Indiana era contratado pelo governo para ir atrás da Arca da Aliança e alcançá-la antes dos nazistas, agora quem o contrata para encontrar outro objeto bíblico é o dono da expedição que seu pai liderava e desapareceu.
Indiana Jones e a Última Cruzada acerta ao ampliar o espectro do personagem e mostrar a relação que tem com o pai. Apesar de ter herdado o amor por história e arqueologia, Indiana também herdou as relações conturbadas que o pai teve com mulheres. Ao ter a sua terceira amante na série, Indiana Jones se aproxima mais de 007 e se distancia um pouco da sua principal inspiração, Alan Quatermain, personagem fictício do livro As Minas do Rei Salomão, de Henry Rider Haggard. Não à toa, Sean Connery foi escalado para viver Henry Jones pai.
Outro grande trunfo do roteiro foi apresentar o passado do protagonista, como o jovem Indiana Jones na abertura do filme. Além de reforçar as principais características do personagem desde a sua adolescência, serviu de ligação para a narrativa central ao também apresentar o seu pai. Todo o filme pode ser resumido no início.
A direção de Steven Spielberg continua afiada, deixando ainda mais claro o seu domínio da narrativa visual como poucos. Apesar de ser uma franquia, as características fundamentais do seu cinema continua lá: problemas familiares enfrentados pelos protagonistas, uma complicada ameaça externa, atitudes fascistas de governos ou órgãos governamentais.
Como é filme de gênero de aventura pulp, a atuação não é das mais refinadas e nem precisa ser. Harrison Ford segue canastrão como o personagem-título, mantendo os mesmos maneirismos. Mesmo no piloto automático, Connery consegue dar o charme que a parte final da trilogia necessitava, como Henry Jones pai. A grande revelação foi River Phoenix que conseguiu criar um jovem Indiana Jones tão marcante que até conseguiu se transformar em uma série televisiva. Destaque para os retornos de John Rhys-Davies e Denholm Elliott como Salla e Marcus, além de Alisson Doddy que vive Elsa e Julian Gloover (o Grande Meister Pycelle de Game of Thrones) como o vilão Walter Donovan.
A fotografia versátil de Douglas Slocombe, que trabalhou nos outros três filmes da franquia, consegue ir do árido e amarelado deserto de Petra até os esverdeados e azulados aconchegantes salões europeus. A edição ágil de Michael Kahn, que também trabalhou nos outros títulos, manteve o bom ritmo, sempre se preocupando com os respiros necessários entre as várias sequências de ação da obra.
Indiana Jones e a Última Cruzada vale a pena por ter se tornado um clássico mantendo o nível dos dois outros filmes, e concluindo com sucesso uma trilogia que se tornou referência para a história do cinema, principalmente nos anos 1980.
–
Texto de autoria de Pablo Grilo.