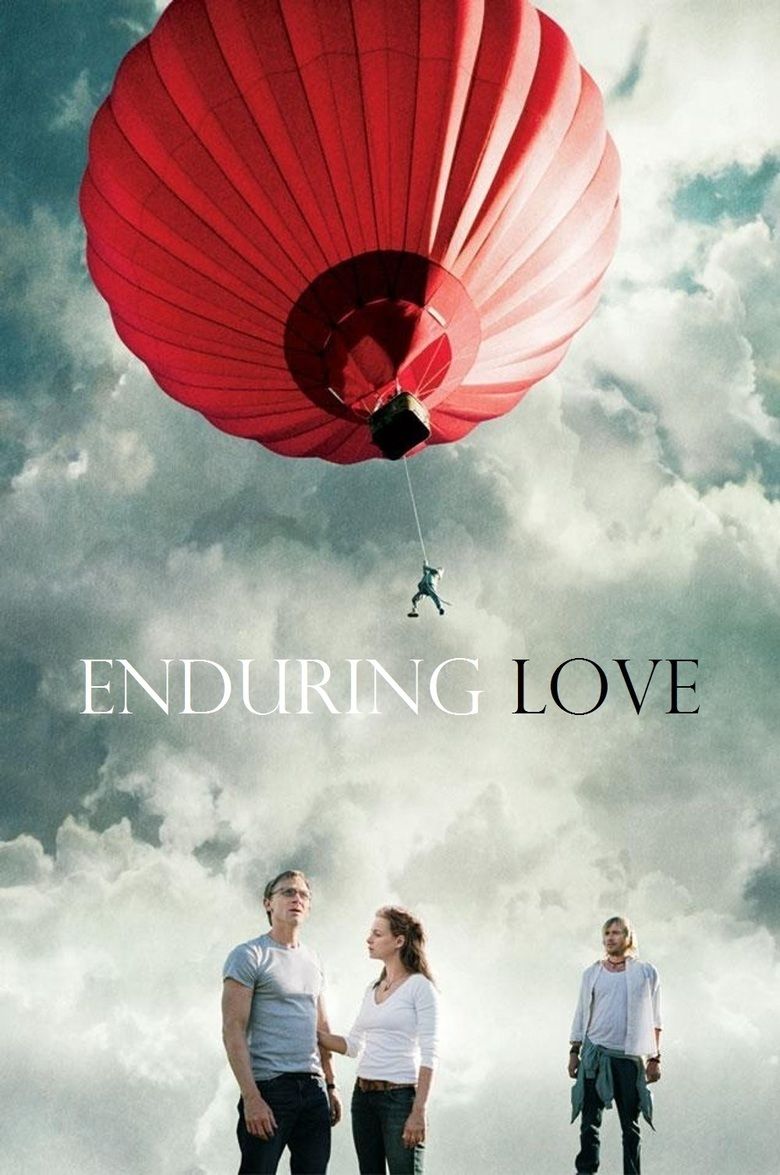Review | Mindhunter – 2ª Temporada

Crianças estão desaparecendo em Atlanta, capital do estado americano da Geórgia, e ninguém sabe quem está por trás disso. Desapareceram em massa num surto homicida sem precedentes, de fato, entre 1979 e 1981; jovens de 7 a 17 anos, tendo em comum serem todos afro americanos, e claro, menores de idade. Entre os quase 30 sumiços registrados pelas autoridades locais, pouco se sabe do(s) arquiteto(s) desses crimes que ainda assombram as memórias e a cultura pulsantes de Atlanta, até hoje. Felizmente, a segunda temporada de Mindhunter, a ótima série de Joe Penhall e produzida por David Fincher, não ignora esse marco histórico tão pesado, e revisita-o numa bela e discreta recriação temporal em busca de revirar seus mistérios, segredos e contradições que tanto envolveram esses desaparecimentos.
Estaria o Klan por trás dessas perseguições, algum culto religioso macabro, ou apenas um fanático que moram com a mãe, acima de quaisquer suspeitas? “Precisamos ficar focados”, diz Holden Ford em certo momento, um dos dois principais agentes do FBI na série. Sendo o mais analítico e naturalmente viciado em sua profissão investigativa, Holden é o típico protagonista que toda série contemporânea e detetivesca pós-Zodíaco e Se7en (maravilhas de Fincher) deveria apresentar. Holden encarna o próprio trabalho, mergulhado a cada dia em um novo desafio a superar, junto do seu fiel companheiro, Bill Tenchy, muito mais humano, frágil, e cansado do que aquele pai de família durão e inquebrantável, de antes.
Juntos, eles vem a unidade do FBI que atuam se expandir para resolver crimes que chocaram os Estados Unidos. Esse é o caminho natural de uma série como Mindhunter: aumentar o escopo para aprimorar suas perspectivas, aproveitar as possibilidades de sua realidade enquanto nos encanta e nos arrebata em seus mistérios, desta forma. Novos agentes entram na investigação, e todos parecem correr em círculos como se uma mente ardilosa e diabólica os fizesse de idiotas. É fato consumado que o enredo se preocupa muito mais em nos viciar na trama fragmentada, que ir atrás de respostas e soluções, e isso pode frustrar vários espectadores. A cada ida numa ponte, na calada da noite, ou em um novo momento de pura tensão (muito bem construído), eis um novo gancho narrativo para uma próxima charada.
Se isso cansa, num primeiro momento, devido a letargia de alguns episódios, vale a pena seguir a construção dos enigmas após cada novo sumiço, em Atlanta, pelo simples prazer de uma encenação imbatível – e da dúvida que, aqui, pode ser muito mais poética e delirante do que alguns imaginam. Sempre destinados pelo FBI (e pessoalmente, também) a decifrar a mentalidade de assassinos em série, visitando-os em suas rotinas carcerárias bem longe das calçadas, Holden e Bill têm de lidar agora com a falta de foco que um caso desses apresenta, pois novas pistas não param de entrar na trama a cada um dos seus nove episódios, simplesmente hipnotizantes – ainda que absolutamente anticlimáticos, como já mencionado, sob a desculpa de se garantir, assim, a expectativa e o clima aterrorizante e mórbido que essa segunda temporada carrega e ostenta, com orgulho e um gosto latente de aperitivo de luxo para algo maior.
Explorando o seu potencial de forma minimalista e sem muitos alardes, a série não ousa em sua proposta básica de suspense criminológico e aposta todo o seu desejo pela estratégia e esquematização, elementos que parecem reger esse cosmos de detetives e criminosos que a ficção tende a tornar tão elegante e simbólico, em uma infinidade de close–ups hitchcockianos e diálogos do tipo “piscou, perdeu”. Mesmo assim, uma vez que a alma da série repousa com força e louvor no brilhantismo de clássicos do gênero policial como 12 Homens e Uma Sentença, do soberano Sidney Lumet, nada parece nos preparar para o apogeu destes episódios: a entrevista com Charles Manson, numa releitura tão forte e perfeita do comportamento e visual icônico do homicida americano que chega a impressionar qualquer um. Uma longa sequência, e que não chega a sumarizar o momento passivamente caótico da série, mas cujo impacto é de certo o mais poderoso entre todos os instantes desta segunda temporada.