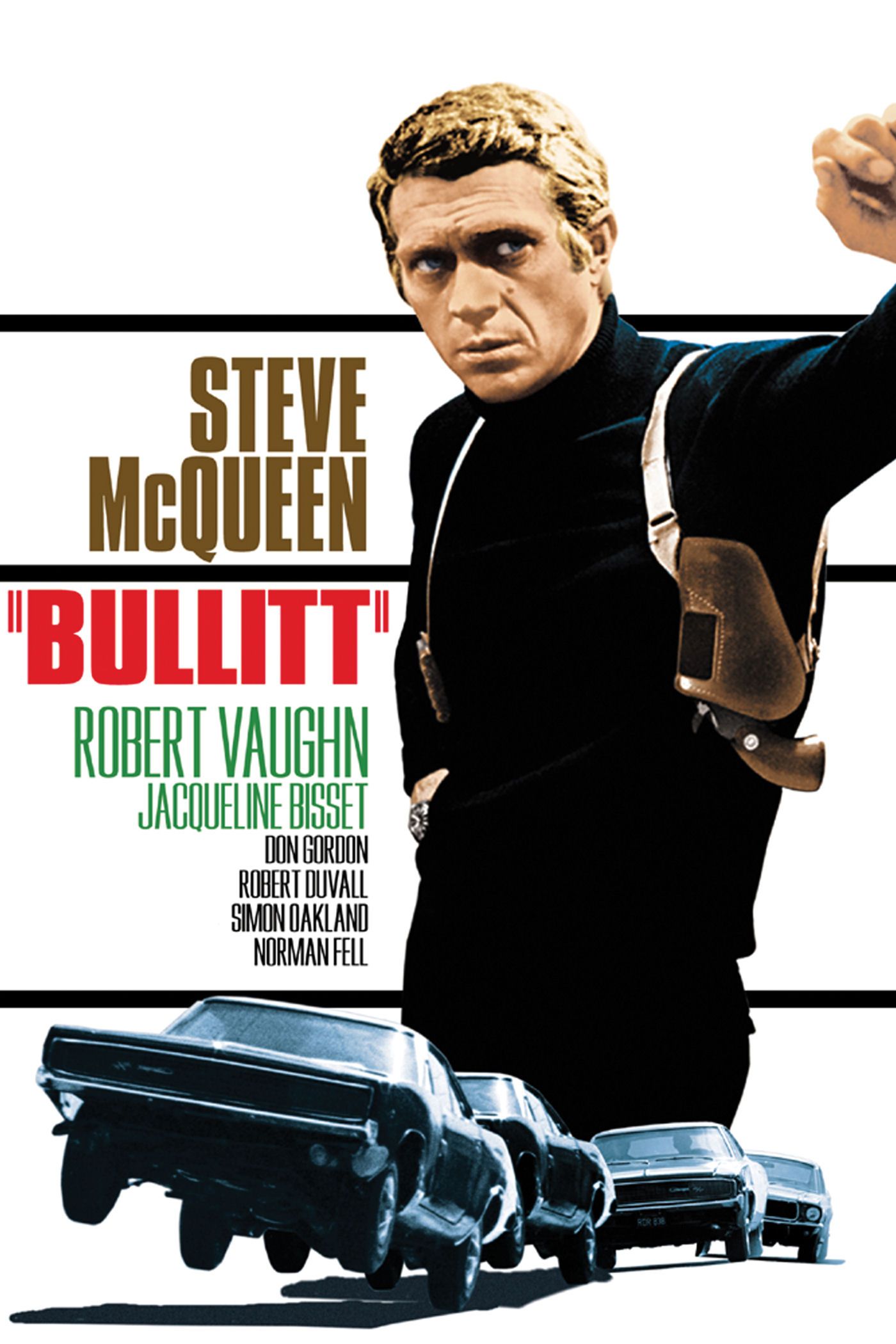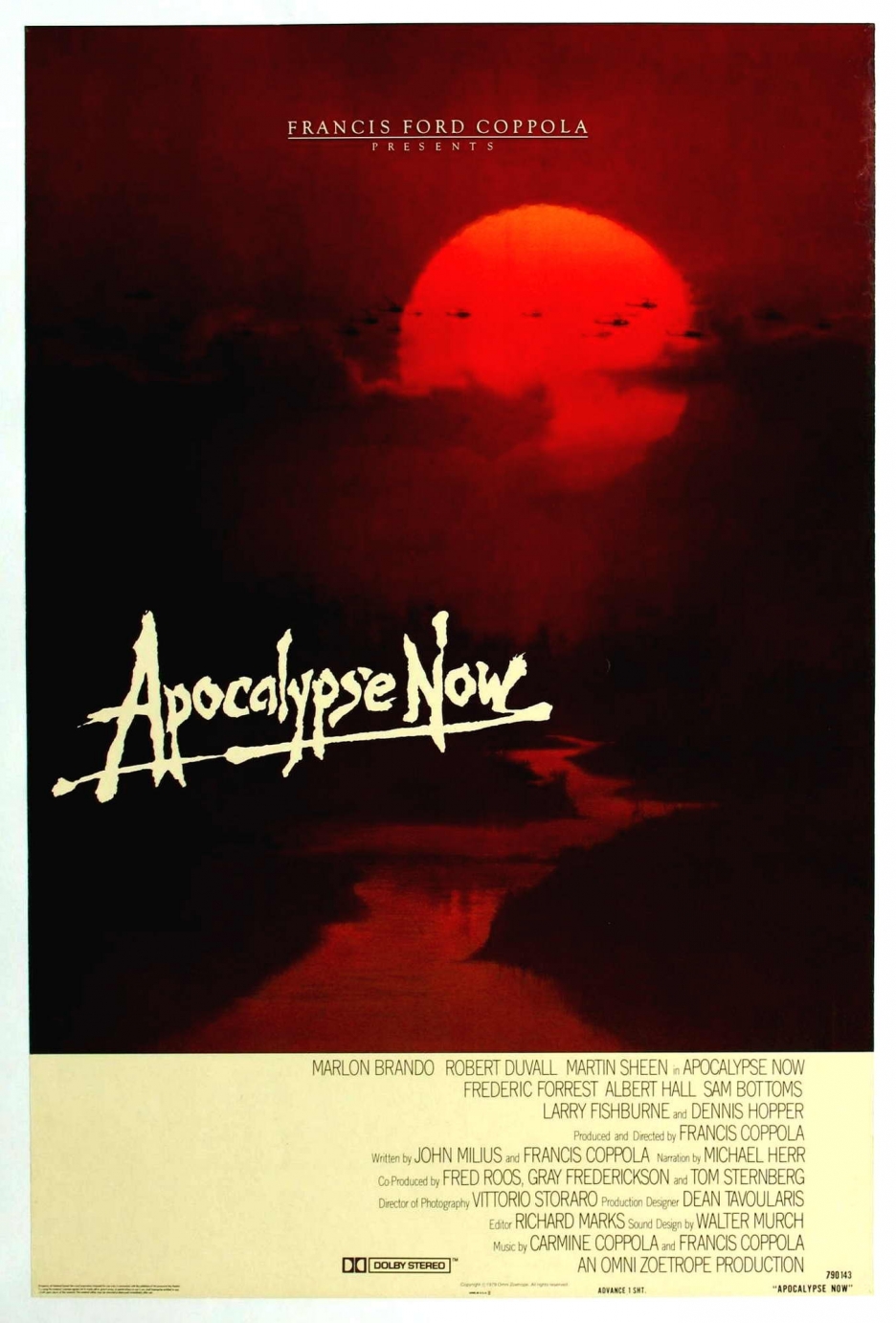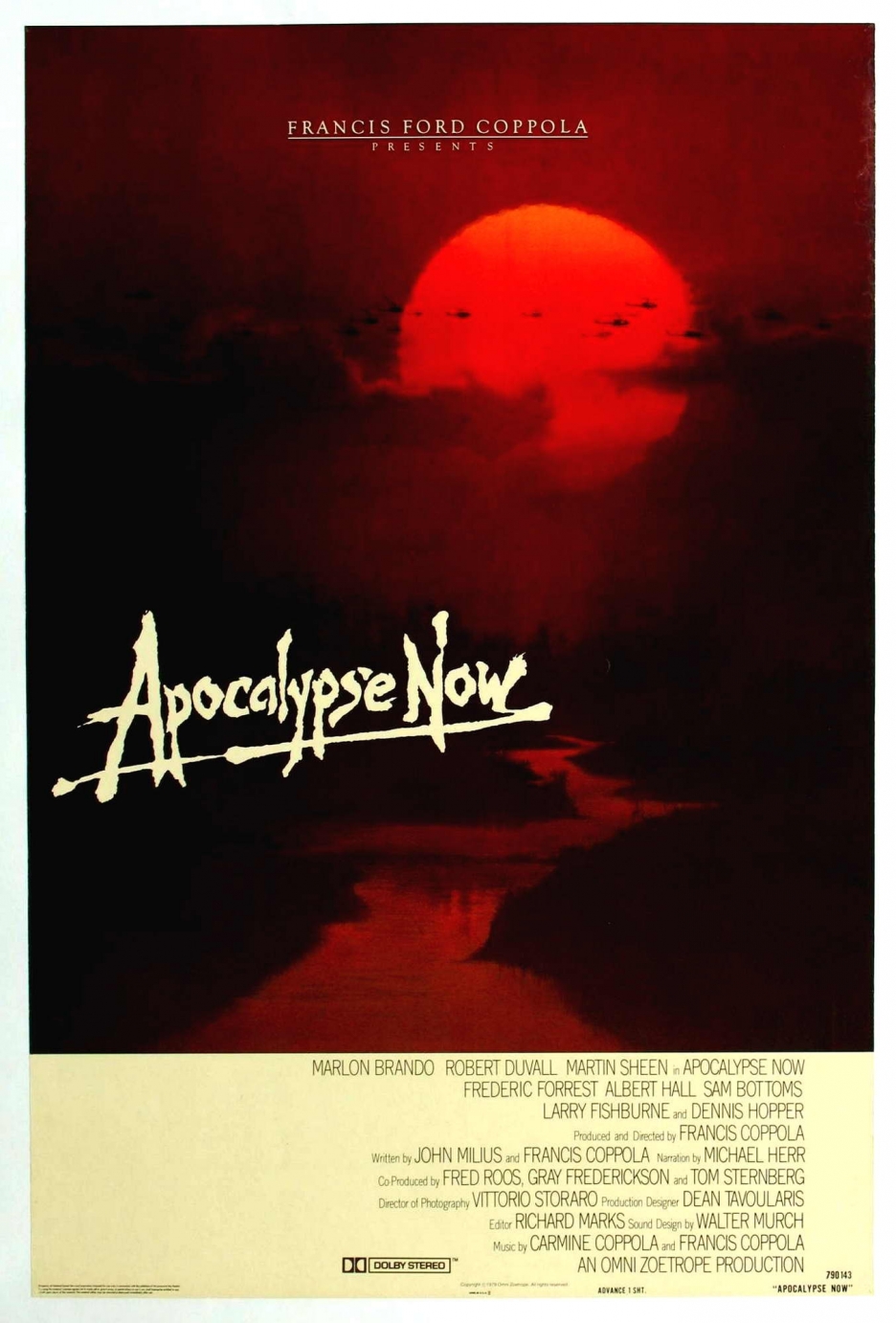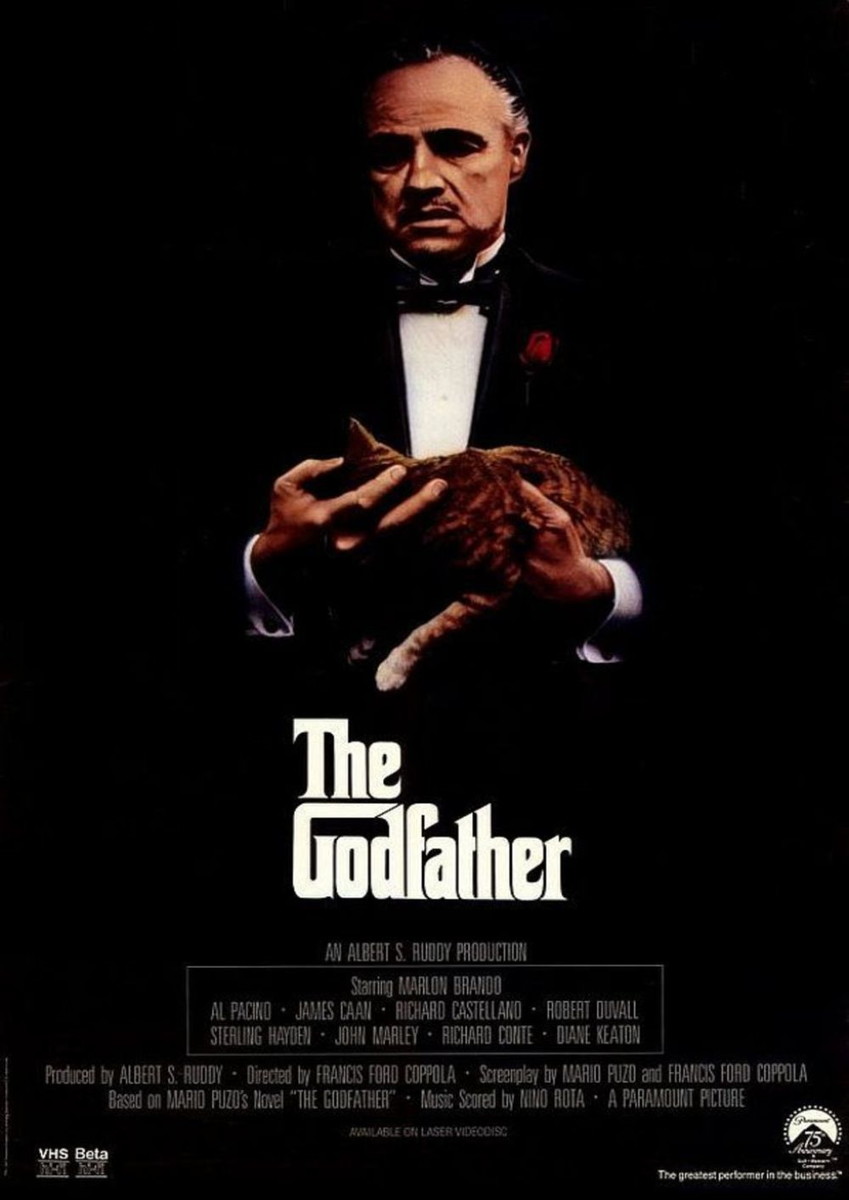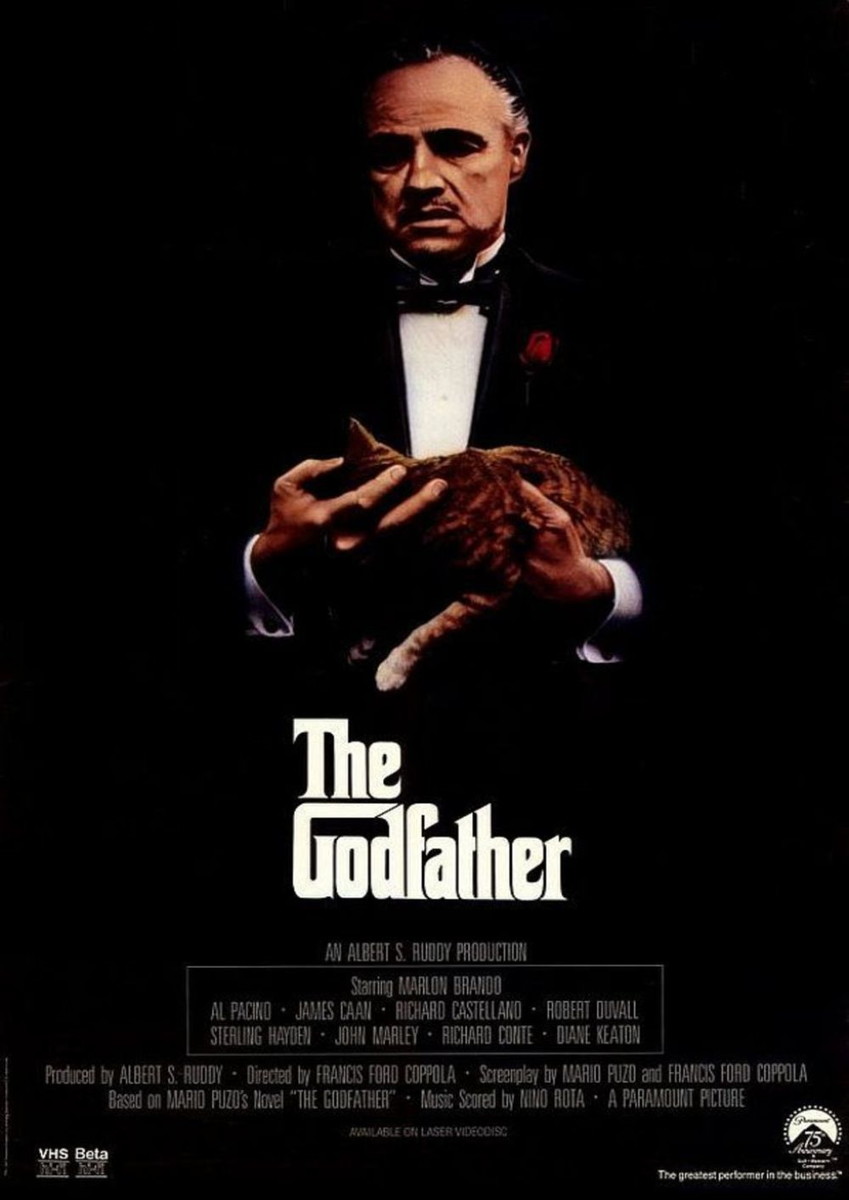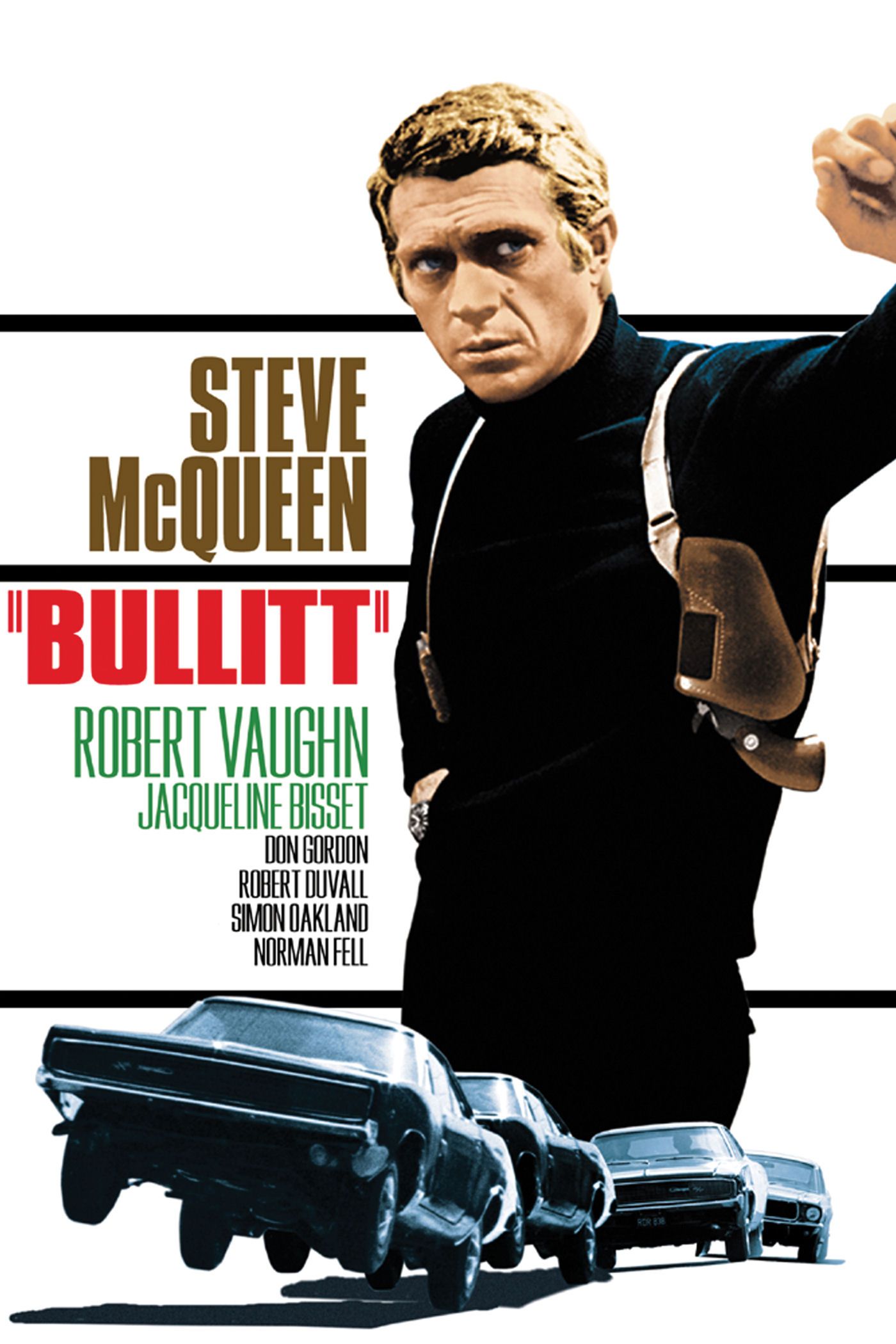
Crítica | Bullitt
Steve McQueen é o tenente Frank Bullitt considerado muito ousado pela polícia para trabalhar num caso de proteção a testemunha. Mesmo assim, Bullitt se mostra o homem certo para a missão certa nas não sem antes provar o seu mérito e conseguir que a testemunha chegue sã e salva para acusar uma organização americana de seus crimes no tribunal. Morta misteriosamente em circunstâncias obscuras num atentado sanguinário, Bullitt encara, então, o azar logo que assume esse caso. E agora o tenente não vai descansar até resolver o caso e achar o assassino – numa roleta russa cada vez mais pessoal e mortífera – pelas ruas de sua cidade ensolarada. Frank é um homem com limites e por mais obcecado que esteja para encontrar o(s) autor(es) da tragédia, não passará por cima de ninguém para isso.
É nisso que Bullitt revela-se: além de uma magistral aventura policial e muito sofisticada, uma obra sobre o código de ética de um homem e o seu martírio para fazer com que ele prevaleça até na pior das situações. Frank tem uma reputação a zelar em São Francisco, mas até que ponto isso vale a pena, custando talvez sua vida e o seu retorno aos braços da namorada? O filme investiga isso nas entrelinhas de uma história que nunca para, tendo, é claro, o seu ápice na espetacular perseguição de carro pelas alamedas da cidade, sem um retoque de CGI, algo impensável na Hollywood de 2021. Os carros, simples e frágeis, deslizam por aquelas ruas como tubarões em alto-mar, resultando num dos momentos mais célebres da história do cinema de ação – Quentin Tarantino a homenageou em À Prova de Morte, em 2007.
Indo além das cenas delirantes, Peter Yates comanda este discreto filme de investigação policial como se segurasse uma dinamite prestes a explodir diante dos nossos olhos. Um fantástico conto de polícia e ladrão à moda antiga, amparado por uma edição impressionante e claramente a frente do seu tempo. Em 1968, não tínhamos nada parecido com o dinamismo revolucionário das sequências de suspense e ação do filme, algo nítido desde os créditos iniciais e no equilíbrio perfeito dos seus elementos cinematográficos. Tido como um dos grandes filmes policiais dos anos 60, e com toda razão, Bullitt é obra antiga que não envelhece. Parada obrigatória para qualquer cinéfilo e/ou fã de McQueen, aqui na pele de Frank, veterano sempre no limite da dignidade e da segurança em nome da honra profissional. E ele não vai dormir enquanto não alcançar quem matou sua testemunha.