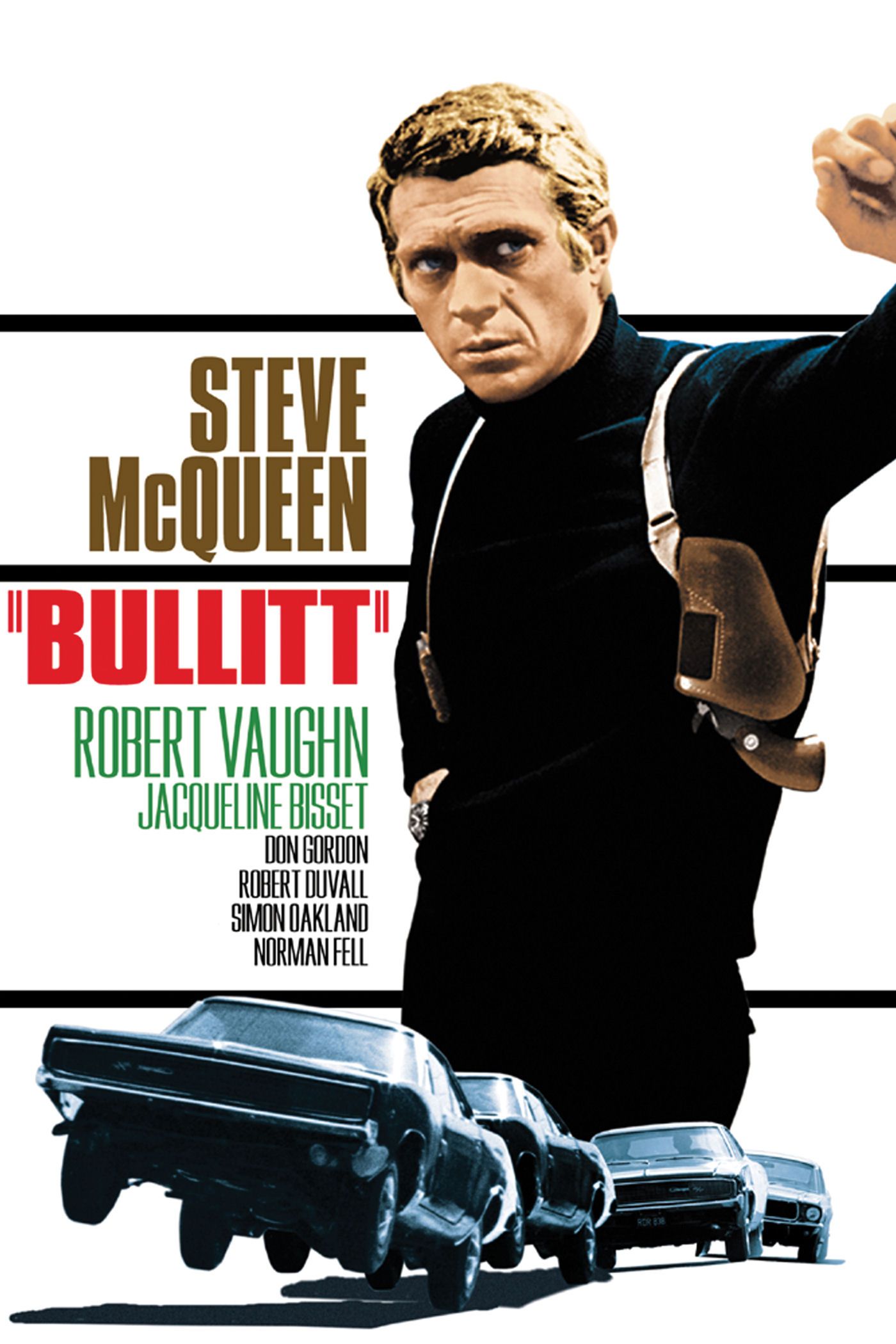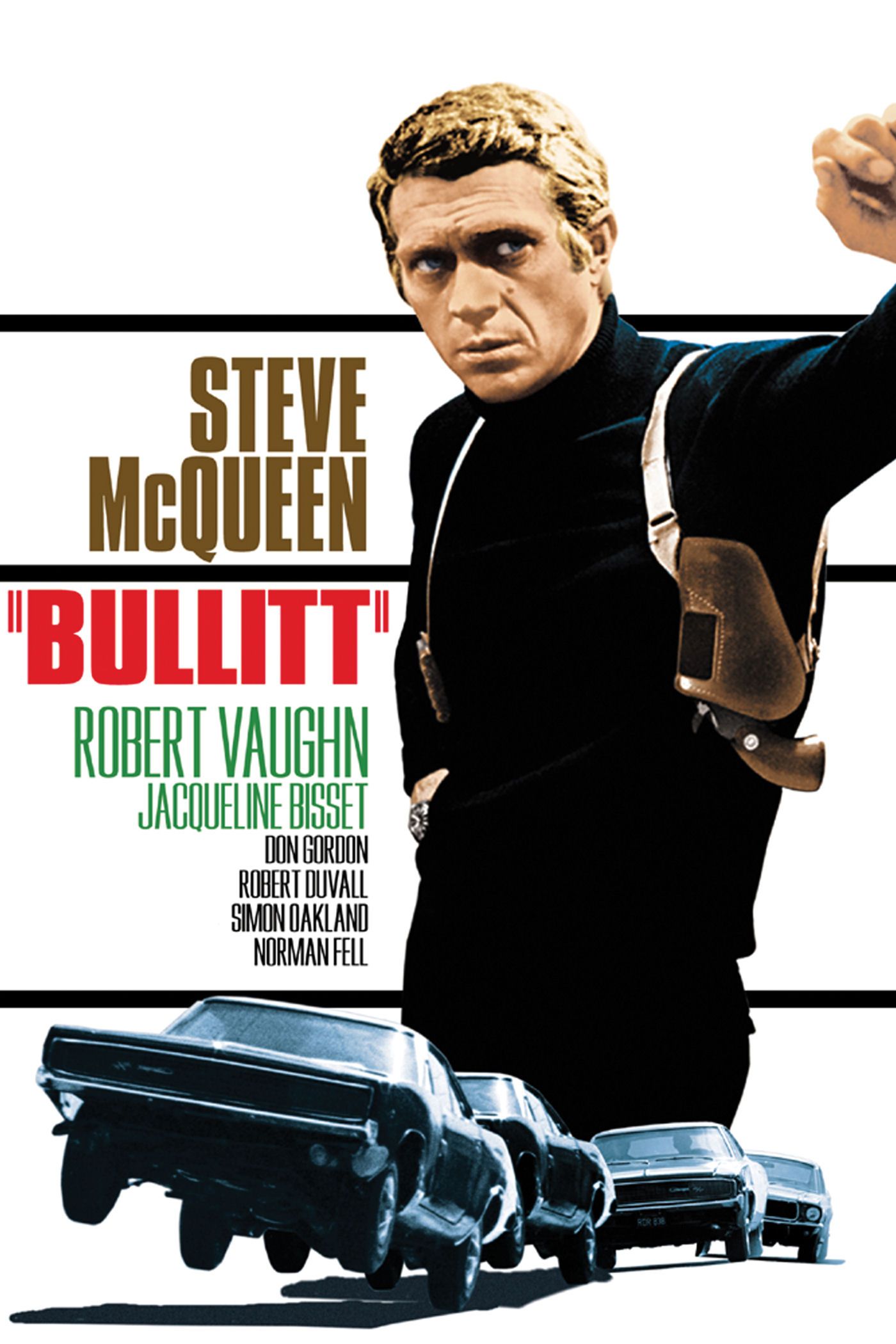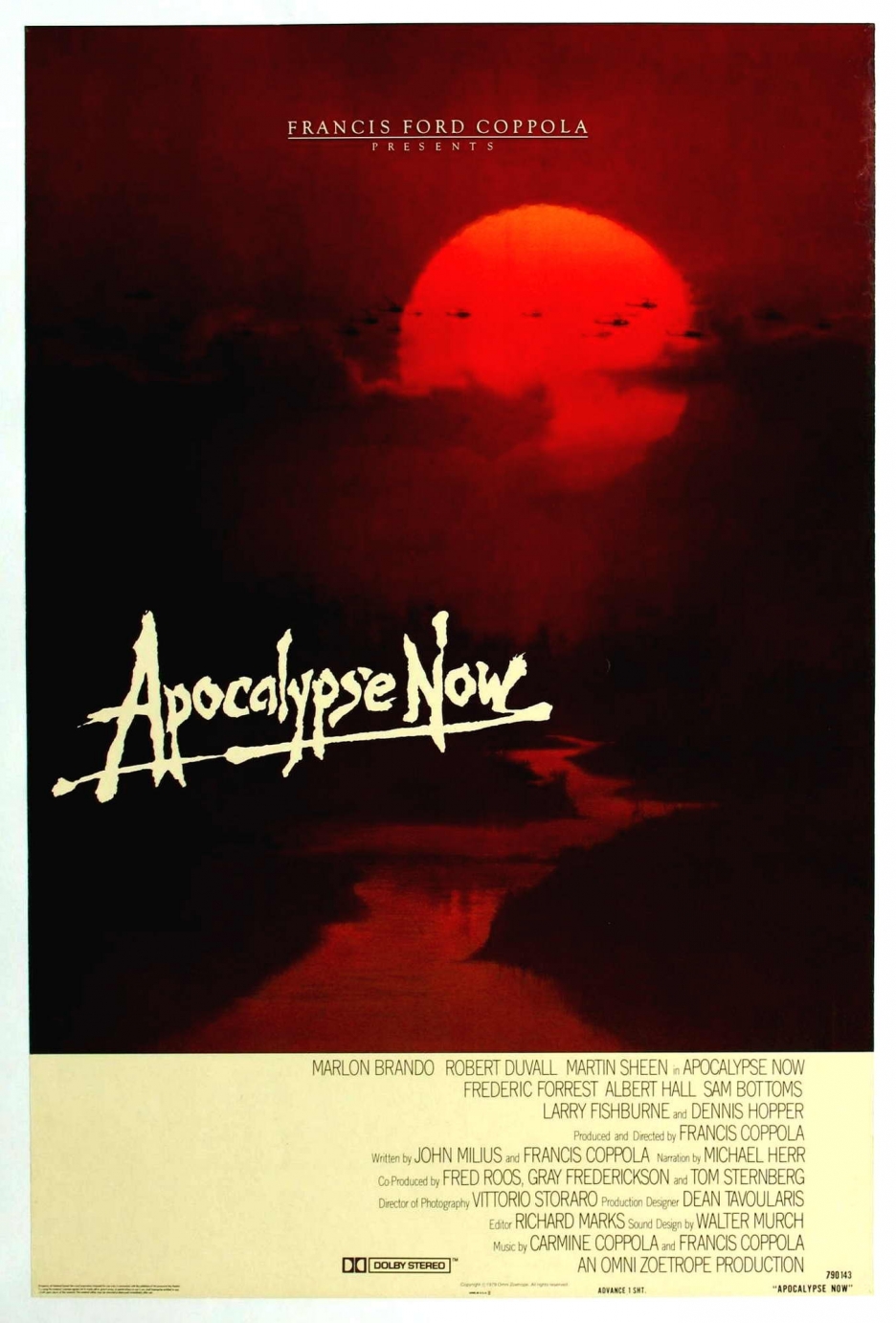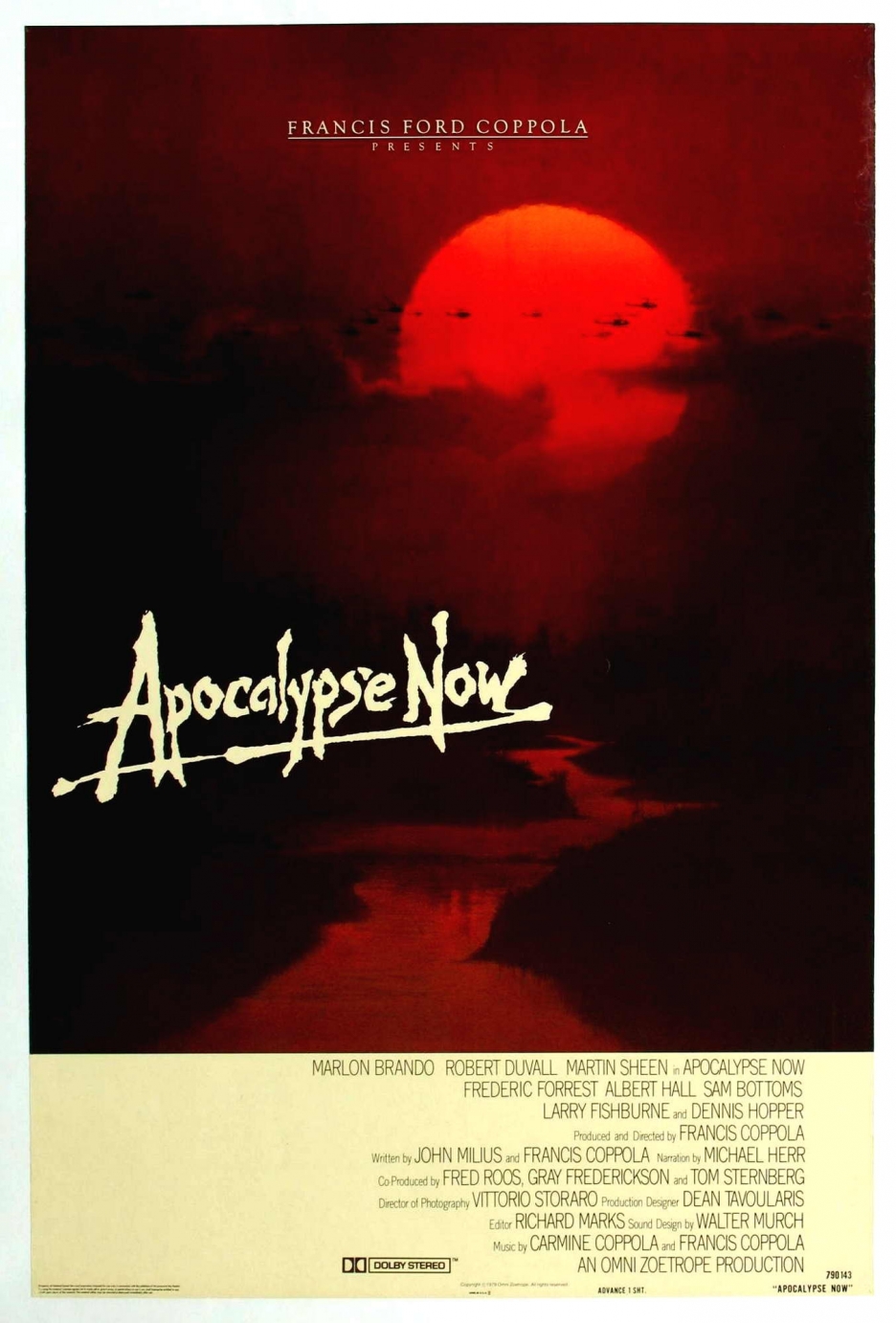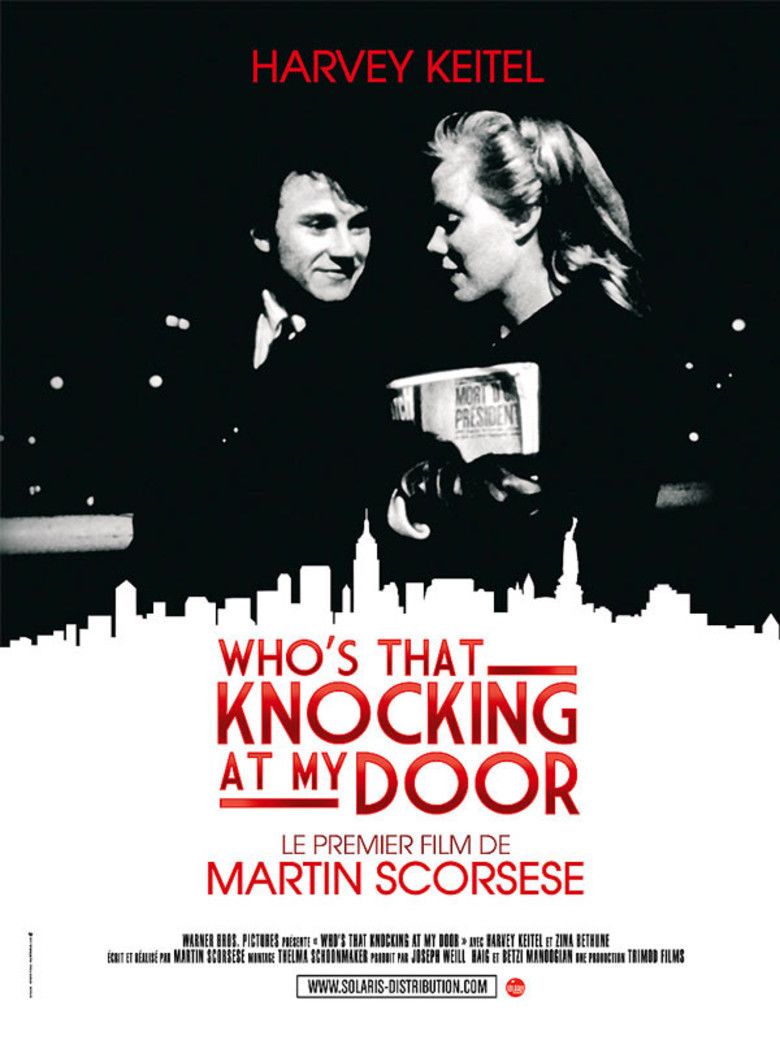Crítica | Os Maridos

Os Maridos é um libelo do cinema da Nova Hollywood, de John Cassavetes. Antes da mostrar o presente dos personagens, aparece uma gravação antiga com quatro amigos meia-idade, que se exibem a beira de uma piscina, bêbados, escondem barriga, fazem pose, mas não conseguem disfarçar uma certa decadência.
São homens comuns, inseguros com sua aparência e brincalhões com os sinais de envelhecimento. Pouco tempo depois, os personagens estão em um funeral de um deles.
A cerimônia de despedida se dá em absoluto silêncio, emulando o inesperado dessa perda. A morte do amigo reúne os três outros, em meio a uma sensação de depressão e trauma por conta da perda. Em crise, os três, personagens de Ben Gazzara, Peter Falk e Cassavetes se embebedam, jogam basquete como quando eram mais novos, e decidem viajar para fora do país sem suas famílias.
O filme tem um espírito semelhante ao de Os Boas Vidas, filme de Federico Fellini de 1953, repleto de atitudes inconsequentes para personagens dessa idade. A percepção da perda de alguém especial faz fortalecer a sensação óbvia de que a vida é finita, e gera neles a necessidade de reviver seus melhores momentos, e em meio as noites de farras, eles pregam peças, agem como adolescentes, fazem traquinagens e demais situações típicas de jovens inconsequentes.
Em meio a essa loucura, eles vão a uma quadra jogar basquete, a conveniência de um cenário fechado não serve só para fugirem do frio, mas também brinca com signos visuais, como quando a câmera corta a parte superior do lugar, deixando de fora do enquadro a cesta, simbolizando então a dificuldade que os personagens têm em enxergar seus próprios objetivos, vivendo então pelo mero acaso. Nem sequer a trajetória da bola tem registro visual, mesmo que o objetivo do jogo seja pontuar no aro, e em última análise, não importa a pontuação, nem plasticidade, um dos personagens inclusive diz que não quer jogar porque o esforço deles não tem recompensa, se demora muito a ter resultado dada a duração das partidas. Para o espectador nem o êxtase da bola ao cesto é dado. Na fala de um deles se nota o porquê de jogar basquete: eles precisavam suar, trocar o óleo sujo de suas vidas, transpirar todo álcool que beberam antes. O esporte é parte da catarse e da busca por essa nova identidade, mas obviamente a questão esportiva é subalterna, faz parte da busca por encontrar sentido em suas vidas vazias.
Os Maridos resume bem como é a vida e rotina do homem comum, que não sabe exatamente quem é e que não consegue se encaixar no pensamento tradicional e conservador. Em meio a trajetória errática, bizarra e sem futuro, os personagens demonstram o apreço pelos seus. Os padrões deste “novo” homem comum são egoístas o suficiente para externar as falhas de caráter expostas, e o filme não possui pudor em mostrar essas falhas humanas, resultando então em um bom retrato da vida suburbana do sujeito obediente ao modo de vida americano.