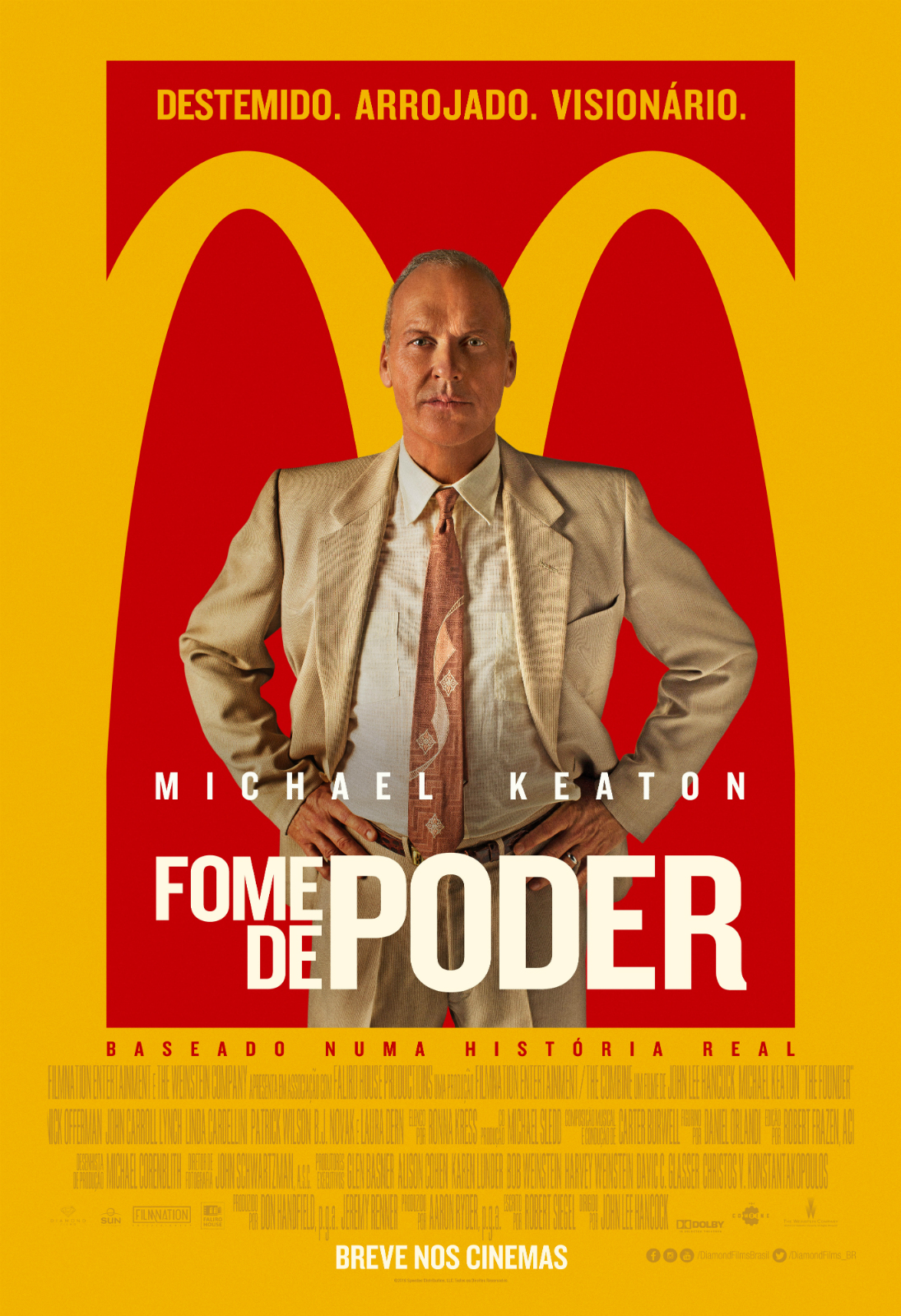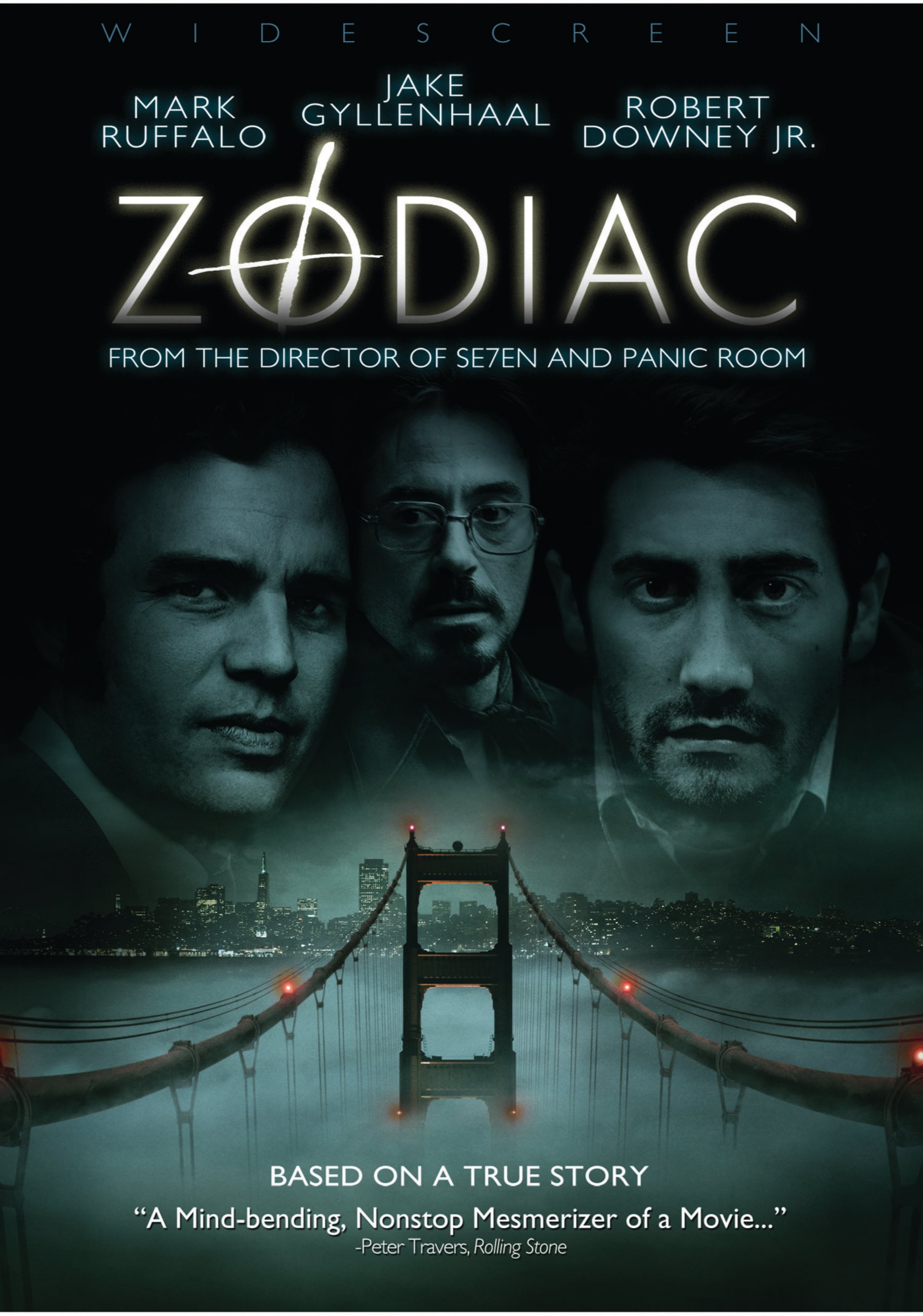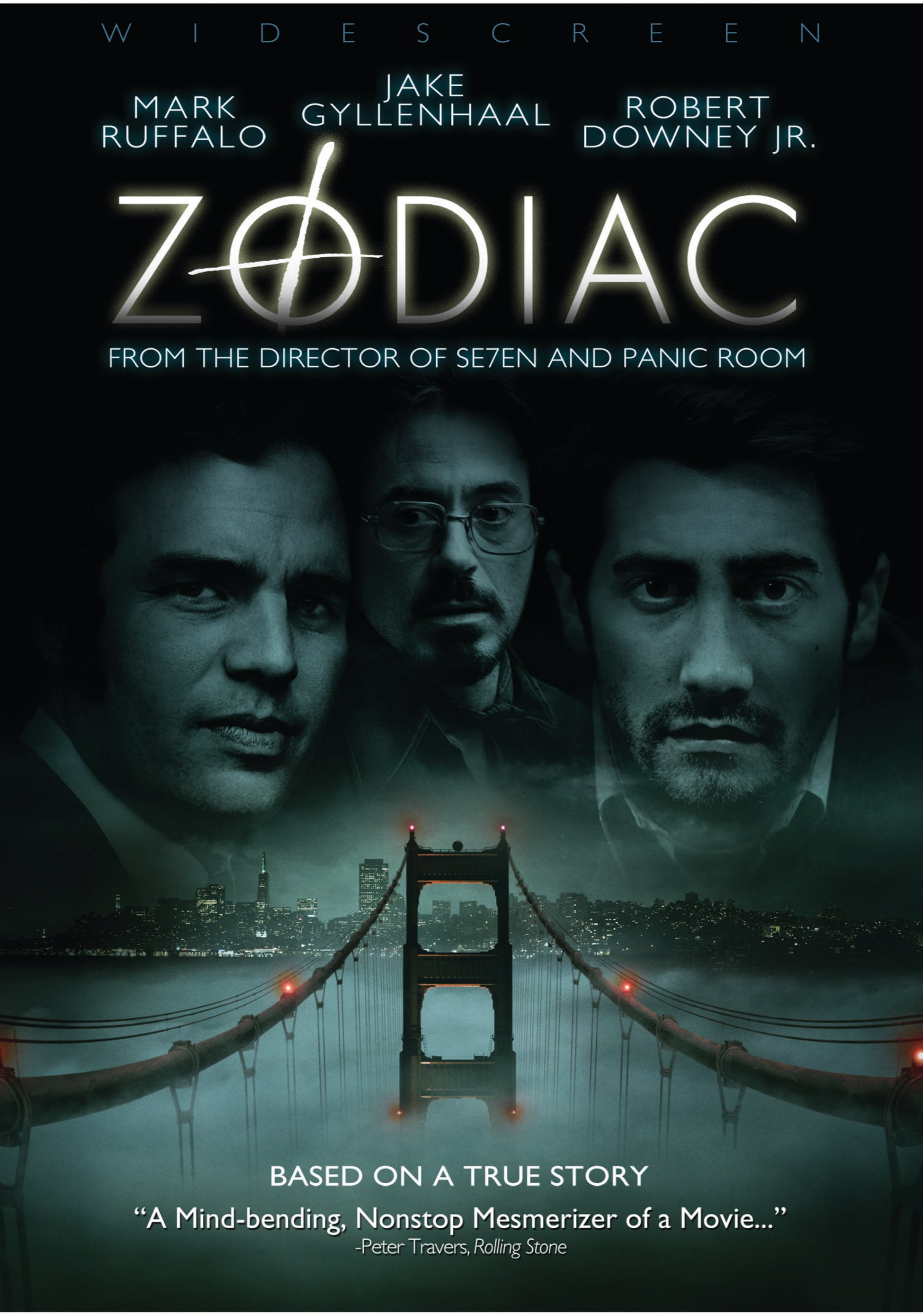Crítica | Os 7 de Chicago

O sistema se alimenta, acima de tudo se protege, e não seria contra sete cidadãos banais e determinados a expor o genocídio de uma população, por um país que atirou tantos dos seus homens para morrer na guerra do Vietnã, que isso poderia ser diferente. O sistema é infalível, e ele precisa passar essa ilusão para as formigas que acordam, o alimentam com seu esforço, dormem e repetem o clico até morrer. Tudo em nome do Deus Sistema. Os 7 de Chicago é uma alegoria a essa sentença indireta para com o cidadão submetido, e como ela foi combatida pela ousadia dos “malucos que querem mudar o mundo”. A utopia almejada é real, ainda que justificável: quando os americanos estavam sendo literalmente jogados no fogo daquelas florestas tropicais, de 1955 a 75, alguém tinha que fazer alguma coisa – além de fumar, e assistir a guerra pela TV.
Peitar o Estado, seus cães de guarda, e antes de serem presos, ser julgados por isso. Mas aqui a arma é a palavra, e isso combina demais com Aaron Sorkin, um dos mais celebrados escritores de Hollywood. Devoto da retórica e do seu poder de sedução, Sorkin é um entusiasta cuja expertise mora no jogo silábico, no bate-boca – discutir com ele deve ser fantástico, até o Tarantino perderia. O cara saber escrever uma conversa melhor que Kevin Feige produzindo Vingadores, mas agora o “salto de fé” é outro: a direção. Aos esquematizar uma Liga da Justiça de 7 integrantes peitando um juiz a favor da sobrevivência de um povo cada vez mais recrutado para morrer, e do direito de escolher do cidadão em participar do massacre internacional, ou não, Sorkin conduz o espetáculo sem a ajuda de um David Fincher para traduzir sua metralhadora de palavras, em imagens vivas.
Isso funciona, mas a direção morna do roteirista não eleva o seu texto, muito inexperiente para construir uma verdadeira tensão, mesmo que lhe dê ritmo, realismo e consistência com uma boa encenação coletiva, e uma razoável montagem. Seja como for, enquanto filme de tribunal, Os 7 de Chicago usa e abusa de fantásticas referências jurídicas do passado para atualizar e atrair as novas gerações, ao charme do subgênero de promotores, réus e advogados. Difícil imaginar outra pessoa melhor que o Sorkin para escrever essa história original, mas dá saudades de um Fincher na direção, mesmo que o roteirista de A Rede Social brinque bem de Otto Preminger (Anatomia de um Crime), e Sidney Lumet (12 Homens e Uma Sentença), dois dos seus principais ídolos da era de ouro de Hollywood. A renovação não funciona por completo, mas o filme fica entre os melhores da Netflix, numa seara de aventuras débeis.
Senão pela tímida construção cênica, total falta de visão estética (é incompreensível como o filme foi indicado a Melhor Fotografia no Oscar 2021), o filme vale pelas boas atuações, em especial a de Sacha Baron Cohen, um poço de carisma como o protestante que não tem nada a perder, e a de Joseph Gordon Levitt, na pele de um jovem promotor escolhido a dedo para fazer o Estado ganhar a causa – custe o que custar. Ele se protege, o império, mas a Liga dos 7 atrai a sociedade civil para representá-la, também, além dos repórteres e suas câmeras, famintos ao farejar o impacto do processo judicial. Uma pena que Sorkin não dialogue sobre a importância da mídia e da liberdade de expressão, numa situação dessas, e mesmo que o diretor não consiga nos instigar como poderia em torno do caso, eis um evento histórico que precisava ser bem contado, e de fato é. Porque nunca é demais se lembrar da importância da democracia, e dos “loucos” que a fazem resistir, de tempos em tempos.