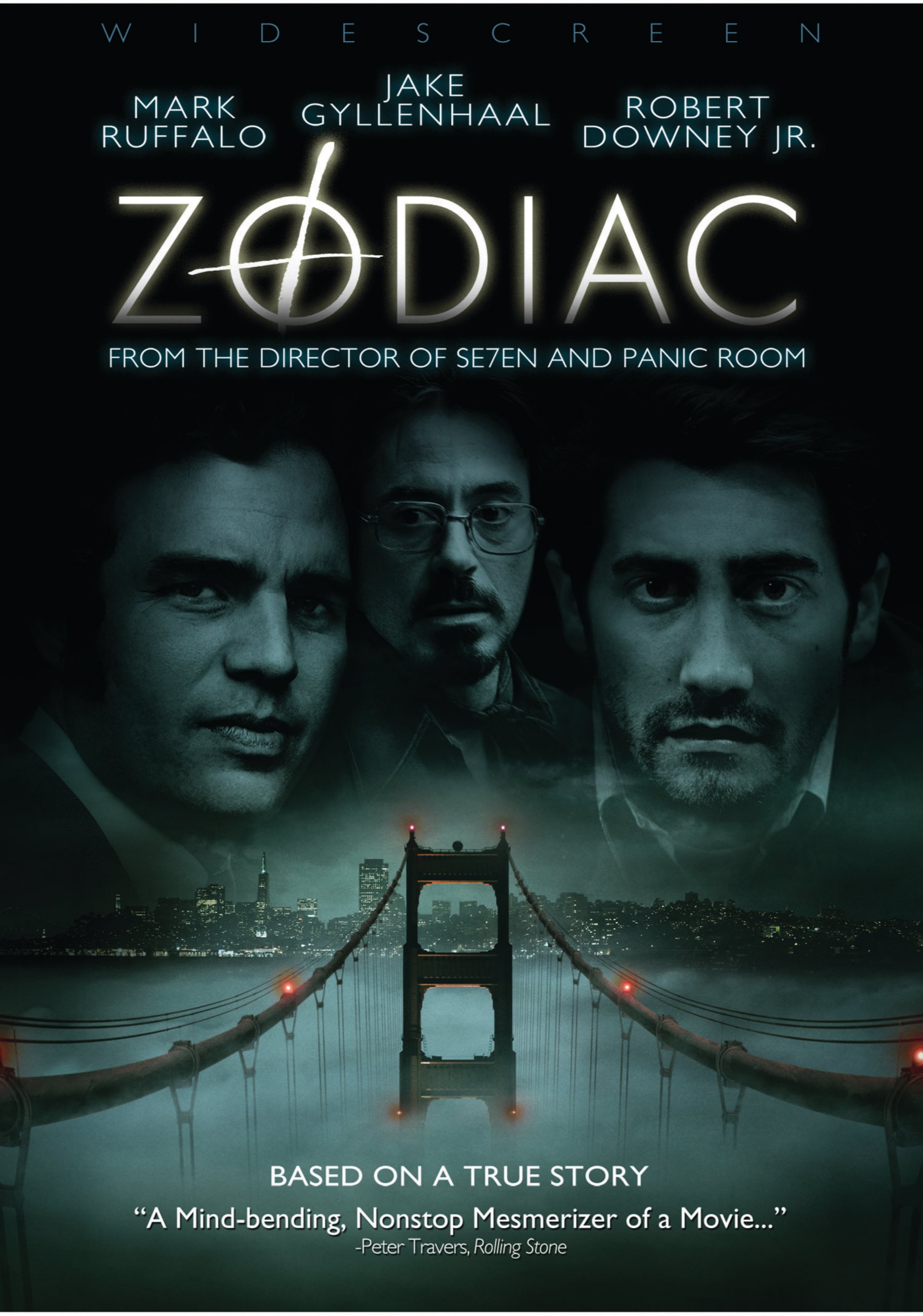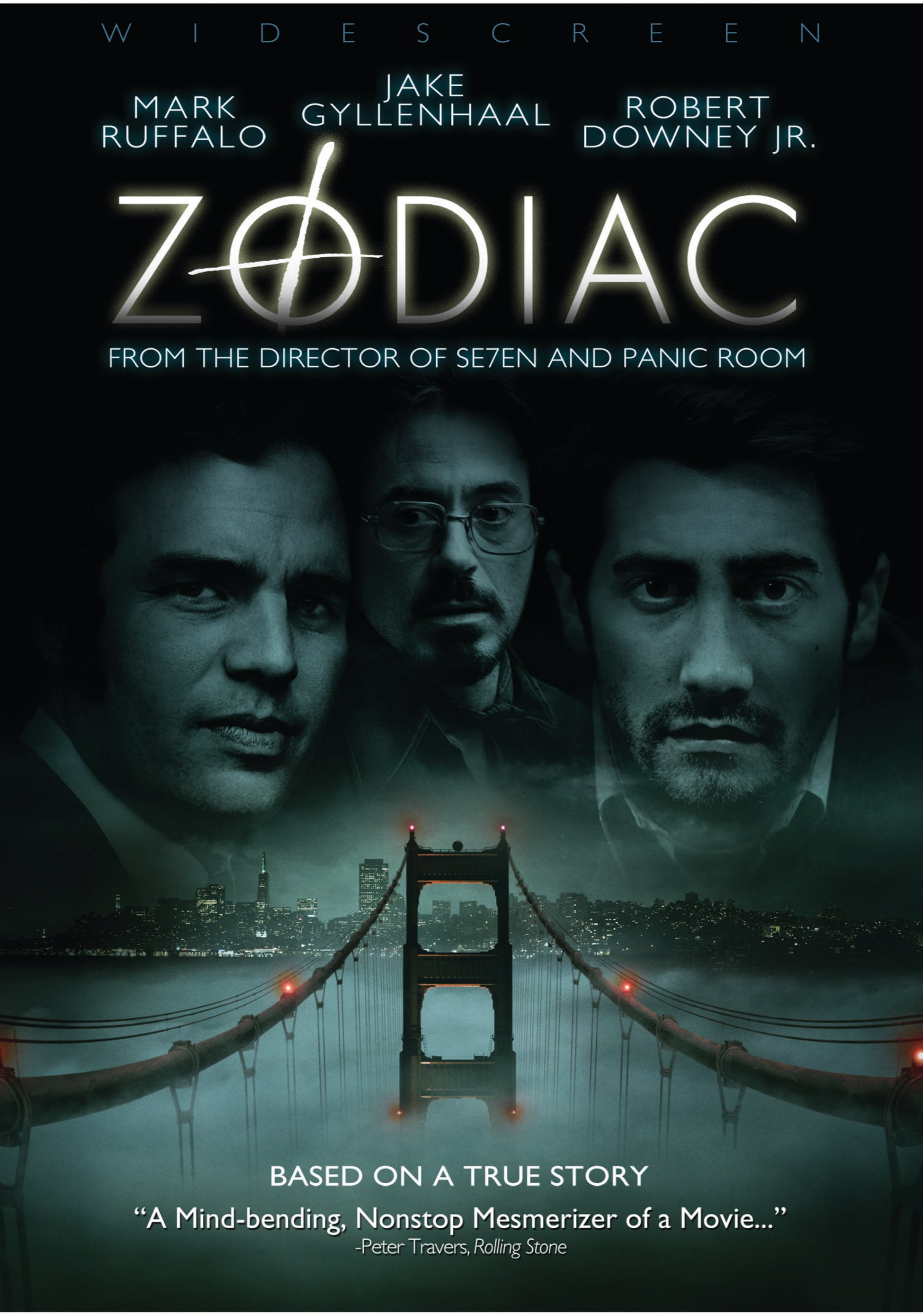Crítica | S1m0ne

O início de S1m0ne, segundo filme do diretor Andrew Niccol se dá com cenas naturais, acompanhadas de uma música incidental belíssima, composta por Carter Burwell. Não demora a aparecer o obsessivo Viktor Taransky, um produtor comercial pilhado e sempre estressado vivido por Al Pacino, que em um primeiro momento, tenta controlar uma espécie de transtorno ligado ao TOC, separando jujubas e delicados em uma vasilha sem motivo ou razão aparente alguma. Dentro de seus pequenos dramas, ele tem que também lidar com o ego de artistas mais renomados, entre elas Nicola Anders (Winona Ryder), uma super modelo que desiste da campanha que ele faz.
Viktor é um homem genioso, já foi nomeado ao Oscar pela direção de dois curta metragens seus, e o roteiro de Niccol resolve todas essas referencias em um espaço curto de tempo, entre a exibição de um dos cortes da propaganda e uma conversa entre ele e sua colega de produção, Elaine Christian (Catherine Keener) e é nesse ponto que ele percebe o fundo do poço, sendo despedido após mais um fracasso em sua carreira, mas apesar da melancolia, ele segue tentando parecer altivo.
Niccol utiliza muito bem as cores. A desculpa de passear por estúdios propicia que os tons esverdeados e átonos sejam justificados como uma alternativa lógica e essa tonalidade que lembra o movimento de vômito ajuda a compor todo o quadro tragicômico de desespero e de aceitação que o protagonista tem junto a Hank Aleno (Elias Koteas). Um homem sem alternativas é mais suscetível a trabalhos de gosto e origem duvidosos.
Há toda uma aura fantasiosa por trás do que ocorre após a morte de Aleno, o realizador recebe uma encomenda misteriosa, abre no computador, vê uma figura feminina feita por Rachel Roberts, e então chega com o filme de Valerie pronto, deslumbrante. Os momentos de Pacino aqui são de uma entrega absurda, ele faz o experiente e inseguro artista. A cena em que ele está refletindo desesperado no banheiro emula bem a jornada de conhecimento da causa do Mr. Anderson em Matrix, parece até que a tomada foi feita pelas irmãs Watchowski de tão fidedigna que está a aura, e isso não é um demérito para Niccol, até porque não se sabe se sua intenção foi referenciar isso. De todo modo, o exercício se assemelha muito a especialidade de Quentin Tarantino, de pegar uma tomada X de um diretor clássico, mudando seu significado.
O conceito de Complexo de Frankenstein que o escritor Isaac Asimov tanto criticava dá conta do uso da robótica como algo necessariamente vil, e o que se vê aqui com a inteligência artificial denominada Simone é bem a gênese do que poderia ser isso, levando em conta inclusive o pontapé da ganância humana como estopim para essa possível revolta, embora a intenção do filme passe longe disso. Aqui se fala do vazio da alma humana, da falta de escrúpulos e do uso da imagem de terceiros visando lucro, inclusive da parte dos que se julgam explorados e subestimados. As ações de Viktor não são livres de vis intenções, ou de desonestidades, ele surfa bastante nessas ondas e lucra com tudo isso.
Pacino faz esse personagem cair no pecado que outro de seus personagens famosos da época provocava: a vaidade. Em O Advogado do Diabo, o ator fazia o Diabo, e seduzia as pessoas através de seu ego. A falha de Taransky é exatamente essa, a tentativa de esconder Simone dos holofotes só aumenta a expectativa em torno dela, e faz até seu desejo de ser encarado como o único com méritos positivos em seus filmes cair em um mar de irrelevância. Todos só querem saber da atriz, mesmo que ela seja um fantoche nas mãos digitais de Viktor.
A dúvida que fica é, quem domina quem, pois as poucos, o personagem que era apenas um contador de historias se torna Relações Publicas, montador, ator, tudo para emular a atriz perfeita, que não tem escolhas próprias. Aos poucos, ele se torna refém de suas mentiras, e o quadro evolui tanto que se torna algo mitômano, a segunda hora de filme mostra todo o malabarismo do personagem masculino tentando não só emular o comportamento comum de uma mulher estrela, mas também toda sorte de eventos pitorescos para que ele possa ter uma vida amorosa saudável, ou algo que o valha, e não importa o que ela faça, ou como haja, há sempre quem a defenda e o comentário sobre a sociedade do espetáculo é muito mordaz e certeiro.
Ao contrario do que os cartazes e material promocional de S1m0ne fazia acreditar que o personagem de Pacino se apaixonaria pela figura cibernética, mas isso não ocorre de modo carnal, e sim como fonte de uma fama que ele jamais teve, e que sempre jogou como merecida a si. Se livrar dela provou-se algo praticamente impossível e o final surpreendente fecha bem a historia, mostrando que o pragmatismo e vontade de manter o status quo poderia ser maior que a necessidade de uma lição moral, e Niccol sabe conduzir bem todas as questões envolvendo vaidade, luxuria e cobiça presentes na vida e clara na trama que pensou para este longa.