
O Desfecho de Mad Men
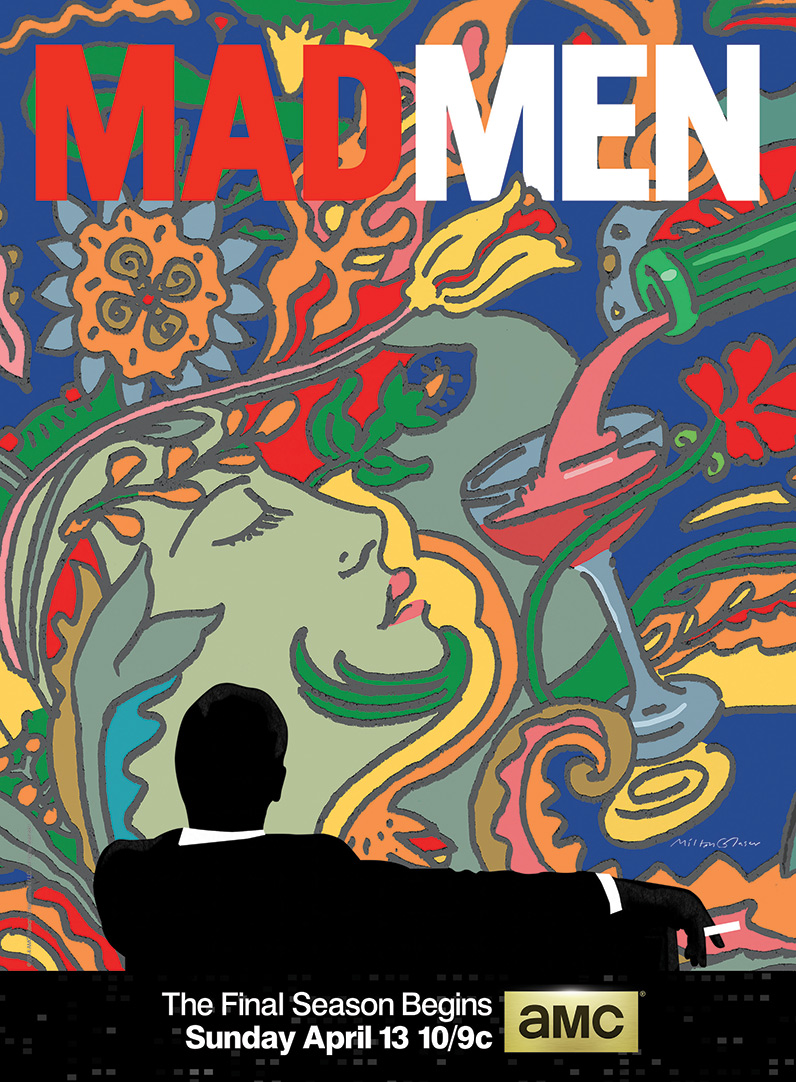 Um Corpo que Cai e Intriga Internacional, David Carbonara e sua mina de ouro tocam pela última vez e fazem aqueles 30 segundos abrirem o último episódio de Mad Men.
Um Corpo que Cai e Intriga Internacional, David Carbonara e sua mina de ouro tocam pela última vez e fazem aqueles 30 segundos abrirem o último episódio de Mad Men.
Como começar melhor o fim do que lembrar o espectador que já estamos nessa estrada há quase 10 anos? Basta, após os créditos, encararmos um deserto e, à la Mad Max, o barulho ensurdecedor de um carro dirigido por Don Draper, de capacete e óculos. O próprio personagem nos recorda da conversa com sua filha dizendo que tudo passou rápido demais. Depois de encerrar 2014 com a cena mais inesperada e, provavelmente, uma das mais belas na história das produções pra TV, o último episódio de Mad Men se concentra exclusivamente em não parecer o fim de nada, e apenas mais um episódio muito bem executado como todos os outros.
Matthew Weiner volta para continuar cavando o buraco que abriu dirigindo e roteirizando. Temos pequenas jóias de diálogos entre amigos que parecem não se ver ou se encontram na mesma frequência de tempos anteriores em algumas passagens do episódio. Aquelas três pessoas, que começaram como coadjuvantes do grande diretor de arte da Madison Avenue, agora possuem algo próprio, apesar de não tão grande, e fizeram tanta presença nessa história quanto ele. São bons amigos agora, estão longe uns dos outros e vão continuar assim daqui em diante.
Ken e Joan nos relembram novamente sobre o dinheiro. Ele sempre estará ali. Foi o dinheiro que traçou o caminho de todos, retornando eventualmente como prioridade. O Dinheiro pra Joan é o respeito de poder trabalhar com o que quer, de estabelecer seu nome e não precisar estar na sombra de ninguém, um preço que aceita sem hesitar. Para Peter foi finalmente a chance de reconquistar Trudye, largar toda a estrada que consequentemente resultou no seu divórcio, mas que, ainda assim, deixa boas memórias pra trás.
O trabalho é o corpo dessas pessoas; não o fazem pelo dinheiro, mas pelo hábito. Não interessa se algo não se encaixa ou se tudo não se encaixa mais: simplesmente é necessário fazer. Um processo quase mecânico, assim como precisar de dinheiro. Peggy reflete muito bem essa faceta do trabalho durante a série, e curiosamente é Joan e ela que se mostram mais viciadas no que fazem antes de qualquer outro.
Mas antes de olhar para trás, Sally e Betty nos lembram de que tudo que está acontecendo agora vai continuar acontecendo também daqui pra frente. Faz parte do grande abismo que essas pessoas viveram no decorrer de cada temporada (não podendo faltar um ultimo “What?”). Ninguém, de fato, nunca está ou esteve bem por muito tempo, mas ainda assim há espaço aberto para vermos Peter e Trudy como um casal prometido e feliz a caminho de seu jatinho particular. Certamente, se ele irá seguir pelo caminho de Don como pessoa, como já havia feito algumas vezes, é incerto, mas foi um final feliz.
E o Don? Não é a primeira vez que vai embora aleatoriamente para qualquer lugar. Repetir o mesmo processo há mais de 20 anos não deve ser simples, muito menos mecânico. Mais uma vez com outra mulher e outro problema que irá corroê-lo por dentro da mesma forma como qualquer outro problema. Don é a pessoa que mais tenta juntar pequenos pedaços de um todo desfeito há muito tempo. Poderíamos esperar qualquer coisa menos um retiro espiritual como opção para acabar com sua decadência contínua.
De todos, ele é o único que precisou encarar tudo o que representa e faz esse exercício todos os dias naquele lugar com sua própria imagem refletida na vida de outra pessoa. Precisou ver o abismo de outros e se prender ao próprio abismo sem beber ou fugir (de novo). Encarar que é um péssimo pai e que nunca irá fazer parte importante de uma família que ele já teve ao seu lado, a qual hoje não existe mais. É triste pensar que sua última conversa com Peggy foi uma carta de confissão, quase como um suicídio. A sensação de que algo ruim estava por vir é cortada de maneira sobrenatural pela declaração de amor de Stan por Peggy. Sem nenhum tipo de preparação, com a própria Elizabeth Moss cortando o clima da declaração, mostrando que aquilo está completamente perdido no meio de tudo. e daí lembramos: é o ultimo episódio.
Com o tempo quase esgotado, vemos Roger e Marie finalmente juntos (quem sabe até o fim dessa vez), e passamos por todos os outros personagens novamente, cada um mais distante do outro e certamente com os mesmos problemas de sempre. Don finalmente aparece, em seu estado mais zen já antes visto. O som de tudo cessa e a meditação ilustra ordem e controle de todo aquele abismo que ele se encontrava, porém um sorriso aparece. Ele finalmente conseguiu se dividir da sua pior parte? Ele voltou a trabalhar e aquela propaganda da Coca-Cola é de sua autoria? Não saberia dizer, mas é certo que algo ali mudou, pelo menos em parte.
Se pudesse chutar, diria que o episódio 7 encerraria o programa de forma que não pudéssemos pensar em nada disso. Mas, ao mesmo tempo, seria uma lágrima no final das contas, e não um sorriso curioso que encerraria uma das maiores produções na história da TV. Sentirei falta de pensar no que ele poderia ter sido.
–
Texto de autoria de Halan Everson.


















