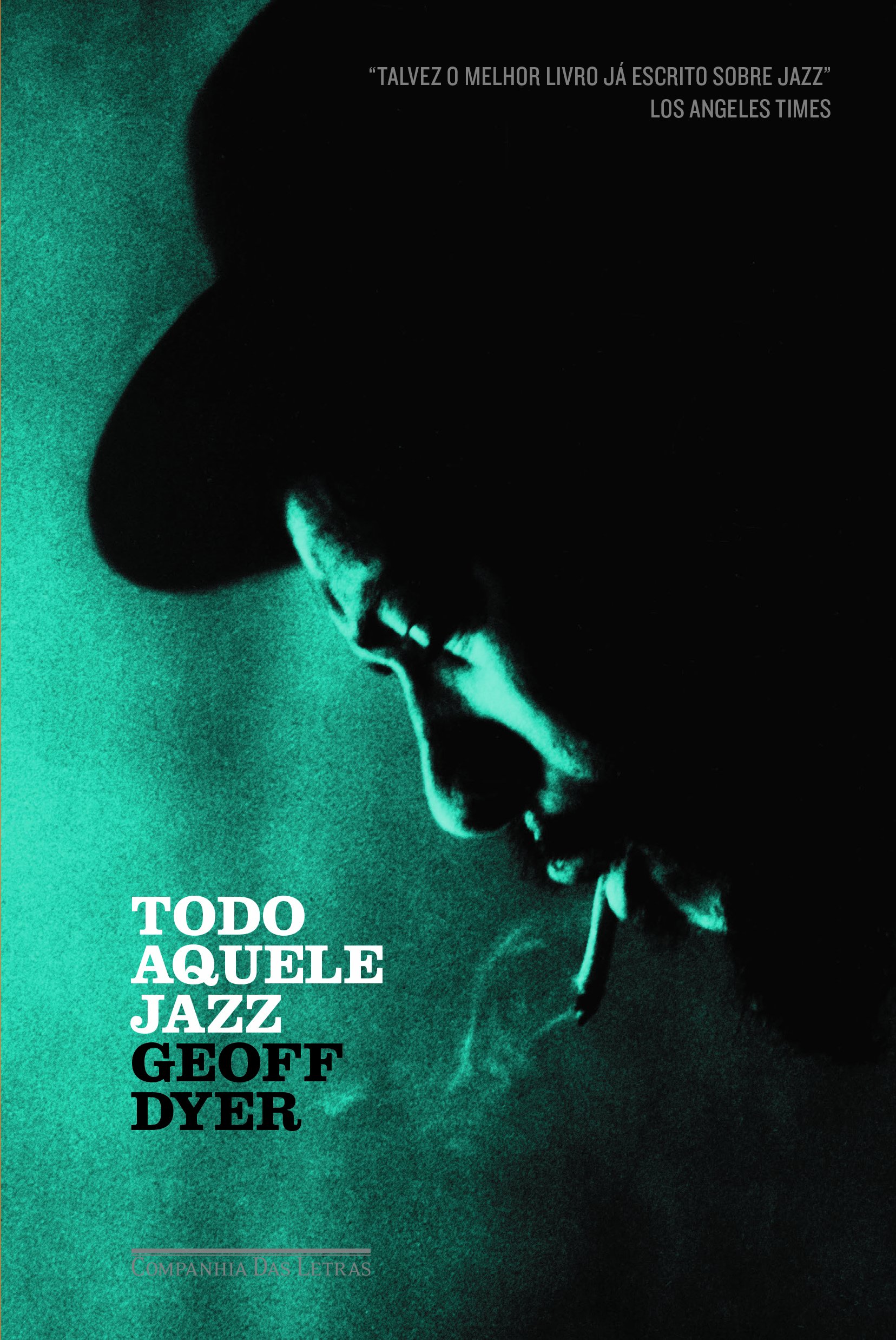
Resenha | Todo Aquele Jazz – Geoff Dyer
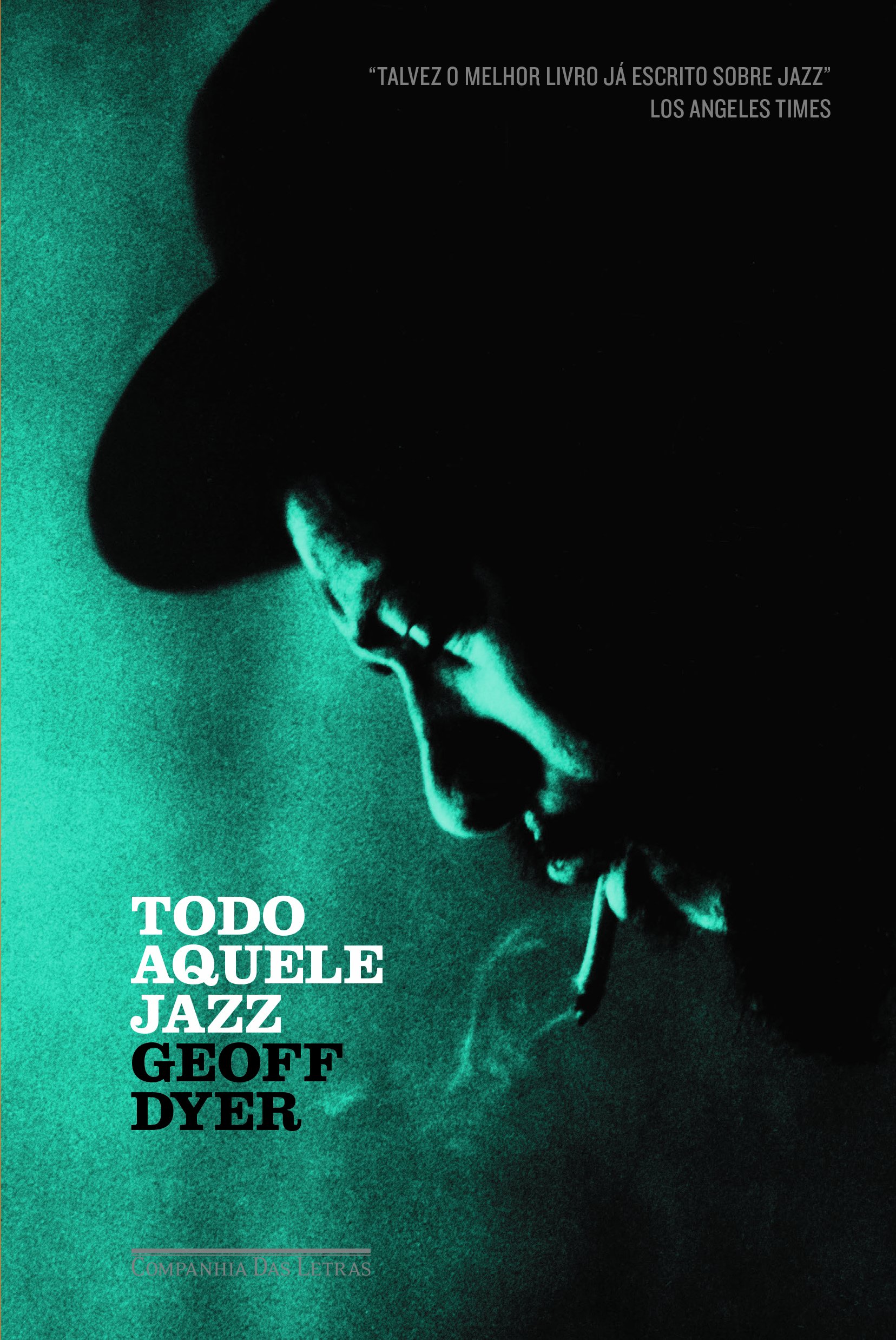
O jazz e o blues foram gêneros musicais que ultrapassaram barreiras e se tornaram instrumentos importantes de contestação social, principalmente no que tange os direitos civis dos norte-americanos. Os negros incorporaram toda a discriminação racial e a opressão política das classes dominantes em sua música, como um agrupamento de minorias contra um sistema segregacionista.
Este cenário, pouco a pouco, cedeu lugar a outros gêneros, principalmente após o aparecimento do movimento de contracultura, onde principalmente o rock passou a ser o grito de rebeldia contra o modelo de sociedade da época. Contudo, o jazz nunca perdeu seu viés político e social como ferramenta de mudança.
Em formato narrativo ensaísta, que permite maior liberdade, Geoff Dyer utiliza o jazz como plano de fundo para tecer suas histórias sobre a trajetória de alguns monstros do gênero. A concepção de Todo Aquele Jazz denota a originalidade da escrita do autor, fazendo uma mescla de biografia com ficção como pontapé inicial para a criação de seus ensaios. Utilizando fotos históricas dos músicos citados no livro, propõe a imaginação do que o estilo representava pra ele. Se o jazz extrapola fórmulas e improvisações ao longo de um pequeno tema central, por que não extrapolar a imaginação e ficcionar histórias em torno de uma fotografia?
Todo Aquele Jazz começa de forma intercalada. No primeiro momento acompanhamos uma viagem de carro de Duke Ellington e seu saxofonista, Harry Carney, a um show. Ao mesmo tempo somos transportados a outros personagens e depois retomamos à estrada com Ellington e Carney.
Dyer define o jazz como uma busca para encontrar seu próprio som e uma maneira de torná-lo diferente dos demais. Ao retratar o saxofonista Lester Young em um capítulo exclusivo, o autor evidencia a necessidade do músico de soar diferente a cada execução de sua música. Como um movimento único em contraponto com a época em que viveu no exército, observou a repetição como modelo, seja nos uniformes, cortes de cabelo, postura, assim como no modo de pensar, tornando todos iguais. Como o jazz, Young nunca se enquadrou em um padrão. Sua espontaneidade está distante de qualquer sinal de uniformidade.
No capítulo dedicado ao saxofonista Ben Webster, Dyer escreve:
“(…) Já houve quem definisse o sentimento como emoção barata, mas isso não se aplica ao jazz. O jazz torna automaticamente necessário ganhar a emoção, porque é dificílimo tirar do saxofone um som tão suave, manter o suingue e fazer com que o sax arranque lágrimas de seu coração. Se você está fazendo jazz, está automaticamente pagando pela emoção; quem conhece a história da música sabe o que isso quer dizer. Quando Ben toca um blues ou “In a Sentimental Mood”, entende-se como é irrelevante aquela velha ideia de sentimento barato. Ele nunca se torna meloso, porque, por mais suave que fosse seu som, lá estava sempre o urro, oculto em algum lugar.”
A discriminação racial é um ponto bastante abordado no livro, já que boa parte desses músicos, negros, viveram em um regime extremamente segregacionista até o final dos anos 60, nos Estados Unidos. Em uma passagem, Mingus, ativista dos direitos civis dos negros, está em um tribunal e é chamado de músico de jazz por seu advogado. Imediatamente, ele o mandou se calar, dizendo: “(…) Não me chame de músico de jazz. Para mim, a palavra ‘jazz’ quer dizer crioulo, discriminação, cidadãos de segunda classe e todo o lance de ficar no fundo do ônibus”.
O retrato dos músicos é sincero, repleto de dramas pessoais e degradações que culminarão em um fim triste e precoce. Drogas, discriminação racial, doenças mentais, violência, problemas com as autoridades, são partes de uma história maior. Como o citado temperamento explosivo de Mingus; a solidão de Ben Webster; a destruição psicológica de Bud Powell; como tantos outros casos de degradação, mas também de genialidade. A respeito, Thelonius Monk dizia que “(…) o jazz sempre teve esse lado, o músico ter um som que é só dele, e por isso existe um monte de gente que talvez não tivesse sucesso em outras artes… porque teriam encoberto suas idiossincrasias… (…) No jazz podem ser gênios, sem ele não seriam nada. O jazz pode ver coisas, pode arrancar das pessoas coisas que a pintura e a literatura não veem”.
A construção de época, assim como todo o retrato do gênero, seus músicos e o que cada um representava não só musicalmente, mas também socialmente, são pontos bastante abordados na obra de Dyer. No capítulo dedicado a Art Pepper e sua prisão, o autor exemplifica todo o sentimento de um jazzista ao realizar uma improvisação como algo muito além de notas tocadas dentro de um campo harmônico, mas como um grande salto em torno de canções românticas, gritos de revolta ou um gemido de desespero. No caso de Pepper, Dyer deixa claro que seu solo era nada, algo que não é superior a dignidade, amor-próprio, orgulho ou amor, mas que é mais profunda do que esses valores, mais profunda do que o espírito: a simples capacidade de recuperação do corpo.
Dyer nos ambienta em cada nota desse universo musical marginal do bepop, compondo cada detalhe de um grande solo. Sua narrativa, assim como no jazz, não perde o ritmo, mostrando que aprendeu bem com Monk, o qual sempre dizia que o fato de você não ser baterista não quer dizer que você não possa suingar. Todo o fato de ser baseado em fotografias, cenas de documentários, anedotas, e outros materiais não tão habituais e acadêmicos para compor uma biografia, dá o tom do que o autor queria: uma grande improvisação literária sobre o jazz. Um belíssimo trabalho.
* Escrito ao som de Every Time We Say Goodbye, de Chet Baker.



