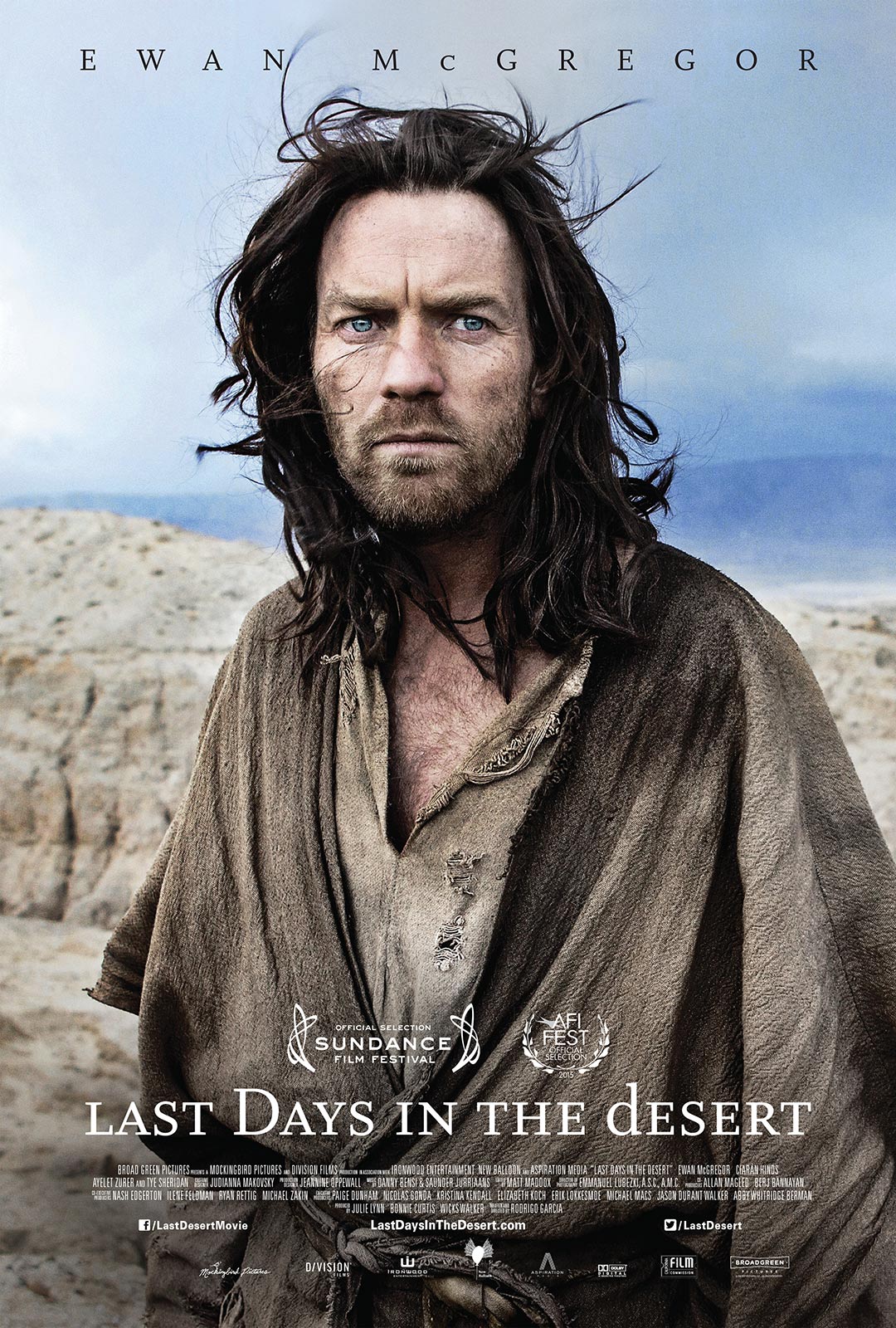Crítica | A Vida de Brian

O nonsense, enquanto categoria de humor, foi reinventado pelo Monty Python. A Vida de Brian (1979, no original inglês Life of Brian), escrito por Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Terry Gilliam e Michael Palin, com direção também de Terry Jones, é outro filme da companhia britânica que explora o inusitado, o absurdo, o sem sentido, enquanto conta a trajetória de um galileu. Contudo, ao invés de contar o martírio de Jesus, acompanhamos a trajetória de Brian, um cidadão da Galileia que nasceu na mesma data e horário do Filho de Deus.
Para que este texto (ou o filme) não seja mal interpretado como uma sátira da religião alheia, transcrevo algumas frases de Eric Idle, um dos Pythons, sobre qualquer tentativa de associar o filme a ridicularizarão cristã. “Ele (Jesus) não é particularmente engraçado. O que ele diz não é motivo de piada, são coisas muito apropriadas”. Dito isso, o longa conta a odisseia de como o vendedor de quitutes do “Coliseum da Galileia” se tornou líder religioso e foi crucificado.
O filme é uma sequência de situações cômicas (sketches) da vida do personagem principal e daqueles que orbitam ao redor dele. Dessa forma, temos múltiplos dramas explorados. Logo no começo somos apresentados à Frente de Libertação da Galileia, um movimento popular que deseja chutar os romanos para fora da cidade, ao qual Brian se alia por ódio aos colonizadores. Os romanos, por sua vez, são liderados por César, um imperador com problemas para pronunciar certas consoantes (e de entender trocadilhos nos nomes).
Combatendo pela Frente de Libertação, Brian resolve se disfarçar como profeta para passar despercebido pelos romanos. O estratagema dá certo, mas as massas começam a suspeitar que mesmo aquele palavreado incoerente guarda algum tipo de salvação. Não demora muito para que ele angarie seguidores e se torne o novo Messias da Galileia. A escalada dos eventos discute como as pessoas, muitas vezes com liberdade cerceada e carentes de líderes representativos, por vezes aguarda um salvador, mas este é apenas uma farsa (nesse caso, uma comédia).
Brian e sua mãe começam a ser cultuados como milagreiros e libertadores com uma fila de alienados seguindo-os. Ele esquece o objetivo principal (acabar com os romanos), e começa a sofrer as consequências por ter sido o líder das multidões. O que foge à explicação, cabe ao nonsense. Piadas certeiras, humor com trejeitos impecáveis, e uma diversidade de personagens, que, mesmo com os atores principais da companhia se revezando entre dezenas deles, têm, cada um, um toque de vivacidade impressionante.
Nonsense é um gênero que divide facilmente o público. Ou você gosta ou não, não têm muitas pessoas no meio termo. Enquanto expectadores ficam se perguntando o motivo da situação absurda ou do desfecho ilógico da sketch, o apreciador do gênero se delicia com o inesperado rumo das ações. As situações ficam colossalmente inusitadas (ou ridículas) e qualquer tentativa de encontrar lógica naufraga frente o humor despropositado e sem sentido. A lógica é não ter qualquer lógica.
Curiosamente, o longa foi filmado na Tunísia, onde tinham acabado de gravar Star Wars: Uma Nova Esperança, de George Lucas, e Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, onde inclusive vieram a utilizar o resto de figurino e cenário do filme de Zeffirelli. A Vida de Brian contou ainda como principal financiador o beatle George Harrison, grande fã da companhia, que veio a investir 4 milhões de dólares na produção, o que veio a render um pequeno easter egg no final do filme, onde o cantor de Always Look on The Bright Side of Life fala bem baixo “Eu contei pra ele, eu disse ‘Bernie, eles nunca terão esse dinheiro de volta’”.
Por fim, o longa apresenta o humor no estilo mais primitivo, irônico, inusitado, ilógico, e algumas vezes até ingênuo, que possa imaginar. Simplesmente uma obra-prima do nonsense.
–
Texto de autoria de José Fontenele.
https://www.youtube.com/watch?v=Z6tzMvbbkzQ