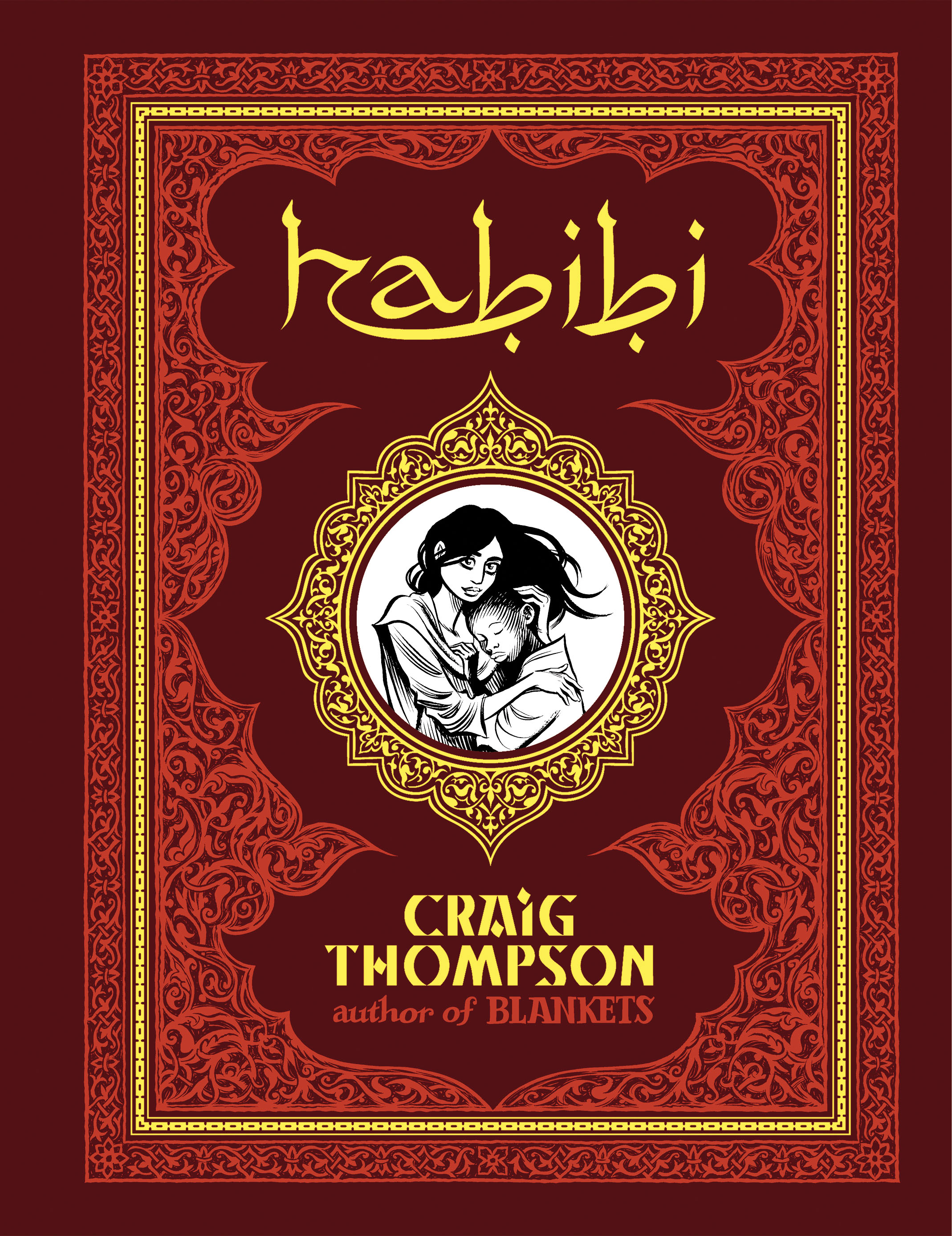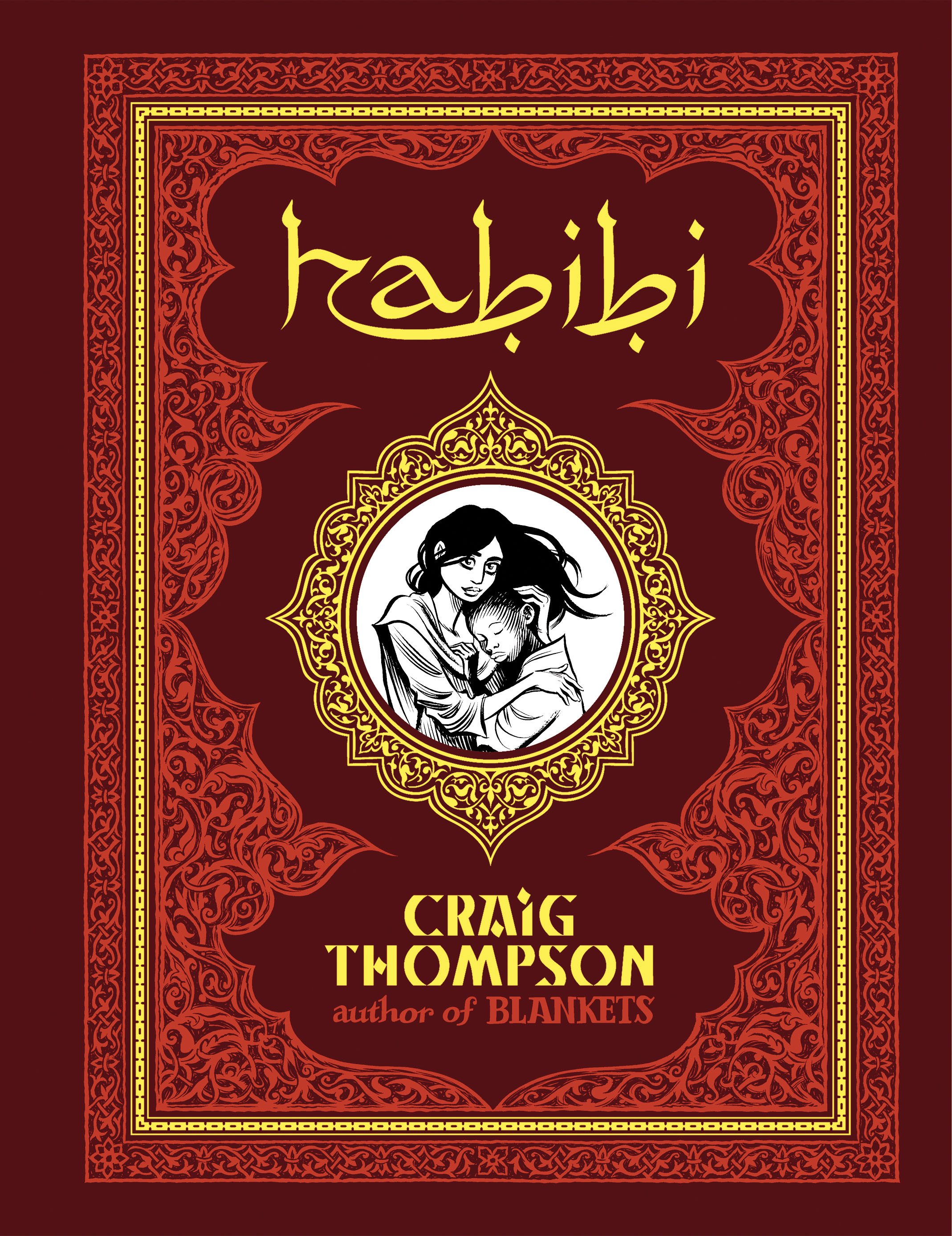Crítica | As Mil e Uma Noites: Volume 3, o Encantado
Sobre a primorosa edição de O Idiota, de Fyodor Dostoiévski, pela editora Wordsworth (numa homenagem direta pela instituição ao poeta inglês), a estudiosa literária Agnès Cardinal alega com graça e razão pontuais que o mestre russo, como todos os escritores da escola realista de ficção, esforçava-se para ancorar suas obras nos eventos significativos da vida contemporânea. Deve-se celebrar, por exemplo, esse tal esmero dos filmes do alemão Wim Wenders, talvez o agente mais ferrenho desta modernidade subversiva a habituar-nos a verdadeira “rede de transformações” que foi e nos apresentou o Cinema da segunda metade do século XX, reflexo do que acontecia do lado de cá das telas; dessa ótica subversiva extraída da realidade. No questionamento das possibilidades, planta-se a semente para a Hipótese Expressionista sentir-se solta, pulular e criar um universo aonde nesta nova zona dos sonhos – neste novo e inesgotável manancial de interpretações – irá se revirar, incubar, e na defesa do lugarejo onde podem conviver caos e paz, desabrochar enfim todas as suas expressões, tão cruéis à monocromia dos fatos jornalísticos.
Essa intervenção à realidade das coisas já passou pelo próprio Wenders, quando o mesmo injetou espiritualidade no mundano em Asas do Desejo, por John Cassavetes na obra-prima Noite de Estreia (deslocando os bastidores do teatro rumo ao próprio palco), e no caso d’As Mil e Uma Noites, a criação já foi feita e muito bem pavimentada no imaginário popular mundial; restou a Miguel Gomes recriá-la, desta vez em Portugal, não mais na Arábia – do século III, para o século XXI, d.C. O homem e sua câmera se apropriam, assim, da liberdade do volver, de um recurso anistórico para recriar e repintar apenas o que ainda importa hoje, ontem e sempre, numa manobra tão nostálgica quanto profética, e desprender suas raízes das areias do tempo, do espaço e da técnica. Se falta sobriedade, lhe sobra paixão.
O cineasta português conseguiu o que Terry Gilliam (Brazil, Os Doze Macacos) é incapaz de concretizar numa até então impossível versão de outro clássico da literatura, Dom Quixote de La Mancha: Recriar o recriado, sob o preço do que de caudatário pode haver numa grande liberdade de expressão irresistível, ao artista, apto a articular suas noções e versões e ebulições em prol do seu olhar; do nosso olhar, e acima de tudo, de um novo olhar. Esse é o esforço mais primário desta trilogia, e principalmente, deste terceiro volume, O Encantado: Estimular o olhar. E a troco do quê?
Pois bem: A trilogia inteira enquanto arco fechado de narração, aquém de sentido tal qual a ação do vento, do mar, é ficção maquiada, explicitamente artificial e mentirosa quando suas cores e movimentos explodem na tela. Nada, no começo, pede pelo sentido que não tem, deixando-se guiar por um diegético auto-suficiente de formação cinematográfica, longe do que sentimos ao lermos, por exemplo, a história do Mercador e o Gênio, talvez o mais divertido dos contos de Xerazáde; mãe de um surrealismo literário imbatível, típico de tão seu, e que no Cinema Gomes traduz ao público como anárquico tendo em O Encantado seu melhor desenlace enquanto experiência. Mas note, nesse fechamento de trilogia, como o elemento fantástico de um simples rito musical na praia, diferente dos outros dois filmes, acha espaço para não rivalizar com o fator mundano (já abordado nesta crítica) de um Wenders, de um Cassavetes, caso assim fossem colocados frente a frente com a normalidade de um real não-banalizado. Uma excitação do olhar, de certo, e a troco de novas possibilidades e releituras do passado.
Gomes, neste terceiro filme cheio de suas afetações e muito mais longo do que deveria ser, novamente, consegue entortar os braços do aceitável e do espetacular e fazer com que se abracem no equilíbrio entre extremos, enquanto o rei e sua contadora de histórias aparentemente entraram numa máquina do tempo e também se abraçam, sob efeito das sensações atemporais das histórias, numa roda-gigante à beira-mar. Pergunta: O(A) leitor(a) percebe a ambição de uma situação dessas? Percebe como a atmosfera intelectual e a encenação peculiar são imprescindíveis para dar credibilidade ao espectador no encaixe dantesco de um século dentro do outro, só para dar vazão a uma nova lógica (ou falta de lógica) artística? Para reverter os arranjos do filme, chega uma hora em que a ficção teatralizada dá adeus e as cores frias do mundo dos telejornais ganham a tela, cedo ou tarde. O cineasta, então, parece perder a esperança no brilho de suas noites – ou será que o mundo, quando viúvo das artes, abre-se para o profano e nada mais?
Apesar do êxito interpretativo conseguido, afinal, pela trilogia, é no último filme que, ao refletir sobre o que veio antes, sente-se (mais e mais) a falta de uma linha de raciocínio mais forte à suportar a elevadíssima carga de significados apresentados, a esmo, numa ebulição estética destituída da coerência fabulesca não imprescindível, mas que torna-se urgente a partir de certo ponto de O Encantado. Gomes merece aplausos, justiça seja feita, pela simples aproximação com belas obras feito Cemitério do Esplendor, de 2015, que carregam dimensões que dialogam como se, entre elas, o conflito e a estranheza só existissem quando invocados pela alma viva desses filmes. Um Cinema de alívio (onde a poesia como é habitual na carreira de Gomes pede licença à política), tanto o filipino quanto o português, incorporados em nacionalidade e nas suas triunfantes identidades particulares, sentidas em cada plano e emponderadas na discrição de um cosmos atemporal e quase paralelo ao denominado “real”. Uma viagem realisticamente mitológica durante Mil e Uma Noites contemporâneas de frescor exagerado, sim, mas instigantes como poucas, pelo menos no Cinema recente.